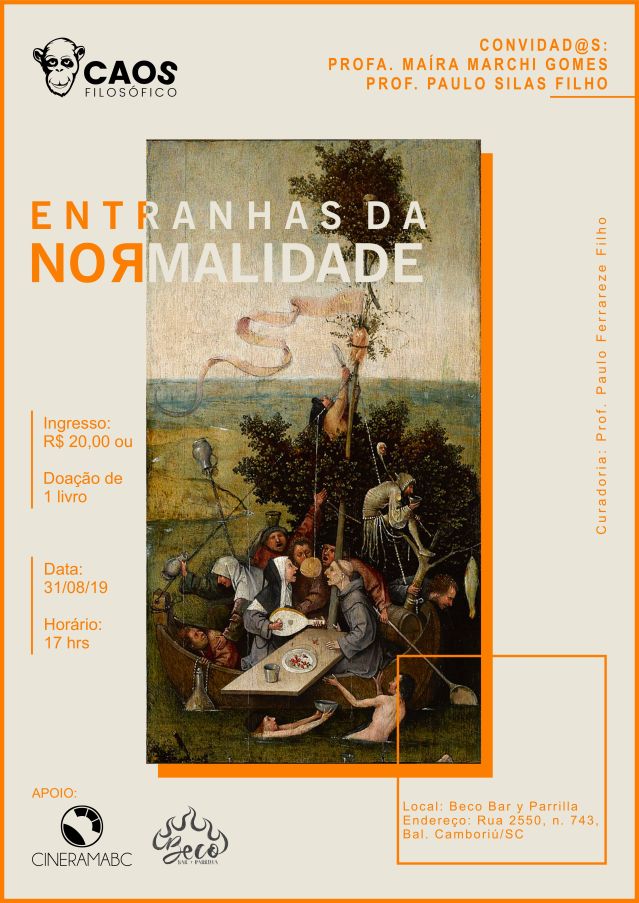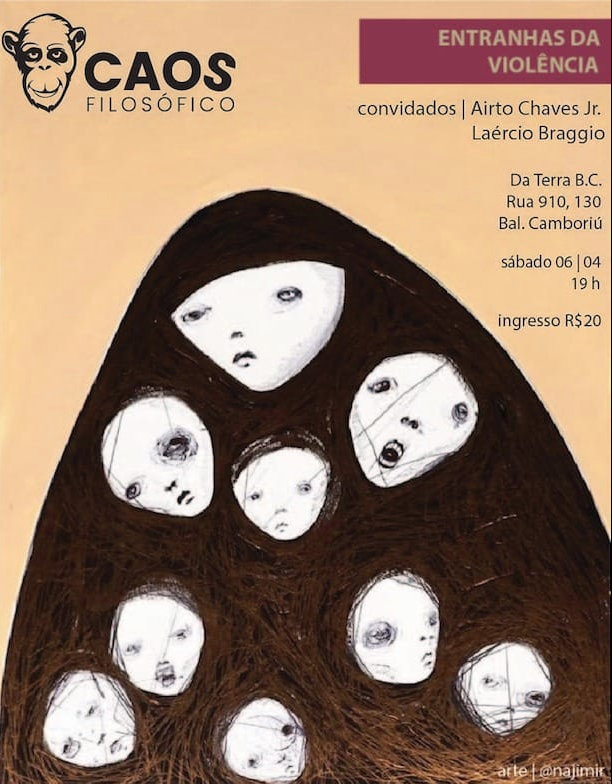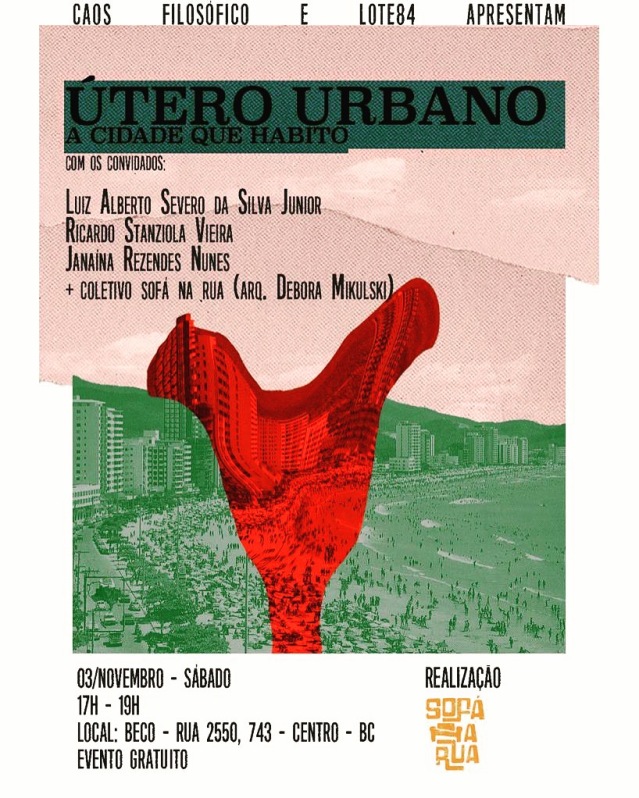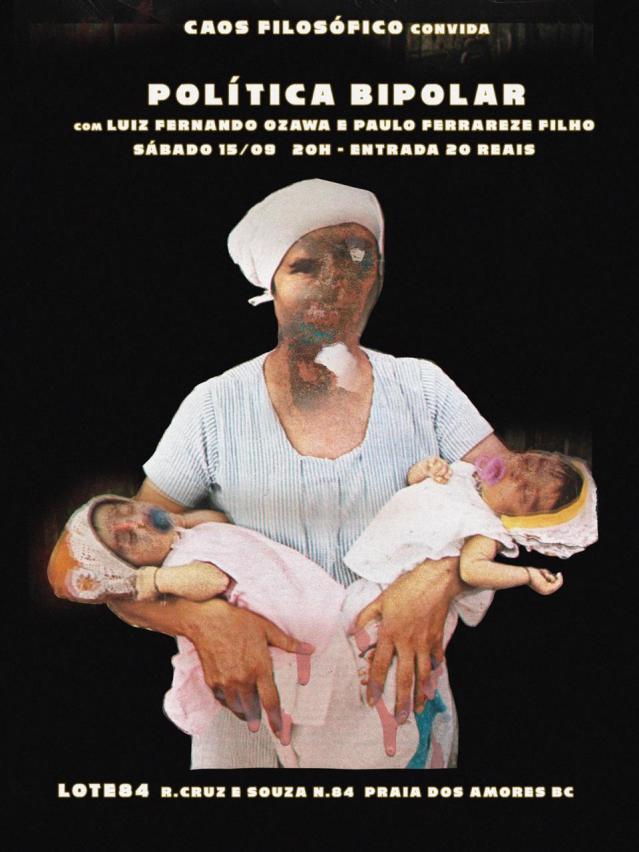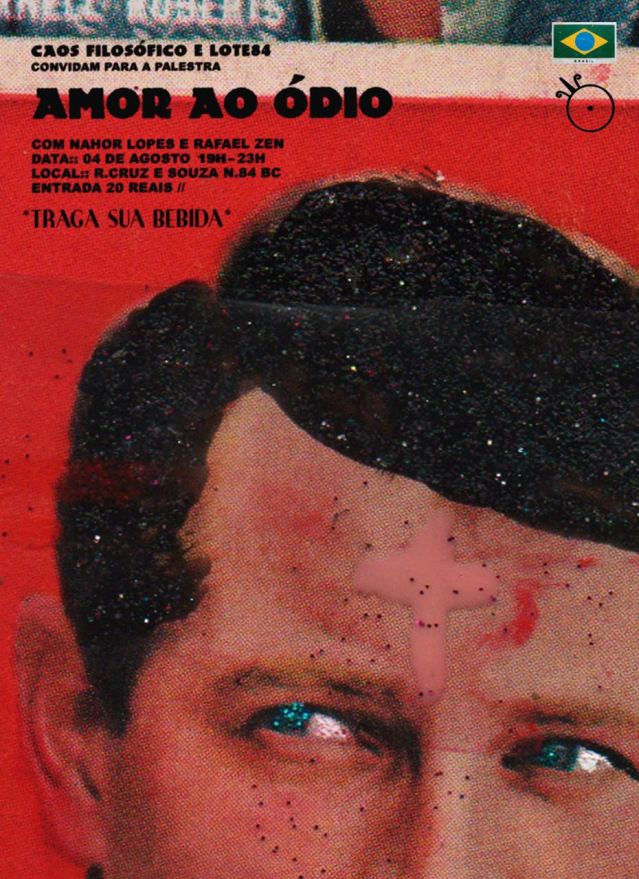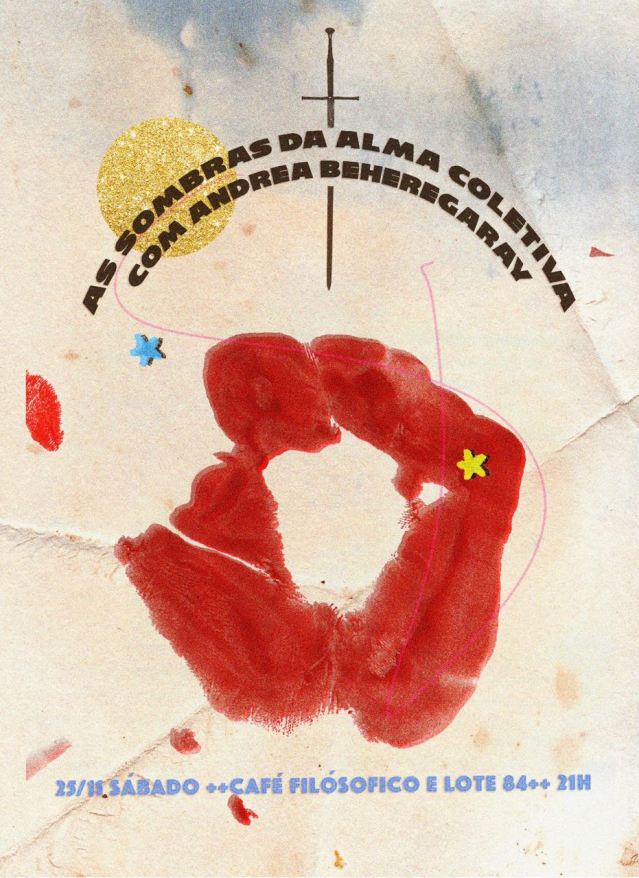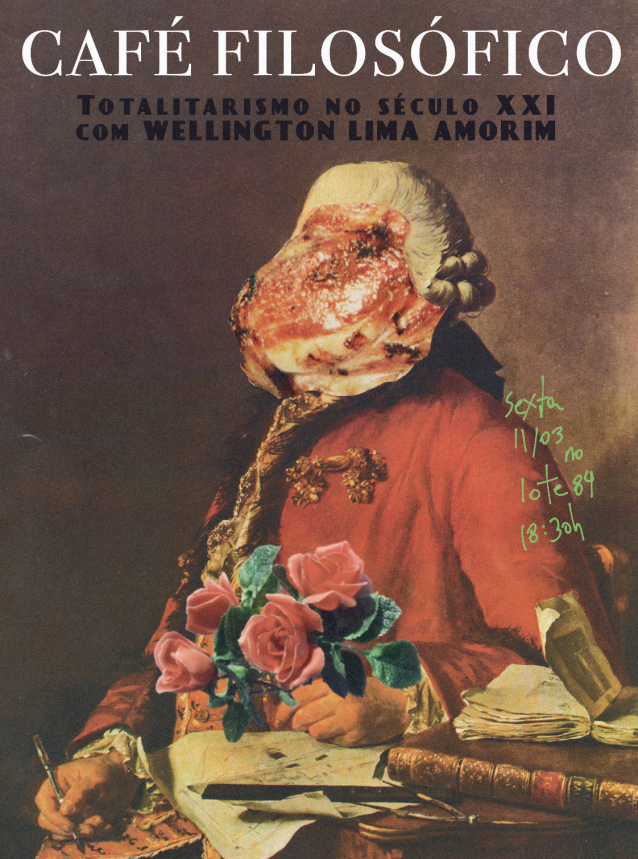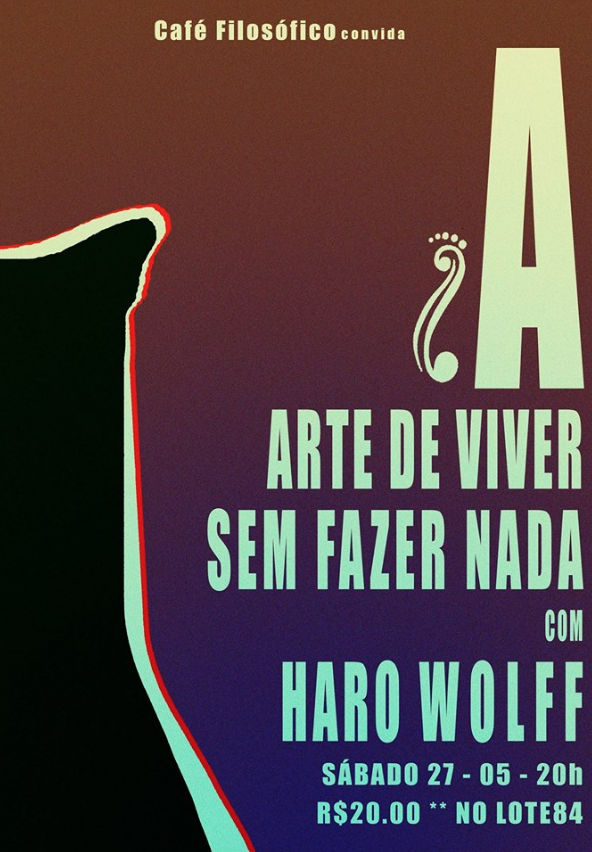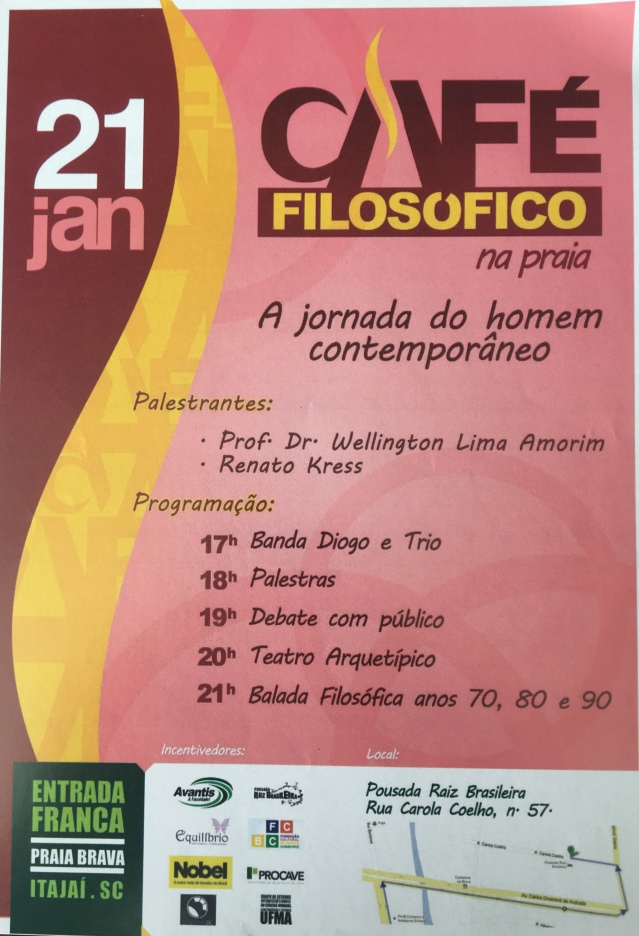por Rômulo Moreira

“Por que a Bahia é um lugar diferente, uma espécie de África dentro do Brasil, onde os negros parecem mais dotados de altivez e, ao mesmo tempo, as mazelas sociais dão ao visitante a impressão de estarem menos escondidas?”[1]
O título dessa resenha é o mesmo do livro escrito pelo jornalista Fernando Granato, que procura comprovar, entender e explicar o fato que na Bahia (ao contrário de outros estados, como o Rio de Janeiro e de São Paulo, lugares onde a população escravizada era também numerosa) “salta aos olhos a grande quantidade de revoltas e rebeliões praticadas pela população escrava e pela plebe livre que marcaram a vida de seus habitantes.” A Bahia, segundo comprovam as suas pesquisas, foi, efetivamente, “palco das maiores rebeliões e revoltas de escravos do século XIX.”
Ao iniciar as suas pesquisas, Granato deparou-se “com dois personagens com histórias pessoais que se entrelaçam a esses episódios: Luiz Gama, notório abolicionista que se destacaria no fim do século XIX, e sua mãe, Luíza Mahin, figura mítica e pouquíssimo estudada devido à ausência de documentos oficiais que atestem sua trajetória.”
A partir de um documento raríssimo – uma carta autobiográfica escrita por Luiz Gama já no final de sua vida -, o autor passa, “como que guiado por ela, a fazer uma narrativa cronológica dos acontecimentos que abalaram a Bahia e o Brasil no século XIX, e que foram primordiais para a confecção da própria identidade brasileira, jogando luz sobre um passado indispensável à compreensão de nosso presente, buscando apresentar ao leitor não apenas os fatos, mas também toda a ambientação em que aconteceram, os cheiros, as cores, os sabores dos locais em que se desenrolaram os episódios.”
Logo no início de sua obra, Granato, objetivamente, faz uma cronologia sobres os principais fatos que marcaram a história da escravização negra no Brasil, as revoltas dos cativos e seus desdobramentos, desde o ano de 1550, quando se iniciou o primeiro ciclo de importação de escravos africanos para a Bahia, até 1889, com a recém-instalada República e a criminalização da vadiagem, com vista a incriminar negros desocupados.
Na primeira parte do livro, o autor afirma que “a Bahia, primeira capital do Brasil e fundada em 1549, foi feita com sangue negro, e até 1763 funcionou como o coração de um país que servia para atender o modelo colonial de exploração das suas riquezas naturais a fim de satisfazer a demanda da coroa, em Portugal.”
A Bahia, segundo relatos de viajantes estrangeiros que aqui passaram no século XIX, muitas vezes “recheados dos preconceitos inerentes ao colonizador europeu e mesmo ao norte-americano que aqui chegava, era superpovoada, suja, quente, com ruas estreitas e uma infinidade de becos que sobem e descem, mal iluminada por lampiões movidos a azeite de baleia que frequentemente apagavam, causando escuridão nas noites sem lua.”[2]
Na segunda parte do livro, analisa-se, especificamente, os três ciclos do tráfico de negros africanos para o Brasil que, antes mesmo, já era praticado entre a África e Portugal: o ciclo da Guiné, o de Angola e o do Benin.[3]
O primeiro – funcionando quase de maneira experimental – foi o menor deles, “situando-se em torno de 1550, na fase em que o Brasil deixou de exportar escravos índios para importar negros, estimando-se que já em 1558 houvesse na Bahia cerca de 3 mil africanos, segundo estimativa do jesuíta José de Anchieta.”
O segundo ciclo, o angolano, iniciou-se no século XVII, cem anos depois do primeiro, especialmente em razão de uma questão, digamos assim, logística: a viagem de Angola para o Brasil era menor, durando aproximadamente quarenta dias, enquanto a primeira levava sessenta dias. Neste ciclo, “os bantos, etnia dos negros de Angola, foram os primeiros importados em grande escala para a Bahia, e viraram por um tempo a cara da Bahia, a ponto de em 1750 metade da população da capital baiana ser composta desses escravos.”
O terceiro ciclo – o maior de todos – deu-se entre a Bahia e o Benin, nos séculos XVIII e XIX; segundo o autor, nesta época, uma pessoa escravizada “valia de oito a dez rolos de fumo.” Este terceiro ciclo, de tão intenso, “fez com que a Bahia ficasse superpovoada de escravos do Benin, embarcados no local onde hoje se situa a cidade de Ajudá, no litoral da atual República do Benin, onde existe uma comunidade de descendentes de cativos que nasceram ou estiveram no Brasil, que mantêm tradições brasileiras mesmo sem nunca ter pisado no país, festejando o Carnaval e comemorando o dia de Nosso Senhor do Bonfim; e, o mais curioso, usam o nome ´Bahia` para designar, de um modo geral, todos os lugares situados fora da África.[4]
De origem nagô, muitos desses africanos vindos do Benin eram mulçumanos e “alguns sabiam ler e escrever em árabe, chamados por isso de ´os filhos de Alá na Bahia`, reconhecidos por portarem amuletos islâmicos, como saquinhos de couro que continham extratos do Corão, o livro sagrado do Islã, além de costumarem usar também anéis de ferro em vários dedos e repudiar a carne de porco, alimentando-se com a de carneiro.” Os nagôs, ao contrário dos angolanos, “formaram um grande núcleo negro de reação, modificando o ambiente social da Bahia.”[5]
Com a chegada dos africanos nagôs, “somada à crise econômica e social da Bahia, ao aumento do trabalho e a piora nas condições de vida para os escravos, o século XIX foi marcado por revoltas, tanto urbanas como em áreas rurais da província.”
Ainda na segunda parte do livro, o autor aborda a Revolta dos Malês, em 1835, “programada meticulosamente, com muita antecedência, para acontecer no amanhecer do domingo, 25 de janeiro, Dia de Nossa Senhora da Guia, data em que a cidade de Salvador estaria em festa e, portanto, os escravos ficariam mais livres da vigilância de seus senhores, e coincidia também com o fim do Ramadã, o mês sagrado dos mulçumanos praticantes do islã, como eram os africanos malês.”
A Revolta dos Malês, em virtude de uma delação, foi precipitada para o início da madrugada do próprio domingo, surpreendendo os seus líderes, o que facilitou a repressão das forças policiais e decretou o fracasso do levante dos revoltosos, que não conseguiram, como era o objetivo, libertar da cadeia pública da cidade uma importante liderança dos malês, Pacífico Licutan.
Antes de serem derrotados, no entanto, os malês lutaram bravamente contra as forças do governo da província da Bahia, travando batalhas na Praça Tomé de Souza (ao lado do Elevador Lacerda), na Praça Castro Alves, no Mosteiro de São Bento, no Convento das Mercês, no Largo da Lapa, no Terreiro de Jesus, no Largo do Pelourinho, na Baixa do Sapateiro, entre outros locais, até que, na localidade de Água de Meninos (na área portuária de Salvador), quando os insurgentes, cientes da derrota, tentavam fugir para o recôncavo, ocorreu a última e a mais sangrenta batalha.
Segundo Granato, “foi o momento mais dramático de toda a insurreição. Alguns africanos, feridos, conseguiram correr e se esconder no mato. Outros tentaram fugir a nado e acabaram se afogando no mar, sendo fuzilados dentro d’água aqueles que não haviam se afogado.”
A Revolta dos Malês foi, nas palavras do autor, “o maior levante de escravos do Brasil, dando início a uma perseguição implacável aos africanos.” Alguns dos escravizados capturados foram condenados à pena de morte, outros à pena de prisão, vários à pena de açoites (como Pacífico Licutan, condenado a mil açoites) e muitos, especialmente os negros libertos, ao banimento.[6]
Também nessa parte do livro, o autor faz referência à Irmandade da Boa Morte, criada e até hoje existente na cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, “instituição de mulheres negras cujo embrião se deu na Igreja da Barroquinha, na cidade de Salvador e, muito provavelmente, deslocou-se de lá em função da forte repressão aos africanos estabelecida depois da Revolta dos Malês.” A Irmandade da Boa Morte, “conhecida como uma das primeiras instituições representantes do feminismo negro no Brasil, firmou-se desde o início como força de resistência ao escravismo, servindo, desde seus primórdios, como apoio aos injustiçados, fornecendo empréstimos para obtenção de alforrias, além de providenciar funerais dignos à sua gente, daí o nome ´boa morte`.”[7]
Faz-se referência, outrossim, à “Cemiterada”, um levante dos negros motivado pela promulgação de uma lei que “estabelecia o fim dos enterros na área das igrejas e concedia a uma companhia privada o monopólio de todos os sepultamentos realizados na cidade, pelo prazo de trinta anos”, fato que desagradou, além da Igreja (que lucrava com a tradição dos sepultamentos nos templos), as irmandades religiosas que abrigavam, em sua maioria, negros libertos. Com a insurreição, o presidente da província recuou e adiou o início da vigência da nova lei, mas já era tarde: “a multidão, que naquele momento já contava com cerca de 1.400 pessoas, dirigiu-se ao escritório da companhia funerária que teria o monopólio dos enterros e apedrejou as suas instalações, e depois caminhou até o novo cemitério (o do Campo Santo), destruindo e ateando fogo nas suas instalações.”
A terceira parte da obra estuda a Sabinada, movimento ocorrido em 1837, cujo nome deriva do seu líder, Francisco Sabino Vieira; foi um levante separatista que lutou pela independência da Bahia, semelhante ao que ocorreu no Pará, com a Cabanagem, e no Rio Grande do Sul, com a Revolução Farroupilha. A Sabinada, apesar da presença de negros, libertos e escravizados, não “se enquadra no ciclo das rebeliões africanas verificadas na Bahia no século XIX, que se findou com a Revolta dos Malês.”[8]
Também nessa parte do livro, e a partir da carta de Luiz Gama, mostra-se como ocorreu a ocupação da população negra no Rio de Janeiro, muitos saindo da Bahia para fugir da repressão das forças da província; também se refere o capítulo ao surto de febre amarela que assolou a Bahia naqueles tempos, o que serviu de pretexto para aumentar, “em proporções estratosféricas, o preconceito com os negros africanos, pois a população culpava os navios negreiros pela disseminação da doença”, quando, na verdade, o vírus (que se propaga por meio da picada de mosquitos) havia chegado a bordo de um navio procedente de Nova Orleans, depois de uma escala em Havana, e que aportou em Salvador no dia 3 de setembro de 1849.
Na quarta e última parte do livro, o autor trata dos últimos desembarques de navios negreiros no Brasil, que “continuaram a ancorar em território baiano, até mesmo depois da lei de setembro de 1850, que pretendia definitivamente extinguir o tráfico de escravos”; do surto de cólera, em 1855, que também aumentou a perseguição aos negros, acusados de serem eles a causa de mais uma epidemia; da greve de 1857, uma “rebelião pacífica, mas que transformaria a vida de uma população acostumada a depender do trabalho escravo”; do motim de 1858, contra “a carestia dos alimentos básicos, principalmente a farinha de mandioca e a carne fresca”; da Guerra do Paraguai, “um conflito internacional que mudou em grande parte a vida dos negros baianos”; da Lei do Ventre Livre, de 1871, que “concedia alforria a todas as crianças nascidas de mulheres escravizadas no país”; e do Quilombo do Jabaquara, em Santos, “erguido sob a supervisão dos abolicionistas, custeado por eles e tendo como chefe o negro Quintino de Lacerda, chegando a abrigar mais de 10 mil cativos nos oito anos em que existiu, perdendo em tamanho apenas para o célebre Quilombo dos Palmares, que reuniu mais de 20 mil negros na então capitania de Pernambuco, no século XVII.”
Também nesse derradeiro capítulo, o autor refere-se a Luiz Gama, um autodidata que, “com o conhecimento jurídico adquirido nos livros, e uma verve de fazer inveja, foi conseguindo, pouco a pouco, fazer valer a legislação para obter as liberdades de muitos cativos que chegaram ao país depois da vigência dessas leis.” Luiz Gama – que não teve tempo de ver a abolição formal da escravatura, que aconteceu seis anos depois de sua morte – “tornou-se um dos nomes mais populares da cidade de São Paulo naquela época, tanto pela atividade jurídica como pela colaboração frequente em jornais.” Ele foi, sem dúvidas, um dos brasileiros mais notáveis de todos os tempos.
Eis uma síntese apertada de uma obra que deve ser lida para que, a partir das lutas do passado, possamos olhar o presente e o futuro com resiliência e altivez, “saindo de nossas fronteiras e se projetando no passado em busca de nossas raízes mais profundas, utilizando o passado de um modo vivo, dinâmico e útil, e não de um modo estático e tolo, semelhante ao do turista inculto que ´coleciona` visitas a museus e entradas de cinemas estrangeiros; o estudo histórico da realidade jurídica não é só lícito, como também necessário.”[9]
Sem dúvidas, “o grande desafio que a sociedade civil encontra à sua frente nestes primeiros anos do século XXI é o de repudiar com força todas as formas de controle baseadas nesta ´vocação totalitária do Estado`.” Para isso, é preciso traçar um novo percurso, “longo e não menos fácil, na tentativa de desmantelar discursos e práticas comuns no cotidiano das relações entre os súditos que ainda tentam se tornar cidadãos e o Soberano Estado, que sempre teima, com as suas tendências totalitárias, em exercer, mesmo que esteja limitado, o seu poder absoluto sobre todos.”[10]
Definitivamente, “não sabemos para onde estamos indo. Só sabemos que a história nos trouxe até este ponto e por quê. Contudo, uma coisa é clara. Se a humanidade quer ter um futuro reconhecível, não pode ser pelo prolongamento do passado ou do presente. Se tentarmos construir o terceiro milênio nessa base, vamos fracassar. E o preço do fracasso, ou seja, a alternativa para uma mudança da sociedade, é a escuridão.”[11]
RÔMULO MOREIRA é procurador de justiça na Bahia e professor de Direito Processual Penal na UNIFACS
[1] GRANATO, Fernando. “Bahia de Todos os Negros – As rebeliões escravas do século XIX.” Rio de Janeiro: História Real, 2021.
[2] Em um soneto escrito em meados do século XVII, o baiano Gregório de Matos escreveu: “Triste Bahia! Oh quão dessemelhante / Estás, e estou do nosso antigo estado! / Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, / Rica te vejo eu já, tu a mi abundante. / A ti tocou-te a máquina mercante, / Que em tua larga barra tem entrado, / A mim foi-me trocando, e tem trocado / Tanto negócio, e tanto negociante.” (Antologia. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 103). Essas duas primeiras estrofes do soneto foram musicadas e popularizadas por Caetano Veloso, no LP Transa, lado 1, faixa 3, de 1972.
[3] Segundo Laurentino Gomes, é de 1444 o registro do primeiro leilão de africanos escravizados em Portugal, diante do infante dom Henrique na vila de Lagos, Algarve: “ao amanhecer de oito de agosto de 1944, os moradores de Lagos, então um pequeno vilarejo murado na região do Algarve, sul de Portugal, foram despertados pela notícia de um acontecimento extraordinário: dos porões de meia dúzia de caravelas começou a sair uma carga inusitada, 235 homens, mulheres e crianças, todos escravos que ali seriam arrematados em leilão.” (Escravidão, Volume I – Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019, p. 51).
[4] Em Salvador, inclusive, existe um espaço chamado Casa do Benin, inaugurado em 1988, situado em um casarão na Rua Padre Agostinho Gomes, no Pelourinho, que representa um pedaço da África. O espaço possui um importante acervo artístico e cultural afro-brasileiro e é mantido pela Fundação Gregório de Mattos. A Casa tem um acervo composto por cerca de 200 peças originárias do Golfo do Benin, colecionadas pelo fotógrafo francês Pierre Verger ao longo de suas viagens realizadas à África. Também possui peças relacionadas à cultura afrodiaspórica. Outro fato interessante é que tecidos coloridos estão pendurados dando ainda mais vida ao local, obra da artista plástica e designer Goya Lopes, uma das pioneiras a trabalhar de maneira criativa com a moda afro-brasileira. No casarão encontra-se também o Museu Pierre Verger, onde estão expostas as peças do acervo permanente com obras beninenses; a Sala de Exposição Lina Bo Bardi, que recebe mostras temporárias; e o Auditório Gilberto Gil, local de realização de eventos e oficinas de pequeno porte voltados para a comunidade. No pátio, existe o Espaço Gourmet Jeje Nagô, com arquitetura inspirada no estilo de restaurantes antigos das comunidades rurais beninenses. Além disso, a Casa do Benin realiza, promove, divulga e apoia, através das exposições, os artistas baianos que têm como inspiração a arte de matriz africana, contribuindo de maneira significativa com o reconhecimento e valorização dessa arte, além de incentivar os artistas que nela investem e se inspiram. Disponível em: https://www.salvadordabahia.com/experiencias/casa-do-benin/. Acesso em 10 de janeiro de 2022.
[5] Segundo Luiz Viana Filho, citado na obra, “a Costa Mina não nos mandara apenas negros escravos, mas com eles exportaram uma fé.” (O Negro na Bahia. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1946).
[6] A cerimônia de execução lembrava em muito as execuções do Santo Ofício, na Inquisição, durante quase toda a Idade Média: “algemados, os condenados rumaram pelas ruas num cortejo silencioso. No local destinado ao sacrifício, forcas novas, feitas especialmente para o punição daqueles rebeldes, não puderam ser usadas porque não houve candidato ao cargo de carrasco. Sendo assim, por determinação do presidente da província, eles foram fuzilados e em seguida sepultados numa cova coletiva.” (p. 97).
[7] Todos os anos, sempre no mês de agosto, e durante três dias, na cidade de Cachoeira, há homenagens à Nossa Senhora da Boa Morte prestadas pela Irmandade e pelo povo da cidade. Disponível em https://www.geledes.org.br/irmandade-da-boa-morte-2/. Acesso em 11 de janeiro de 2021.
[8] Faz-se, ainda, uma pequena referência à “Insurreição Esquecida”, movimento liderado por escravos hausás, tapas e nagôs, que também fracassou em razão de uma delação.
[9] PINHO, Ruy Rebello. História do Direito Penal Brasileiro – Período Colonial. São Paulo: José Bushatsky, 1973, pp. 11-12.
[10] DAL RI JÚNIOR, Arno. O Estado e seus Inimigos – A repressão política na história do Direito Penal. Rio de Janeiro: REVAN, 2006, p. 362.
[11] HOBSBAWM Eric. Era dos Extremos – O breve século XX – 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 562.
Categorias:ARTIGOS