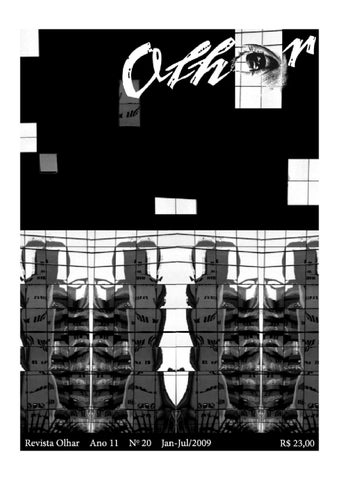Dados Internacionais de Catalogação na Fonte (CIP) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) Olhar/Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos. Ano 11. Número 20 (Jan-Jul/2009). São Carlos: UFSCar, 2009. Semestral ISSN 1517-0845 1. Humanidades - Periódicos. 2. Artes - Periódicos. I. Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas. CDU 168.522 (05)
ANO 11 - NÚMERO 20 – JAN-JUL/2009 CECH - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
Revista Olhar Ano 11 - Número 20 - Jan-Jul/2009
Publicação do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Administração Superior Prof. Dr. Targino de Araújo Filho Reitor Prof. Dr. Pedro Manoel Galetti Junior Vice-Reitor Profa. Dra. Wanda Hoffmann Diretora do CECH Prof. Dr. Eduardo Baioni Vice-Diretor do CECH Coordenação Editorial Editores Bento Prado Jr. (in memoriam) Josette Monzani CONSELHO EDITORIAL: Conselho Executivo Antônio Zuim – DEd (UFSCar) Cibele Rizek – EESC (USP) Fernão Ramos – Multimeios (Unicamp) João Roberto Martins Filho – DCSo (UFSCar) Júlio César Coelho De Rose – Departamento de Psicologia (UFSCar) Luiz R. Monzani – Filosofia (Unicamp) Manoel Dias Martins (UNESP – Araraquara) Maria Ribeiro do Valle (UNESP – Araraquara) Marina Cardoso – DA (UFSCar) Nádea R. Gaspar – DCI (UFSCar) Richard Simanke – DFMC (UFSCar) Samuel Paiva – DAC (UFSCar) Sidney Barbosa (UNESP – Araraquara) Tânia Pellegrini – DL (UFSCar) Wolfgang Leo Maar – DFMC (UFSCar) Marcius Freire – Multimeios (Unicamp) Conselho Consultivo Alexandre Figuerôa (UC – PE) Arley Moreno (Unicamp) Arlindo Machado (PUC/USP) Arthur Autran – DAC (UFSCar) Benedito Nunes (UFPa) Bóris Schnaiderman (USP) Bruno Pucci (UNIMEP) Carlos Alberto Ribeiro de Moura (USP) Cecília Almeida Salles (PUC) Celso Castro (CPDOC/FGV) Débora M. Pinto (UFSCar)
Diléa Z. Manfio (UNESP – Assis) Eliane Robert Moraes (PUC/SENAC) Fernando da Rocha Peres (UFBa) Flávia Seligman (UNISINOS – RS) Flavio Loureiro Chaves (UFRS) Franklin Leopoldo e Silva (USP) Gilmar de Carvalho (UFC) Haroldo de Campos (in memoriam) Irene Machado (USP) Isabel Limongi Batista (UFPR) Isabel Machado (jornalista) Ismail Xavier (USP) Jerusa Pires Ferreira (USP/PUC) João Carlos Salles (UFBa) Jorge de Almeida (USP) José Euclimar X. de Menezes (UC – BA) José Leon Crochik (USP) Lucíola Paixão Santos (UFMG) Luiz Cláudio da Costa (UFRJ) Luís Cláudio Figueiredo (PUC) Luís Roncari (USP) Manoel Carlos Mendonça Filho (UFSE) Marcos S. Nobre (Unicamp/Cebrap) Maria Aracy Lopes da Silva (in memoriam) Maria das Graças de Souza (USP) Maria de Lourdes Siqueira (UFBa) Maria Irma Adler (Unicamp) Maria Helena Pires Martins (USP) Maria Lúcia Cacciola (USP) Maria Magdalena Cunha Mendonça Maria Sílvia Carvalho Franco (USP/ Unicamp) Marilena S. Chauí (USP) Mauro Pommer (UFSC) Mercedes Cunha Mendonça (USP/ Faculdade de São Bento – Salvador) Nara Maria Guazelli Bernardes (PUC – RS) Newton Bignotto (UFMG) Newton Ramos de Oliveira (UNESP) Oswaldo Giacóia Jr. (Unicamp) Oswaldo Truzzi (UFSCar) Paulo Micelli (Unicamp) Renato Mezan (PUC/Sedes) Renato Franco (UNESP – Franca) Roaleno Ribeiro Amâncio Costa (Fac. de Belas-Artes – Salvador) Roberto Romano (Unicamp) Rodrigo Naves (Cebrap) Rubens Machado (USP) Saulo de Freitas (UFJF) Suzana R. Miranda (UAM) Urânia Tourinho Peres (SPsiBa) Zélia Amador de Deus (UFPa)
Consultores Internacionais Sônia Stella Araújo Oliveira (Universidad Autônoma del Estado de Morelos – Cuernavaca/México) José Serralheiro (Página da Educação – Portugal) Vania Schittenhelm (pesquisadora – Londres) Jorge Mészáros (Sociologia – Inglaterra) Esther Jean Marteson (Londres) Catherine L. Benamou (University of Michigan – USA) Assessores Massao Hayashi Mark Julian Cass Ana Paula dos Santos
Equipe Técnica Redator-Assistente: Fabrício Mazocco (MTb:29.602) 3URMHWR *Ui¿FR Vítor Massola Gonzales Lopes Editoração e Arte Final: Vítor Massola Gonzales Lopes. Impressão: Depto. de Produção Gráfica – UFSCar
Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es). Permitida a re- produção parcial ou integral dos textos, desde que mencionada a fonte.
Permuta e solicitação de assinaturas: CECH/UFSCar – Universidade Federal de São Carlos
EDITORIAL EDITORIAL Inicialmente, queremos agradecer ao Prof. Wilson Alves Bezerra (do Depto de Letras da UFSCar) pela organização do rico dossiê sobre o escritor Horacio Quiroga. Tem-se aqui uma excelente oportunidade de travar contato com a obra quiroguiana, através da análise dos seus contos e fazer criativo e da relação íntima com o cinema e seu modo de ser cultivada pelo escritor. Essas leituras trazem o ‘espírito’ de Quiroga aos nossos olhos tal qual um espectro imortal, bem ao gosto do escritor, e foram realizadas pelo próprio Alves Bezerra, estudioso e tradutor de Quiroga para o português, e de duas orientandas suas (Karina Brazorotto e Amanda Luzia da Silva), além dos convidados uruguaios – Pablo Rocca e Guillermo Guiucci – e da Argentina, Laura Utrera. A aproximação literatura/cinema mantém-se nesse volume nos artigos de Lauro Zavala, Edson Cruz e José Eduardo Bozicanim; três diversos modos de pensar essa relação típica do mundo moderno. Em seguida, passa-se a algumas das preocupações do mundo contemporâneo: a ilusão da identidade, a aplicação de práticas culturais populares à Educação e a música de Itamar Assunção, bem distintas entre si, mas, por isso mesmo, corroboradoras da diversidade das áreas de pesquisa sempre contempladas pela revista Olhar. Trata-se, respectivamente, dos artigos dos Profs. André Martins, Simone Nogueira e Petronilha Gonçalves e Silva, e Armando Sérgio dos Prazeres. E, finalmente, chega-se às resenhas literárias (de KahlmeyerMertens; Patrizio dos Santos; Araújo e Monzani), aos poemas e contos (de Marcelo Vargas; Irene de Castañeda e Adalberto Tripicchio); ou melhor, retorna-se ao ponto de início: a Narrativa. Dos reflexos de cada segmento nos demais se espera que surja movimento – justaposições, sobreposições, vida: não só da vida como ela é, mas também, parafraseando R. Barthes, na função do discurso: conceber o inconcebível, isto é, nada deixar de fora da palavra. Bento Prado Jr. (in memoriam) Josette Monzani Editores Capa: fotografia de Eduardo Barros de Almeida (Barrox). Uma homenagem ao seu talento e liberdade (in memoriam).
Sumário DOSSIÊ QUIROGA (RE)LEITURAS DE HORACIO QUIROGA Wilson Alves-Bezerra
10
LAS CENIZAS DE HORACIO QUIROGA Guillermo Giucci
12
UNA CLAVE DEL NARRADOR, EL PERIODISTA Pablo Rocca
21
DE LAS NOTAS Y LOS RELATOS SOBRE CINE DE HORACIO QUIROGA. APUNTES SOBRE SU ARTICULACIÓN Laura Lorena Utrera
31
UM “PERFEITO CONTISTA”: TEORIA OU FICÇÃO? OS TRUQUES DE HORACIO QUIROGA Karina Magno Brazorotto
50
RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE UMA RELEITURA DOS CONTOS “LAS MOSCAS – RÉPLICA DEL HOMBRE MUERTO” E “EL HOMBRE MUERTO” DE HORACIO QUIROGA 55 Amanda Luzia da Silva DA TRADUÇÃO COMO CRIAÇÃO E COMO CRÍTICA: RUMO À CARACTERIZAÇÃO DE UM QUIROGA BRASILEIRO Wilson Alves-Bezerra
64
ANEXOS DECÁLOGO DO PERFEITO CONTISTA (1927) Horacio Quiroga
74
À DERIVA (1912) Horacio Quiroga
76
LIVROS DE HORACIO QUIROGA PUBLICADOS NO BRASIL
79
CRONOLOGIA DE HORACIO QUIROGA
79
ARTE, FILOSOFIA E EDUCAÇÃO PARA UNA SEMIÓTICA DEL TRAILER Lauro Zavala
84
O TEMPO DE MARCEL PROUST E O CINEMA Edson Cruz
92
AS IMAGENS CRISTAIS DE SÃO BERNARDO, DE LEON HIRSZMAN José Eduardo Bozicanin
99
ITAMAR ASSUMPÇÃO – POR QUE NÃO PENSARAM NELE ANTES?! Armando Prazeres AS ILUSÕES DA IDENTIDADE – RELIGIÕES E TECNOLOGIAS MÉDICAS: SOLUÇÕES MÁGICAS CONTEMPORÂNEAS. UMA ANÁLISE A PARTIR DE SPINOZA, NIETZSCHE E WINNICOTT André Martins CICLO DE PRÁTICAS CULTURAIS POPULARES E EDUCAÇÃO Simone Gibran Nogueira e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva POEMAS E CONTOS ZARATUSTRA E NIETZSCHE Marcelo Vargas
108
114 130
142
LIÇÃO DE POESIA Irene Zanette de Castañeda
143
VELUDO Adalberto Tripicchio
146
A CARTA Adalberto Tripicchio
153
ARTE MODERNA Adalberto Tripicchio
162
UM FATO DIFÍCIL DE ESQUECER Adalberto Tripicchio
173
RESENHAS A CAMINHO DA LINGUAGEM Roberto S. Kahlmeyer-Mertens
180
HEIDEGGER Roberto S. Kahlmeyer-Mertens
183
LE CORPS Márcia Patrizio dos Santos
186
MARVADAS – DULCINÉIA E SEBASTIÃO NICOMEDES CA(N)TANDO BELEZA DAS RUAS Mauro Luciano de Araújo e Josette Monzani
189
DOSSIÊ QUIROGA
(Re)leituras de
HORACIO QUIROGA WILSON ALVES-BEZERRA*
O
grande contista uruguaio, Horacio Quiroga (1878-1937) completou 130 anos de seu nascimento no último dia do ano de 2008. Autor ainda pouco conhecido no Brasil, talvez por sua obra ser anterior ao grande boom editorial da literatura latino-americana. O boom, sabe-se, ocorreu ao longo anos 60 na América Latina, conferindo fama internacional a autores de peso como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, José Donoso, Juan Carlos Onetti, entre outros; e ainda beneficiou autores de gerações anteriores, como Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy-Casares, cuja verve criativa estava ainda longe de se esgotar. Entretanto, a obra de Quiroga, referência fundamental para autores como Cortázar e Onetti, passou despercebida ao boom, embora nos países hispânicos, Quiroga tenha sido continuamente editado até os dias atuais. Assim, passados tantos anos, aqui em terras brasileiras, em grande medida, Horacio Quiroga é ainda um autor a ser descoberto e, portanto, a ser lido pela primeira vez. Já no âmbito da crítica, que o vem lendo de modo diverso desde os anos 20, trata-se necessariamente de releituras, posto que os pressupostos da crítica jamais poderiam ser os mesmos. É nesta confluência entre um autor desconhecido do grande público brasileiro e bastante lido pela crítica que se organiza o dossiê que a Revista Olhar decidiu publicar neste número, com sete artigos de críticos que se dedicam à obra de Horacio Quiroga. Três deles são de jovens graduandos de iniciação científica da UFSCar, que submetem sua reflexão à publicação pela primeira vez. Trata-se de uma iniciativa da Revista Olhar de divulgar a pesquisa na gradução da UFSCar. Contamos ainda com a presença de dois importantes críticos uruguaios, Pablo Rocca e Guillermo Giucci, e da pesquisadora e professora argentina Laura Utrera. O uruguaio Guillermo Giucci, radicado no Brasil, em seu “Las cenizas de Horacio Quiroga” faz uma leitura radical do percurso das cinzas do escritor morto, e na tensão entre a vontade de arraigo que a modernidade propõe e o desterro que foi a condição primordial de Quiroga, e levanta questões incômodas acerca do destino último de um homem. O texto do crítico uruguaio Pablo Rocca postula uma leitura da obra de Quiroga a partir do seu trabalho como jornalista, no que esse ofício teve de implicações na produção
narrativa do autor, em seu afã de aproximar-se do público. Observo que este artigo é originalmente um capítulo do livro de Rocca, Horacio Quiroga, el escritor y el mito. Revisiones (Ediciones de la Banda Oriental, 2007), gentilmente cedido pelo autor à Revista Olhar. Laura Lorena Utrera faz uma incursão pelas incidências do cinema sobre a obra crítica e literária de Horacio Quiroga. Discute o exercício crítico de Quiroga sobre a produção cinematográfica estrangeira no início do século, e ainda analisa como o cinema insere-se na produção narrativa de Quiroga. Entre os jovens, contamos com Karina Magno Brazorotto, graduada em Letras pela UFSCar, que em seu artigo “Um ‘perfeito contista’: Teoria ou ficção? Os truques de Horacio Quiroga” introduz criticamente o leitor brasileiro no universo dos artigos de Quiroga sobre o conto, publicados nos anos vinte, e questiona os modos de ler estes artigos, bem como o seu estatuto. O texto de Amanda Luzia da Silva, graduanda em Letras da UFSCar, propõe uma arguta leitura do conto “El hombre muerto” (1920) e de sua réplica de treze anos depois: “Las moscas. Réplica de El hombre muerto” (1933). A partir desta escolha, a autora passa a questionar os postulados da crítica que considerou Quiroga como “regionalista rígido”, tratando de mostrar alguns aspectos vanguardistas na obra do escritor. O graduando da UFSCar José Roberto Cestarioli Jr, em seu artigo analisa o conto “La miel silvestre” (1911) de Quiroga, a partir de duas perspectivas antagônicas, a da literatura fantástica (como a entende Todorov), e uma aproximação pela psicanálise freudiana. Sua proposta tem como objetivo pensar em quais seriam os motores e motivos da literatura fantástica num universo pós-psicanálise, em que as assombrações foram desterradas. Finalmente, em meu artigo, “Da tradução como criação e como crítica: Rumo à caracterização de um Quiroga brasileiro”, proponho uma releitura das traduções brasileiras de Horacio Quiroga, como forma de ver quem é o autor a quem tem acesso o leitor de língua portuguesa no Brasil, ao longo dos últimos anos. Encerro estas linhas introdutórias confessando minha felicidade pelo diálogo possível que este dossiê pretendeu alcançar: o diálogo entre perspectivas críticas diversas, de leitores consagrados e de jovens graduandos, que possibilitam oferecer ao leitor algo da complexidade deste autor, de quem há pouco se comemorou um aniversário, mero pretexto para que continuemos descobrindo e (re)lendo sua obra.
*
Wilson Alves-Bezerra é professor de língua espanhola e suas literaturas na UFSCar. Autor de Reverberações da fronteira em Horacio Quiroga (Humanitas/FAPESP, 2008).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 11
Las cenizas de
HORACIO QUIROGA1 GUILLERMO GIUCCI*
Resumen: La relación entre modernidad y movilidad propició una voluntad de arraigo que se expresó con singular intensidad en la literatura moderna. Horacio Quiroga, el autor de Los desterrados, se identificó existencialmente con Misiones (Argentina). Sin embargo, hoy podemos observar la urna de algarrobo con sus cenizas en el Museo Horacio Quiroga, en Salto, Uruguay, lugar de nacimiento del escritor. Este artículo examina la importancia del “lugar” en la vida de Horacio Quiroga. PALABRAS-CLAVE: QUIROGA, VIDA, LUGAR
El lugar: Misiones1 Parto del principio que la vida y la muerte forman un todo. La modernidad fragmentó una unidad que en tiempos remotos estaba preservada por la escasa movilidad del ser humano. Desde el Renacimiento, en cambio, se multiplican los casos de personas que mueren distantes de sus lugares de origen. Ya desde el siglo XVIII, el descubrimiento de América y del paso a las Indias Orientales por el Cabo de Buena Esperanza aparecen como los eventos más importantes en la historia de la Humanidad, según lo señaló Adam Smith en su clásico libro La riqueza de las naciones (cap. VII, parte 3). En efecto, las consecuencias fueron enormes. Principalmente los europeos se liberaron de los espacios locales y extendieron su dominio por el planeta. Los últimos 500 años evidencian una historia de desplazamientos de personas, ideas y objetos, así como de intentos de reconstrucción de modos familiares de vida en otras regiones del mundo. Desde el punto de vista de la producción artística, se ensanchan las condiciones de posi1
Agradezco especialmente a Pablo Rocca por proporcionarme gran parte de la documentación necesaria para escribir este artículo, y a Enrique Rodríguez Larreta por el libro Guayasamín. Uma América pintada. Por supuesto, no son responsables por las interpretaciones del autor de este texto. En el libro de Pablo Rocca, Horacio Quiroga. El escritor y el mito. Revisiones, el lector encontrará una presentación sucinta de las diversas “identidades” de Quiroga, en parte asociadas a las exigencias impuestas por el mercado de trabajo y a las estrategias de supresión de la etapa juvenil del escritor, así como declaraciones de “compañeros de viaje” de la época y testimonios del propio Quiroga sobre su vida en Misiones.
bilidad de una escritura de la distancia, que combina el legado literario con la experiencia de lo nuevo. El escritor se separa de su entorno inmediato y registra, con una mirada aguzada por la conciencia de la diferencia, las costumbres y tradiciones de comunidades que progresivamente actúan como vasos comunicantes con los centros europeos. Mientras la modernidad amplía el espacio de la escritura, en su fase tardía es productora de “no lugares”, de acuerdo con el antropólogo francés, Marc Augé. Tales “no lugares”, definidos por Augé como espacios de identidad carentes de sentido relacional e histórico, estarían en oposición a los “lugares de memoria” de la modernidad baudeleriana (1996:83). El panorama se complica cuando recordamos el diagnóstico de Adorno, quien a fines de la Segunda Guerra Mundial sustentaba que la casa moderna no respetaba una identidad indivisa. Escribe Adorno: “Ya no es posible lo que se llama propiamente habitar. Las viviendas tradicionales en las que hemos crecido se han vuelto insoportables: en ellas, todo rasgo de bienestar se paga con la traición al conocimiento, y toda forma de recogimiento con la reñida comunidad de intereses de la familia” (1998:35). Como una sombra, la imagen de la casa continúa generando ideas utópicas de una existencia independiente. En este artículo me pregunto sobre la importancia del lugar en la vida de un escritor “rioplatense”: Horacio Quiroga. ¿Qué significa “el lugar” en Quiroga? Horacio Quiroga conoció Misiones en 1903, cuando sirvió como fotógrafo en un equipo de investigación dirigido por Leopoldo Lugones y financiado por el gobierno argentino, cuya tarea era recabar información sobre las misiones jesuíticas. Las 185 hectáreas que adquirió pocos años después en los alrededores de San Ignacio, con vista al río Paraná, eran de tierra volcánica, consideradas estériles por los pobladores de la región. Quiroga no sólo se mudó a Misiones en 1910, con su esposa Ana María Cirés. Con enorme trabajo y dedicación, casi sin dinero y prácticamente sin ayuda, construyó una casa e intentó transformar sus tierras en productivas. Rápidamente Misiones se convirtió en su referencia existencial fundamental. Fue el laboratorio de un modo de vivir y de narrar. Allí nació su primera hija Eglé y se suicidó dramáticamente su mujer; de allí se marchó porque no aguantaba el peso del recuerdo, retornó años después y se enamoró de una adolescente, casi 30 años menor que él; allí vivió con ella y sus tres hijos hasta la separación. Misiones fue su lugar, en el sentido de una propiedad hecha a su imagen y semejanza. Pero también podemos decir que en Misiones Quiroga encontró su lugar, como le escribió a su amigo Julio Payró poco antes de su muerte: “Esto es mi San Michele, con menos amor a las reliquias artísticas y mayor al arte vivo de la naturaleza que Munthe” (in RODRÍGUEZ MONEGAL, 1961:108). Aquellos individuos que “encuentran” su lugar, en general establecen una línea de comunicación entre la tierra y el cielo. Se sienten acompañados por espíritus y memorias. No precisan seguir buscando. Descubrieron un aliado territorial que los ancla en una geografía telúrica, al tiempo que simbólica. Ello poco tiene que ver con el romanticismo o con la belleza. No se propone aquí una versión mitificada y sentimental del espacio, ninguna idealización orgánica o imagen de la perfección, ninguna vida venturosa, sino que se lo entiende como una extensión de la producción artística. La casa es el ser, el escritor, el artista. La muerte ya no aterroriza. Por lo menos, quienes reúnen tierra y cielo se ven morir en ese espacio geográfico que les confiere sentido. Así lo hizo Quiroga, en carta a Ezequiel Martínez Estrada: “He de morir regando mis plantas, y plantando el mismo día de morir. No hago más que integrarme en la naturaleza, con sus leyes y armonías oscurísimas
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 13
aún para nosotros, pero existentes” (apud MARTÍNEZ ESTRADA, 1957:92). En los últimos años, Quiroga consideraba que su obra artística lo justificaba. Se veía a sí mismo como un artista que había cumplido su misión y que por lo tanto no precisaba aferrarse a una supervivencia inútil. Era consciente de que podía morir sin preocuparse con la desaparición prematura, que amenaza a todo artista en pleno desarrollo del ciclo vital creativo y peligro que lo había perturbado durante su juventud. Aquejado por dolores físicos, en ocasiones insoportables, producto de un cáncer, se suicidó en un hospital de Buenos Aires, a los 57 años de edad. Ezequiel Martínez Estrada fue uno de primeros que denunció el saqueo de la casa de Quiroga en Misiones. Dice que al inicio penetraron los vecinos, después “linyeras y maleantes, y se llevaron cuanto pudieron alzar. Pocos meses más tarde, la vivienda, el hogar recóndito que se preparó para morir, se convirtió en refugio de haraganes, en comisaría, en mingitorio. Nadie de los que le amaban pudo impedir esa profanación, cumplida sin el ritual de la justicia, y lo que debió ser museo nacional, lugar de peregrinación, se convirtió en madriguera de vagos” (1957:13). Había pasado poco más de una década de la muerte de Quiroga, cuando el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal visitó en 1949 la casa con fines de documentación, acompañado por el hijo del narrador, Darío Quiroga. La Dirección interina del Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios de Montevideo les había encomendado que documentasen en testimonios y fotografías lo que sobrevivía de Quiroga en Misiones. De la casita de madera mencionada en el cuento “El techo de incienso”, quedaba apenas el piso de portland. Una escena semejante de desolación se repitió en 1967, cuando Rodolfo Walsh viajó a San Ignacio. Denunció que Quiroga se había “vuelto anécdota, que es como decir olvido, conmemoración escolar –último fruto del tedio-, homenaje de notables, que es autohomenaje” (WALSH, 1993:276). Confirmó asimismo la hostilidad contra el escritor por parte de los pobladores de Iviraromí (San Ignacio), expresada en la destrucción de la casa-museo, en el saqueo de fotografías, cartas y herramientas. Mientras las ruinas jesuíticas atraían a los turistas, la casa-museo de Quiroga estaba destrozada. Concluyó Walsh que “para reencontrar el país de Quiroga hay que subir el Paraná, o llegar al Alto Uruguay cruzando la sierra central” (1993:278). Quiroga no estaba en su lugar. Es una experiencia inolvidable caminar por la tierra colorada que conduce el turista hasta el museo Quiroga en San Ignacio. Por supuesto, ello no significa la reconstrucción de una experiencia originaria, ilusión que debe ser desechada de inmediato. Además, por un medio de comunicación que Quiroga seguramente habría admirado, dado su interés por las nuevas tecnologías, pero desconocido en su época –Internet-, tenemos acceso virtual a diversas fotografías del museo. El Gobierno de la Provincia de Misiones, empeñado en estimular el turismo de la región, ofrece información relativa al escritor destilador de naranjas y fabricante de dulce de maní que cultivaba la soledad. Informa que se conservan dos construcciones, una realizada en piedra y otra de madera, y dentro de aquellas se
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 14
pueden observar artículos de su pertenencia, como una réplica de su máquina de escribir y otros objetos personales. Pueden verse colecciones de insectos, una piel de serpiente, la bicicleta motorizada. ¿Recuperamos con ello a Horacio Quiroga? La primera casa en Misiones la construyó con sus propias manos. “Tenía el orgullo de bastarse a sí mismo” nos dicen sus biógrafos y amigos íntimos de adolescencia, Delgado y Brignole (1939:177). La biografía abunda en detalles muy reveladores de la relación de Quiroga con su domicilio en Misiones. Todo rústico, sin la perfección del especialista, lo que preocupaba seriamente a la familia de su primera esposa Ana María. En la biografía se destaca el contraste entre la vida en el bosque, libre de artificios y con una cabaña como refugio y la tranquilidad del lar urbano burgués. Henry Thoreau, el autor de Walden, es aquí una referencia inevitable. La idea de la autosuficiencia procede de Thoreau, a quien Quiroga leyó con interés. El impulsivo hombre de los proyectos comerciales siempre fracasados, el amante de pájaros y de la floricultura, el sanguinario cazador de animales e intrépido excursionista náutico, el ser humano de baja estatura que sufría de asma y dispepsia, es presentado por sus primeros biógrafos como “un salvaje” de humores imprevisibles, dotado de una poderosa imaginación literaria y científica, cuya vida se justifica en última instancia desde Misiones. La experiencia de la selva sería la marca distintiva de la obra literaria de Quiroga, un regionalismo realista enriquecido por Dostoievski, Poe y compañía. “Cuando se llama a Quiroga el brujo de la selva se hace referencia a la espiritualización que su genio proyectó sobre tales parajes. En efecto, con él las cosas y los seres regionales empiezan a salir de un limbo” (DELGADO/BRIGNOLE, 1939:230). Quiroga no escribió su mejor literatura en Misiones, aunque muchas de las historias escritas fuera de San Ignacio viniesen, en palabras de Pablo Rocca, “a funcionar como un ejercicio de recuperación de ese espacio” (2007:163-64). Además, si llevamos en consideración el hecho de que no vivió tanto tiempo en San Ignacio – aparte de las vacaciones de diciembre a febrero, parte de 1910 y de una larga temporada en 1925, residió de modo permanente entre mayo de 1911 y diciembre de 1916, así como entre 1932 y 1936- nos preguntamos cómo se legitima la identidad entre el escritor y el lugar. En primer término, se presupone una adecuación espacial-espiritual: Quiroga sería él mismo exclusivamente en Misiones. En ese sentido, su fracasada experiencia en el Chaco en 1904-05 como cultivador de algodón refuerza su vínculo con la naturaleza. Cuando Samuel Glusberg lo visitó en 1925 en Misiones, “reconoció” la identidad entre el escritor y el lugar: En su casa de San Ignacio conocí a Quiroga en su verdadero ambiente y pude darme cuenta de la estrecha relación que había entre su vida y su arte. “El desierto”, que acababa de aparecer bajo mis cuidados en Buenos Aires, era una maravillosa síntesis del país, de la casa y de mi huésped hasta más allá de donde podía sospecharlo cualquier inadvertido lector de historias impresionantes. El río, el monte, la lluvia, los hombres y las bestias, todos los elementos de la narrativa quiroguiana, se me hicieron familiares durante aquel mes inolvidable que pasé entre los suyos. Y, cuando al año siguiente volví a encontrar ese mundo en los siete cuentos parejos de Los desterrados comprendí en toda su profundidad el don creativo de su pluma (QUIROGA, 1997:488; la crónica de Glusberg es de 1937).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 15
De acuerdo con Delgado y Brignole, hay una historia de amor con la naturaleza, que habría comenzado con su primer viaje a las Misiones y que vendría a señalar “el punto trascendental en que un hombre se encuentra con su alma” (1939:154). Sería el inicio de la imagen de un escritor apasionado por la “vida brava” y desajustado en la ciudad. En otras palabras, “siempre, desde entonces, daría la impresión, en el ámbito urbano, de un leñador montés que anda de paso” (DELGADO/BRIGNOLE, 1939:154). Dos factores son importantes en la representación del desajuste y de la reinserción. En primer término, el desajuste aparece asociado con la idea de estar en tránsito en la ciudad. Como si el sentido de una vida sólo pudiese ser pensada desde un lugar fijo y estable; en otras palabras, desde Misiones. El segundo factor es el retorno: uno regresa a su lugar. Al volver a Misiones, Quiroga sentía “la exaltación del desterrado que torna a su lar” (DELGADO/BRIGNOLE, 1939:327). En esa perspectiva, la partida del lugar equivale siempre a una pequeña muerte. Vale la pena citar a Delgado y Brignole, cuando describen la última partida de Quiroga de Misiones a Buenos Aires, en 1936: Ya lo ha dicho: la operación no le preocupa, pero ¿cómo abandonar todo aquello? Porque “aquello”, más que ninguna otra cosa, más que los hijos mismos, es lo suyo. Sentado entre los bocayás, sobre el sillón de hamaca de dos plazas –ingeniosamente construido por él y en el que, por mecanismos diversos, un sibarita del reposo podía adoptar las posiciones que más le agradaran- contempla su obra. Él está en todo lo que se levanta sobre su meseta: casa, senderos, huertas, parques, jardines; está en el río, dominado por sus embarcaciones, y en la selva, que ya ha concluido por adoptarlo como un hijo; está en los muebles, en los artefactos, en las sillas diseñadas según su gusto. Siente la estima, la correspondencia de las cosas (1939:382).
El propio Quiroga lo manifestó en carta a Asdrúbal Delgado, el 10 de mayo de 1936, cuando justificó la separación de su segunda mujer, María Elena Bravo, alegando que él no se identificaba con la vida urbana y ella con la vida de campo, lo que había creado un impasse sin salida, ya que ninguno de los dos debía sacrificarse. La comparación con la trayectoria de otros escritores y artistas latinoamericanos es reveladora. La Capilla del Hombre fue el proyecto más ambicioso del artista ecuatoriano Guayasamín. Murió antes de inaugurar ese espacio monumental destinado a la reflexión sobre la condición humana, quedando sin su huasipichay (en quechua, fiesta de inaugurar una nueva casa). Pero había diseñado, dirigido y construido su propia casa, hoy Fundación Guayasamín, localizada en uno de los barrios más elegantes de Quito. Todos los muebles fueron igualmente diseñados por el artista, que puso “cada cosa en su lugar” (GUASAYAMÍN, 2007:56). Rodríguez Larreta identifica tres “lugares” latinoamericanos -el Sitio de Burle Marx en Guaratiba, estado de Río de Janeiro, el Solar de Gilberto Freyre en Apipucos, Recife, y la Capilla del Hombre en Quito- y sostiene que son “territorios paradójicamente dominados por la integración armónica de elementos opuestos” (2007:79). Las cenizas de Guayasamín están bajo un árbol plantado por él; las de Gilberto Freyre en su residencia en Apipucos. El proyecto de vida de Quiroga fue el más radical de estos artistas, y el menos proclive a la integración armónica de elementos opuestos. Había en la selva un elemento “terapéutico” (CANFIELD, in Quiroga 1997:1372), un desafío a la existencia civilizada y
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 16
una voluntad de arraigo telúrico, una experiencia límite en parte comparable a la vida en el bosque de Thoreau. Como escribió Martínez Estrada, Quiroga creía que la casa donde uno vivía y había de morir, debía ser construida por propias manos, si ello era posible (1957:13). Quiroga la construyó con sus propias manos, pero se suicidó ingiriendo un vaso de cianuro la madrugada del 19 de febrero de 1937 en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Muchos suicidios en la familia: padrastro, la primera esposa, él mismo, sus tres hijos (1939, 1954, 1988).
La imaginación del lugar La misma modernidad que liberó al ser humano de sus espacios locales propició una voluntad de arraigo que se expresó de modo magnífico en la literatura. Estamos ante el triángulo Modernidad/Movilidad/Imaginación. Me refiero a “imaginación” social, como el horizonte de expectativas de la movilidad. Modernidad es en ese sentido, al mismo tiempo, una conciencia del mundo y un efecto comunicativo, un salir al espacio exterior y una esperanza, así como un intenso deseo de arraigo. Desde que se comprobó empíricamente la redondez del planeta, con el trágico viaje de Magallanes y Elcano entre 1519 y 1522, se vive en circuitos comunicativos planetarios que no terminan de reconfigurarse, como lo notaron Marx y Engels en el “Manifiesto Comunista” de 1848 y lo imaginó Julio Verne en La vuelta al mundo en 80 días. Gustav von Aschenbach, el personaje de Muerte en Venecia de Thomas Mann (cuya madre era brasileña), que al inicio del relato se ve acometido por ganas de viajar sentidas con una vehemencia casi alucinatoria, es un brillante ejemplo de la relación entre la imaginación y la movilidad en la literatura moderna. ¿Cuándo estamos en casa? Hay varios modos: la patria, la familia, el lenguaje, el sentido común. Al viajar, pese a modificaciones significativas en las tecnologías del transporte y de la comunicación en las últimas décadas, generalmente nos alejamos de lo familiar y experimentamos la diferencia. Vale la pena contrastar el “lugar” particular de Quiroga con el lugar genérico del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien definió la literatura como una lucha contra el peligro de las fronteras artificiales. Cito a Vargas Llosa: Sí, yo soy peruano, soy latino-americano. Pero viví también tantos años afuera que ya soy un poco de todos los países en los cuales viví. Creo que mi patria es el mundo, soy un ciudadano del mundo desde temprano y no lo lamento, al contrario. Una de las buenas cosas que pasaron conmigo es sentirme en casa en varios lugares tan distintos. Creo que eso nos da una perspectiva, una visión más amplia de la vida, de las cosas, de las personas. Es una vacuna contra la visión provinciana, pequeña, y también contra el nacionalismo, que es uno de los grandes peligros, una de las fuentes principales de falta de comunicación, de los prejuicios sociales, culturales, raciales. Ser desarraigado de cierta forma es estar arraigado a una cosa más amplia, más general (Entrevista de Manya Millen a Mario Vargas Llosa, O Globo, 23-9-2006, Prosa e verso, p. 2; traducción mía).
De algún modo, no puede haber dos situaciones más antitéticas en relación con el lugar que las posiciones de Quiroga y Vargas Llosa.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 17
Otro ejemplo sugestivo es la comparación del lugar de Quiroga con la imaginación del lugar expresada en el cuento de Jorge Luis Borges, “El Sur” (Ficciones, 1944). Desde la antigüedad, hay personajes que se encuentran fuera de lugar en la “exterioridad”. La figura modélica del arraigo es literaria y resultado del desplazamiento: el viaje de regreso de Ulises a Itaca en La odisea de Homero. La forma del círculo se impone de modo épico y violento, expresando el triunfo de la reconciliación. Mejor no morir “afuera”, esa muerte lejana y melancólica que persigue al personaje de Elpénor. Al narrar sus desventuras a Alcínoo, Ulises destaca que no hubo diosa que pudiera retenerlo en gruta o palacio ante la perspectiva de retornar a su lugar y familia. La literatura moderna desarrolló este vínculo entre la casa, el viaje y el retorno. Pero retornar es cada vez más difícil en la modernidad. A partir del siglo XVIII, muchos de los grandes personajes literarios son constructores de nuevos espacios vitales trans-europeos, expresión de la fuerza del capital y símbolos del avance de la tecnología del transporte (en mucho mayor medida que de la tecnología de la comunicación, que siempre parece fallar). A diferencia del Ulises homérico, estos aventureros novelescos y representantes del violento desplazamiento imperial parecen decir “La vida tiene que ser reconstruida en otro lugar”. “El Sur” sintetiza las contradicciones producto del vínculo modernidad, movilidad e imaginación. No sólo el nacionalismo de Juan Dahlmann procede del otro lado del océano. Es precisamente un bibliotecario sedentario el que había preservado el casco de una estancia en el Sur y se contentaba en la ciudad “con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura” (BORGES, 1994:525). Sabemos que “El Sur” puede ser interpretado por un doble registro. Por una parte, como la muerte en el hospital de un bibliotecario ávido de imaginarias aventuras épicas. Por otra, como la descripción realista de un viaje hacia el Sur mítico de un convaleciente que muere en un duelo por la honra contra un peón desconocido. Si la muerte aparece como un elemento secundario en el cuento, sigue importando cómo y dónde se muere: en un hospital o en la llanura abierta. Recordemos que Quiroga, desgastado por una vida de intensas emociones y cumplida su misión literaria, aquejado de dolores insoportables, aceleró su muerte. Algunas imágenes nos resultan incongruentes: la tumba de una hija de Moctezuma en España; la de Jorge Luis Borges en Ginebra; Hannah Arendt en el terreno de una universidad de Nueva York; Jim Morrison y Miguel Ángel Asturias en el cementerio de Père Lachaise (este receptáculo de muertos concentra la máxima cantidad de artistas en el mundo, confirmando la relación entre modernidad y desplazamiento, especialmente a París). Por supuesto, entendemos la razón de tales situaciones, aunque persiste una perturbadora demanda de vinculación entre el lugar de nacimiento, el ciclo vital y la tumba. No todos tienen la suerte del sueco Ingmar Bergman, quien “encontró” su lugar en la isleta de Faro y murió tranquilamente en su casa, durante el sueño a los 89 años de edad, después de una prolongada y reconocida trayectoria artística, una autobiografía y una película personal sobre su vida. Así como los objetos de arte, concentrados masivamente en los museos de Europa y Estados Unidos, los restos humanos a menudo se encuentran distantes de sus lugares de identidad. El espacio de la muerte es un problema secundario en la modernidad. Queremos vivir, y la muerte es entendida como un final que debe ser evitado a cualquier costo,
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 18
aunque para ello haya que someterse a modos indignos de existencia. Pirandello optó por una solución intermedia: muerto en Roma en 1936, fue cremado y sus cenizas desparramadas en la aldea siciliana de su nacimiento. No hay tumba que lo recuerde, fuera de su obra. Es razonable imaginar que Quiroga hubiera preferido morir en Misiones. Quiroga también es un buen ejemplo de la tesis de Jung, que sustenta que desde la mitad de la vida hacia adelante, sólo permanece vital aquel que está preparado para morir con vida. Nada indica, sin embargo, que Quiroga se preocupó con el entierro. Delgado y Brignole dramatizan la escena final, señalando que en el lecho del hospital quedaba tendido “su cuerpo, sin más bienes que un montón de ropas remendadas, y no se sabía qué hacer con él” (1939:399). Fue velado en la Sociedad Argentina de Escritores e incinerado en el crematorio de la Chacarita. Que Stefan Erzia (nombre artístico del ruso Stefan Nefedov) haya tallado con urgencia una escultura en raíz de algarrobo representando la cabeza de Quiroga, nos habla de un grupo de amigos, si bien pequeño, y sobre todo, de la conciencia del valor del fallecido. La escultura se talla como homenaje. Ella es reconocimiento y memoria, amistad y despedida, tiempo y eternidad. Las cenizas depositadas en su interior es el componente aurático, que sacraliza al objeto. Es lógico que se lo exhiba. Ante la escultura-cabeza-urna, la presencia del espectador implica la repetición de los homenajes a una vida. Las cenizas prosiguieron su movimiento: de Buenos Aires al panteón familiar en Salto, Uruguay; posteriormente al Museo Histórico de Salto; después a la Casa Horacio Quiroga en Salto. Inaugurada el 23 de diciembre de 2004, la Casa Horacio Quiroga: Mausoleo, Museo y Centro Cultural, fue la residencia veraniega de la familia y de la infancia del escritor, más tarde escuela (designada Escuela Horacio Quiroga en 1987) y actualmente museo. Aunque no se trata de la casa de nacimiento de Quiroga (éste nació en el Consulado Argentino, en el centro de Salto), todo sugiere que la escultura-cabeza-urna conteniendo las cenizas encontró un emplazamiento definitivo. La ceremonia de inauguración de la Casa Horacio Quiroga en Salto a fines de 2004, con el emblemático traslado a pié de las cenizas del escritor del Museo Histórico al nuevo museo y los inevitables discursos, es una demostración de la necesidad de inventar una tradición. Se trata de un espacio correcto para proteger y exhibir la urna, acompañada por un forzado nacionalismo, la proximidad espiritual y geográfica de sus familiares antiguos, los intereses turísticos y el orgullo de la provincia. Es importante que las provincias le roben a los centros metropolitanos parte de su exagerado protagonismo, así como corresponde que infinitos objetos de “arte” retornen a sus lugares originales de producción. En el caso singular de este escritor de dos patrias, existe sin embargo otra casa-museo Horacio Quiroga, en otra provincia. Fue su casa por elección. El gesto más radical sería, independientemente de los dudosos nacionalismos, que un día esa escultura de algarrobo conteniendo las cenizas, fuese enterrada bajo un árbol por él plantado en la casa de Misiones. El desterrado Quiroga estará, finalmente, en su lugar.
Bibliografía ADORNO, Theodor. Mínima moralia. Reflexiones desde la vida dañada. Trad. J. Chamorro Mielke. Madrid: Taurus, 1998.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 19
AUGÉ, Marc. Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa, 1996. BORGES, Jorge Luis. Obras completas. I. Buenos Aires: Emecé, 1994. DELGADO, José M. y Brignole, Alberto J. Vida y obra de Horacio Quiroga. Montevideo: La Bolsa de los Libros, 1939. GUAYASAMÍN. Uma América pintada. Rio de Janeiro: Caixa Cultural Rio de Janeiro, 2007. MARTÍNEZ Estrada, Ezequiel. El hermano Quiroga. Montevideo: Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios, 1957. QUIROGA, Horacio. Todos los cuentos. España: ALLCA, 1997. ROCCA, Pablo. Quiroga. El escritor y el mito. Revisiones. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2007. RODRÍGUEZ Larreta, Enrique. “El volcán y el árbol – Entrada a Guayasamín”. In: Guayasamín. Uma América pintada. Rio de Janeiro: Caixa Cultural Rio de Janeiro, 2007, pp. 75-80. RODRÍGUEZ Monegal, Emir. El desterrado. Vida y obra de Horacio Quiroga. Buenos Aires: Losada, 1968. ______. Las raíces de Horacio Quiroga. Ensayos. Montevideo: Ediciones Asir, 1961. SLOTERDIJK, Peter. Esferas I. Burbujas. Trad. Isidoro Reguera. Madrid: Siruela, 2003. WALSH, Rodolfo J. “El país de Quiroga”. In: Rodolfo J. Walsh. Nuevo Texto Crítico. Año VI, Julio 1993-Junio 1994, Número 12/13, pp. 275-280.
*
Guillermo Giucci é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Autor de Viajantes do Maravilhoso (Companhia das Letras, 1992); e co autor, com Enrique Rodríguez Larreta, de Gilberto Freyre, uma biografia cultural (Civilização Brasileira, 2007)
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 20
UNA CLAVE DEL NARRADOR,
EL PERIODISTA1
PABLO ROCCA*
Resumen: Al narrador Quiroga lo precedió, y durante toda su vida lo acompañó fecundando las ficciones, la labor del periodista. De algún modo, incluso, la escritura narrativa le debe mucho a los ritmos y las prácticas periodísticas: su voluntad de acercarse al mercado, de conquistar distintos segmentos del público y aun de seducirlos. PALABRAS-CLAVE: ESCRITURA, PERIODISMO, PÚBLICO
Un dilema del Novecientos1 El 3 de diciembre de 1897, con la firma de Horacio Quiroga, en el periódico litoraleño La Reforma apareció “Para los ciclistas. De Salto a Paysandú” (Quiroga, Época modernista, 1973: 25-28). No es un poema ni un cuento sino más bien un artículo o, si se quiere, un diario de viaje que, en consecuencia, realza la aventura del personaje identificado con el autor. Ese “texto”, llamémosle así por comodidad o por cautela, redactado por quien no había cumplido aún los veinte años, fue el acta de bautismo del escritor. Del mismo modo, su última pieza circuló en otro periódico, esta vez de Buenos Aires. “La tragedia de los ananás”, un texto fronterizo entre el ensayo, la autobiografía y la ficción – otra vez conviene ampararse en la noción más laxa–, salió en La Prensa el 1o de enero de 1937 (QUIROGA, Cuentos, II, 2003: 666-670). Las dos experiencias se tocan en un punto fundamental: “Para los ciclistas…” se organiza como minucioso diario de viaje, en el que se registra con precisiones de horas y minutos, los avances y vicisitudes del arrojado deportista que cumple la hazaña nacional de unir dos ciudades separadas por algo más de cien kilómetros por inhóspitos caminos. En el otro extremo del tiempo, “La tragedia de los ananás” relata el frustrado intento del yo-narrador-protagonista por hacer germinar en Misiones unas plantas traídas del nordeste brasileño. Los dos textos privilegian la primera persona de la narración; los dos se construyen con frases breves, más cerca del 1
El presente texto es el capítulo III de Horacio Quiroga, el escritor y el mito (Revisiones). Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2007.
objeto que del libre juego imaginativo. Los dos dibujan la circunferencia de una labor que se entregó casi por entero a la prensa periódica. No deja de llamar la atención estas fuertes coincidencias. Un poco porque “Para los ciclistas…” estaría prefigurando una práctica discursiva de la que hizo caudal varios años después, y otro tanto porque esto colocaría a Quiroga en un lugar intersticial entre el cronista y el reporter, el dilema clave de la prosa en el cambio de siglos. El cronista, traje con que se vistió en la prensa el escritor modernista hispanoamericano, empezó a ser acorralado por el reporter, profesional nacido a consecuencia de la transformación de los medios periodísticos, en especial por la irrupción del telégrafo, que permitía procesar rápidamente la noticia que ahora llegaba sin demoras. Más que un ejercicio lindero entre el periodismo y literatura, los modernistas defendieron el estatus “literario” de la crónica, un lugar menor en el escalafón de las bellas letras que el que ocupaba para ellos el poema, pero un lugar “literario” al fin. La nueva tecnología y su intérprete, el reporter, hicieron a un lado los cuidados de la forma. “La crónica, señoras y señoritas, es, en los días que corren, un anacronismo”, admitía con ironía y resignación el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. El “escritor diario”, perdía el sitio “sublime”, señalaba José Martí, tal vez quien más buscó insertar a la crónica en los contornos del pensamiento, la notificación y crítica de lo presente y el estilo artístico (cit. en ROTKER, 2005: 107). El reporter se acercaba al hecho, la novedad, el objeto, devorando las galas del estilo en ese proceso arrollador. Sin recusar lo presente, el cronista no pudo –ni quiso– registrarlo con la inmediatez de su nuevo competidor, apostó a la “estilización del sujeto literario”, volviéndose sobre lo autorreferencial, que a menudo incluye “reflexiones sobre la escritura en sí”, antes que sobre lo fáctico (ROTKER, 2005: 175). La crónica se dibuja sobre el campo de prueba del lenguaje, mientras que el artículo del reporter hace del lenguaje un instrumento. Desde el principio, Quiroga se movió de una manera heterodoxa en ese fructuoso límite entre el registro de lo presente y la sublimidad de la escritura creativa. Después de “Para los ciclistas…” colaboró con Gil Blas y Revista Social, dos publicaciones salteñas de frecuencia espaciada y de naturaleza más elegante que la del periódico que había recibido su primera colaboración. En estas revistas escribió pequeñas viñetas, entre el poema en prosa baudelairiano y el cuento simbolista. La máquina de la escritura quiroguiana había empezado a funcionar, y necesitaba de mayor libertad para expandirse. De ahí que junto a un grupo de jóvenes e inéditos escritores inventó su propio órgano de difusión, la Revista del Salto, donde probó diversas formas: el poema, la prosa poética, las notas y artículos de crítica cultural. En uno de estos últimos, “Aspectos del modernismo”, define su programa de escritura finisecular: Somos más artistas que pensadores; gustamos más de un sofisma resplandeciente que de una verdad fríamente expuesta. Nuestra imaginación hiperestesiada, incapaz a veces de absorber una sencilla sentencia, llega a la más grande exageración sensitiva […] La imaginación es nuestra fuerza, y la quintaesencia, el motivo y fin de la literatura moderna.
En esta suerte de manifiesto contra el ejercicio puro de la racionalidad y el asedio del sentido común y de la vulgaridad, por Quiroga habla su grupo que entendía el modernismo como “sentido refinado, que es el de los elegidos” (QUIROGA, Época modernista, 1973: 50). Las masas podrán incorporarse sólo después de que esa vanguardia refunda el
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 22
sentido nuevo del arte. Pronto tendrá que reconocer, en el editorial que prepara para despedir a su revista, que las muchedumbres –como dirá Darío en un prefacio de 1905– sólo quieren la diversión, y que por eso muere esta empresa de redención: “La masa común rechaza toda efervescencia, que pueda hacer desbrozar su medida de lo acostumbrado. No quiere anchos horizontes, ni reflexiones ni verdades desconocidas: quiere distraerse, entretenerse […] (“Por qué no sale más la Revista del Salto”, loc. cit., 1973: 95). Las consecuencias posibles de esta derrota son claras. El escritor en la modernidad periférica se ve enfrentado a tres alternativas: “quebrar la pluma”, para emplear una imagen muy siglo XIX; hacer arte para las minorías que entienden, condenándose al encierro en ese círculo áulico; infiltrarse en los nichos del público masivo, para reorientarlo y, si acaso, sirviéndose de él, socavar sus convicciones de a poco, al tiempo que recibe una paga por esa tarea de demolición y de simultánea construcción moderna. Quiroga hizo caudal de la segunda opción en la fugaz incursión parisina y en el Consistorio del Gay Saber, a su regreso a Montevideo. Instalado en la orilla occidental del Plata, cambió sus planes: descubrió un mundo que se desplegaba ante sus ojos: el alumbramiento de otra forma de periodismo que horrorizaba a los “gentlemen escritores” de la generación del ochenta (VIÑAS, 1964). El “mercado de la escritura”, como le ha llamado Ángel Rama, estaba regulado por dos patrones: los políticos y los dueños de los periódicos (RAMA, 1984: 131). Como otros de su edad, Quiroga se mantuvo al margen de la tarea de escriba del discurso estatal, por lo que una vez que se desvaneció la ilusión de la revista propia, no le quedaba otra alternativa que aceptar la tutoría del dueño del periódico, el que a su vez se debía al nada educado público de masas. En lugar de sumirse en la angustia o la desesperación, en Buenos Aires aceptó convertirse en periodista-escritor, un papel que vivió sin el dramatismo o la frustración de otros modernistas (desde Julián del Casal a Darío), sino como una posibilidad novedosa de hacer arte. Como lo explicó con toda claridad en 1928: El arte de escribir o, de otro modo, la capacidad de suscitar emociones artísticas por medio de la palabra escrita, lleva aparejada consigo la constitución de un mercado literario, cuyas cotizaciones están en razón directa del goce que proporcionan sus valores. Los diarios y revistas, y en menor grado el libro y el teatro, constituyen ese mercado (QUIROGA, “La profesión literaria”, en Sobre literatura, VII, 1972: 88).
Con esa práctica, Quiroga revisó la división tajante entre “lo literario” y lo “no literario”, que había formulado sus compañeros de fila. Eso no significó que no dejara de pensar la literatura como un oficio riguroso y difícil. De paso, abandonando su primera adscripción estética y su visión del mundo, pudo hacerse profesional de la escritura.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 23
Medios y formas En los cuarenta años exactos de actividad creativa de Horacio Quiroga en la prensa y las revistas (y en los libros), hubo épocas en que los cuentos estuvieron en alza y épocas en que los artículos de distinta índole se emparejaron en frecuencia con estos y hasta llevaron la delantera. Cada medio que lo tuvo como colaborador, discreta o compulsivamente, modeló sus textos. Protagonista de un momento fundamental de la transformación de las relaciones culturales, Quiroga participó de distintos tipos periódicos para una variedad de públicos a menudo heterogéneos, por lo que debió adaptarse a una y otra exigencias, ejerciendo con extraordinaria versatilidad diferentes formas de la escritura: la crónica, el artículo cultural, la nota que podríamos llamar de “divulgación científica”, la pieza que roza el territorio del relato literario. Con diferentes niveles de participación, cuatro tipos de publicaciones periódicas alojaron esos textos: 1) El diario de poderosa circulación para consumo apresurado y masivo: La Nación, Crítica y La Prensa. 2) La revista literaria para minorías, en la que participó sólo ocasionalmente, y como a desgano: Pegaso, de Montevideo –y eso porque estaba dirigida por su amigo José María Delgado–, y Nosotros, de Buenos Aires. 3) La revista cultural con un perfil de especialización y la revista política, en las que sólo rara vez colaboró (El Monitor de la Educación Común e Insurrexit). 4) La revista de actualidades o magazines, con que se proveyó a los nuevos lectores del Río de la Plata y países vecinos desde comienzos del siglo XX: El Gladiador, Caras y Caretas, Fray Mocho, El Hogar, Mundo Argentino, Atlántida, Plus Ultra, Vida Literaria. Alrededor de veinte publicaciones periódicas de las dos márgenes del Plata acogieron sus textos. Pero el episodio fundamental para el desarrollo del periodista ocasional y, como veremos, para el renacimiento vigoroso del oficio de narrador, fue su incorporación a Caras y Caretas. La historia empezó el 18 de noviembre de 1905, cuando publicó el cuento “Europa y América”. Aunque nacida en Montevideo en 1890, Caras y Caretas tuvo su esplendor en la segunda y exitosa época desarrollada en la otra orilla, entre 1898 y 1939. Como si fuera una parábola perfecta del destino de su colaborador más prestigioso, la vida de la revista calca los años de trabajo literario de Quiroga: Inspirándose en el modelo de los magazines europeos, pero a su vez con una aguda percepción del mercado criollo, los creadores de Caras y Caretas eligen una fórmula ciertamente novedosa, en la que integran la caricatura […], la historieta (en cuyo campo la revista cumple una función pionera), las viñetas costumbristas […], la publicación de cuentos […] las poesías […], las páginas de entretenimientos […] (RIVERA, 1980: 363).
Impresa en papel de calidad, cuidadosamente diagramada, Caras y Caretas apostó fuerte al dibujo y la caricatura. Esto desde la tapa, enteramente cubierta por un dibujo a varias y llamativas tintas, que se convertía en humorístico relato sobre un acontecimien-
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 24
to político del momento, comentado por una o dos frases rimadas. Altísimo debió ser el impacto que logró en la percepción general esta estrategia periodística que se avenía a los reclamos de un “producto más «ligero»” (RIVERA, 1990). Matriz de las demás publicaciones de actualidades, Caras y Caretas fue la plataforma de despegue para la mayor parte de los dibujantes y caricaturistas rioplatenses (Museo del Dibujo…, 2006), y esa tónica caricatural reordenó la relación de la sociedad con las cosas, alcanzando a invadir hasta los mismos avisos publicitarios (ROMANO, 2004). Circuló masivamente en Argentina y en Uruguay, donde a su imagen y semejanza nacieron algunas revistas de vida dilatada, como La Semana (1909-1914, 223 números) y otras más efímeras, como Actualidades (1924-1926), todas lanzadas a la conquista de ese nuevo público al que no cautivaba el periódico tradicional, confiado sólo en el texto compacto a varias columnas, si acaso con la avara compañía de alguna viñeta. Hasta en São Paulo nació una revista inspirada en el magazine rioplatense, que incluso se apropió del título de este modelo renovador: Figuras e figurões (MARTINS, 2001). La revista fundada por Eustaquio Pellicer, retribuyó razonablemente las colaboraciones, ya fueran textos, dibujos o fotografías. Una carta del 15 de julio de 1906 dirigida a Fernández Saldaña, muestra la confluencia del doble alumbramiento, el del periodismo masivo y el del escritor profesional que se adapta rápida y gozosamente a las novedosos recursos técnicos: Por aquí voy mejorando visiblemente. Fuera del mayor conocimiento que la gente tiene de mí –han dado de elogiarme de lo lindo– resulta que en Caras y Caretas, fuera de los cuentos que les agradan mucho, me han pedido notas para ser ilustradas con fotografías. Ya apareció «El hipnotismo al alcance de todos»2 y en el próximo número saldrá «La esgrima criolla». Por cada una de estas notas me dan $ 30, y 20 por cada cuento. Como podrá aparecer uno de cada uno por mes, son $ 50 útiles. –Item: un Ricardo Rojas, poeta y amigo, me ofreció colaboración en La Nación, 40 centavos por línea. Se trata de una serie de artículos con seudónimo que hay siempre en la primera página. Tienen un grupo de 15 escritores para tales artículos diarios. Aunque al principio no me publiquen sino uno por mes, la cosa es buena […] Este es el sensible cambio habido en mi lento avance hacia la plata profusa. Estoy con tales cosas bastante satisfecho de mí mismo […] Trabajo bien, con ganas, y energía […] (Correspondencia y Diario de viaje…, 2006).
Era tanto su entusiasmo, que se convirtió en un propagador de esa generosa fuente de trabajo. El 7 de mayo de 1907 vuelve a escribir a su corresponsal que no se demore con el dibujo para un artículo suyo, que “hoy me pidió Pardo de C[aras] y C[aretas]”. Unos años después, ya viviendo en Misiones, el 16 de marzo de 1911, saca cuentas personales:
2 Este fue el primer artículo en Caras y Caretas, publicado en el no 430, del 26 de junio de 1906, con el seudónimo “Licenciado Torralba”. Aún no se lo ha recogido en libro. Antes, sólo había dado a conocer en Buenos Aires una nota sobre “Los crepúsculos del jardín”, acerca del libro de poemas de su entonces maestro Leopoldo Lugones, que se encuentra recogida en Sobre literatura, 1972.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 25
Vivo de lo que escribo. C[aras] y C[aretas] me paga $ 40 por página, y endilgo 3 páginas más o menos por mes. Total: $ 120 mensuales. Con esto vivo bien. Agrega además $ 400 de folletines por año, y la cosa marcha (Correspondencia…, 2006).
Poco después predicó entre otros amigos la inmejorable oferta de esa modalidad del mercado editorial: Sabrás que estamos llenos de revistas, C[aras] y C[aretas], Pebete [P.B.T.], Pulgarcito, Papel y Tinta, Tipos y Tipetes. Esta última paga muy bien, y Papel y Tinta está muy urgida de colaboración. ¿Por qué no aprontas algo? (Correspondencia…, 2006).
La crítica se ha apoyado en las confesiones del autor para recordar la provechosa lección que tuvo ese “grado inaudito de severidad”, presionado por el secretario de redacción de la revista, quien lo obligó a escribir un cuento limitado a una página de Caras y Caretas, “una sola y estrecha página. Mejor aun: 1.256 palabras” (QUIROGA, “La crisis del cuento nacional”, 11/III/1928, en Sobre literatura, 1972: 92-96). Descontando la hipérbole efectista, con similar rigidez debió tratar la materia de sus artículos, algo que suele olvidarse en buena medida porque siguió estableciéndose el deslinde tajante entre “literatura” y “periodismo”. En dos cartas misioneras al implacable Luis Pardo, quien en ese momento desempeñaba las mismas funciones en Fray Mocho, trató de cubrirse ante los posibles recortes. El 7 de abril de 1911, le escribe que “no pasa todo el artículo de 2.300 palabras, cifra máxima y fatal de las dos páginas”; mientras que el 6 de noviembre del próximo año, anuncia que después: “de largo silencio escribo hoy mandándole artículo de 3 páginas, bastante sucio por haberse embarrado en un temporal días atrás”. Cantidad de palabras exactas en una, cantidad de páginas en otra: no es una información ociosa. Si los requisitos de los editores eran los mismas para el cuento y el artículo, no sería raro que los resultados en las formas se emparejaran. Para eso, Quiroga tuvo que pasar por una etapa de aprendizaje hasta ajustar creatividad a rigor. Sus tres primeros artículos, todos de 1906, presentan una prosa seca, casi descriptiva. Se trata de anécdotas mínimas en que el principiante sobrepasa a duras penas la ingeniosa enumeración de algunas recetas, ya sea sobre el arte de usar la espada o, para el caso de “Hazañas trágicas y ridículas de los pensionistas del Zoo”, ensaya unas pinceladas sobre la violencia de los animales.3 Un tercer factor novedoso vino a cambiar las reglas de escritura. Desde 1899 Caras y Caretas publicaba fotografías, primero retratos y, a medida que la instantánea fue desarrollándose, notas gráficas sobre el presente. El espacio que ganó la fotografía fue cada vez mayor, al punto de desplazar a lo verbal (ROMANO, 2004: 230-231). Quiroga se encontró con otro desafío: “me han pedido notas para ser ilustradas con fotografías”, agrega en la carta a Fernández Saldaña antes citada, solicitud que no toma como algo que inferioriza su arte, sino que le ofrece otras posibilidades de experimentación. A diferencia de los cuentos, a los que se acompañaba con un dibujo realizado a posteriori y sin consulta con el autor, estos artículos de 1906 fueron pensados a la par de la imagen fotográfica, ya en cuanto 3
Los dos recogidos en Quiroga, Lo que no puede decirse y otros textos. Montevideo, Banda Oriental, 1994. (Antología y prólogo de Pablo Rocca).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 26
reflejo y complemento de lo escrito, ya como modelo previo al que debía ajustar su texto. Quizá por eso el propio periodista llegó a proporcionar fotografías, como para “La esgrima criolla”, que cuenta con dos imágenes en las que se ve al autor simulando un duelo a florete con otro contrincante. Para definir las incitaciones que produce una fotografía, Roland Barthes imaginó los conceptos de studium y de punctum. El primero estaría comprendido dentro de los dominios de lo cultural, sería aquello que traemos y que al primer contacto depositamos sobre la imagen, aquello que de inmediato nos transporta a “la aplicación de una cosa, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general, ciertamente afanosa, pero sin agudeza especial”. El punctum, en cambio, se mueve por “el azar que en [la fotografía] me despunta (pero también me lastima, me punza)”. Se trata del “detalle”, de lo que roza al receptor según sus propias leyes perceptivas; mientras que el studium y viene codificado, es el relato que se desprende claramente de la imagen (BARTHES, 1999: 64-65 et passim). En otro ensayo sobre el tema, Barthes estableció el paralelo entre literatura y fotografía: […] la literatura, asunción de la materia verbal, debe multiplicar los signos que la distinguen del lenguaje corriente, que es, dicen, el de la simple comunicación; y la fotografía, consagrada a la representación «objetiva» de los hechos visuales mediante todo una serie de usos […] históricos y sociales, se encuentra sin cesar atrapada entre un estatuto funcional, el de la foto reportaje (registrar fielmente en el momento oportuno) y un estatuto enfático, el de la fotografía llamada «artística» (BARTHES, 2001: 147).
Partiendo de esta doble mirada barthesiana, puede pensarse de otro modo el caso Quiroga y su experiencia de escritura. En cuanto flamante periodista, este se vio sometido a una tarea ímproba, la de refrendar el “estatuto funcional” por medio de un discurso que no lo desbordase, cosa que impedía al texto encontrar la salida “enfática” o la de “la multiplicación de los signos”. Por eso la euforia del novel periodista duró poco, tal vez porque no era muy fácil acomodarse a este régimen con la facilidad que pensó en los comienzos. Después de publicar los tres artículos mencionados, sólo reaparecerá otro de ellos un lustro más tarde, el 11 de marzo de 1911 ( “Muy caro: dos pesos”, en Caras y Caretas), que en realidad es una nota sobre literatura y mercado. No obstante, más que una decepción, este cambio de rumbo debería leerse como un triunfo, porque como puede verificarse en el “Índice de cuentos…” con que se cierra este volumen, para el 1º de setiembre de 1906, fecha de aparición de “Hazañas trágicas…”, ya se habían incrementado notablemente sus cuentos en la revista. Tanto que habían salido seis de ellos entre el 18 de noviembre de 1905 y el 18 de agosto de 1906.4 Descartado el artículo condicionado por la fotografía, alejado el studium, el cuento viene a funcionar como un punctum, como si fuera el nivel del habla (mientras que el otro sería el de la lengua, el de la novela). Dicho de otro modo: el cuento se comportaría como una foto no codificada previamente, no como esa del falso acto de esgrima, sino como una foto que en un leve movimiento apresa el detalle y punza 4 Otro dato estadístico significativo: en 1907, la revista publicó doce cuentos suyos, catorce al año siguiente, y trece en 1909. En los tres años esto arroja un promedio levemente superior a un cuento por mes. Algo insuficiente para vivir de lo que se escribe, como quería el autor, pero muy auspicioso para mantener un lugar entre el enorme público de Caras y Caretas.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 27
la percepción del lector, creando nueva forma, distinta del referente. Visto de esta manera, aunque parta de un referente el cuento modifica la representación, como esa foto que se inclina por el “estatuto enfático”, algo que sucede mucho más si la historia se filia a una tradición literaria. Para darlo en ejemplos de 1906, en el primer caso estarían “De caza” o “El lobisón”, en el segundo, “La lengua” o “Los buques suicidantes”. El artículo literario, tal como lo empezó a crear Quiroga una vez que dejó de subordinarse a esa equivalencia con imágenes prefijadas, no se aleja mucho de esta línea de representación. De ahí que en sus últimos textos, como “Frangipane” (La Prensa, 29/IX/1925) o el mencionado “La tragedia de los ananás” vaya mucho más lejos aun que en los precedentes, experimentado –y esta sería el mejor término que lo define– con el cruce entre lo fáctico y lo ficcional, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la observación exterior y la autobiografía. El seductor párrafo final de “Frangipane”, en el que modula estos discursos, lo explica mejor: ¡Frangipane! Desde el fondo de cuarenta o cincuenta años, una criatura surgía, llorosa y feliz a la magia de ese nombre. Volví lentamente a casa, cuando comenzaba el crepúsculo. La tarde agonizaba en altísima y celeste claridad. Lentamente, por la carretera que ascendía las lomas, entraba en el bosque, proseguía sobre el puente del Yabebirí, el coche lleva consigo, más como pasajero que como conductor, a un hombre de sienes ya plateadas, dulcemente embriagado por los recuerdos de su lejana infancia (QUIROGA, Cuentos, II, 2003: 660).
Doble mano Escribir para la publicación que revolucionó el periodismo latinoamericano le hará aprender el dominio de una prosa austera y concentrada, que sólo la disciplina del espacio tasado podía enseñarle a cincelar. Aprendió rápido, y muy pronto también se desprendió de las formas algo esquemáticas de sus primeros artículos, conquistando soltura, gracia, humor y, en el subtexto, una ironía creciente que tal vez sus destinatarios no pudieran descodificar. Sólo tenía que elegir el asunto, ya se hallara en Buenos Aires o en medio de la selva. Las destrezas múltiples que demostró para imaginar situaciones ficcionales, se agigantaron en la elección de temas para sus artículos. Quiroga se manejó en varios centros de interés a menudo ligados en la cadena temporal y que, además, se bifurcan en dos caminos, que al final convergen. Por una primera senda se desplazan sus artículos sobre: 1) El oficio literario y, en especial, los problemas de construcción del cuento (textos que en su mayor parte se reunieron en el volumen póstumo Sobre literatura, 1972). 2) Animales, plantas y actividades industriales o de observación científica relativas –o derivadas– de la naturaleza (muchas de estas notas recopiladas en La vida en Misiones, 1967). 3) Costumbres, moda y mentalidad de las mujeres burguesas de su tiempo. 4) Deportes. 5) Cine y cultura popular. 6) Política internacional. Habría que sumar a este conjunto la serie “Biografías ejemplares”, que publicó en Caras y Caretas entre el 26 de febrero y el 26 de noviembre de 1927, dedicada a notables de la ciencia y la cultura, en cuya vida encerraran alguna singularidad, hermanados por el desafío individual a las condiciones adversas. En total, hemos computado 137 artículos, con las dificultades para establecer la
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 28
frontera de un género a otro –como en el referido caso de “La tragedia de los ananás”–, número menor al de los cuentos (que suman 248, ver “Índice…”), pero nada pequeño. Veinte de estos artículos, además, no han sido recogidos en libro hasta ahora.5 Menos visible es el sendero que liga esas opciones temáticas con sus cuentos y novelas. Aparte del primer sector con el que edifica una poética de la narración, y que por lo tanto sería parasitario de estas, es claro que los artículos sobre fauna, flora y las experiencias consecuentes son textos contiguos a los relatos “de monte”, desde “Los pescadores de vigas” a “Anaconda”. No tanto porque sean apuntes que los expliquen o justifiquen, sino porque sirven como fuentes para su documentación y, a la vez, para la ilustración de ese lector de revistas, quien tanto lee un cuento selvático como una nota sobre esa región remota, dos actividades que en los años veinte y treinta además de estar revestidas de exotismo quizá no estaban del todo diferenciadas. Por otra parte, y como en sus cuentos, la mujer es una presencia dominante en muchos de sus artículos. “La sonrisa” (Plus Ultra, enero 1919) o “To scalp” (Caras y Caretas, 6/XI/1926), aportan elementos valiosos tanto para indagar la propia mentalidad quiroguiana como para iluminar el nutrido corpus de los cuentos “de amor” y de sus dos novelas principales. La imagen femenina en el cine acude en la nota “Jóvenes bellos” (Mundo Argentino, 4/IX/1929); las represiones en relación con las escasas muestras públicas del erotismo se analiza con mano maestra en “El beso: su uso y su abuso” (Mundo Argentino, 14/XI/1928). Del espíritu lúdico, los deportes y su axiología social en el sur de América se ocupa en “Hombres de sport” (Atlántida, 19/X/1923). En la misma línea se asoma a los productos emergentes de la cultura popular en “Tangos redentores” (La Nación, 15/VIII/1926), “Jazz-band latina” (El Hogar, 17/XII/1926) y “Los tres fetiches” (El Hogar, 19/VIII/1927). En un par de textos políticos publicados en El Hogar en 1920, “Lo que no puede decirse” (12/III) y “Ante la hora actual” (21/V), emerge sin pudor y hasta con fuerza predicativa su ideología ese entonces. En el primer artículo se esperanza ante la “revolución de los soviets”, en tanto confía que esta signifique igualdad social; en los dos no oculta su repugnancia ante la guerra que acaba de devastar Europa y el capitalismo que ha salido fortificado de ella y que degrada la naturaleza humana y su trabajo. En varios cuentos hay trazas de estas perspectivas: “Los cementerios belgas”, “Los inmigrantes”, “La voluntad”, todos ellos referidos al destino de los europeos durante y después de la primera conflagración mundial; “Los pescadores de vigas”, “Los mensú”, “Una bofetada”, “Los desterrados” y, en particular, “Los precursores”, en los que resalta la explotación del campesinado del Norte argentino y, en el último, la historia de una primera huelga en Misiones y su brutal aplastamiento. Escritas al correr de la máquina, intercaladas entre las ficciones o apelando a sus recursos para crear un registro híbrido, a veces hechas para mejor redondear su presupuesto, redactadas para el disfrute de sus contemporáneos y luego para que se las tragara el olvido, estas estampas, estos textos –mejor– se comunican con sus obsesiones más preciadas. De algún modo, y a pesar de que no las reunió nunca en libro, dialogan con sus relatos canónicamente “imaginativos”. Por momentos, como en una forma de circular en doble mano, esos textos muestran que Quiroga era consciente de que las fronteras de los géneros no pueden demarcarse con facilidad. 5
Aunque corresponde esperar que a la brevedad, en el citado plan de Obras de Quiroga, publique en un volumen próximo aquellos que junto al profesor Lafforgue hemos podido hallar.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 29
Bibliografía BARTHES, Roland. La cámara lúcida. Nota sobre fotografía. Barcelona: Paidós, 1999. [1980]. (Traducción de Joaquín Sala-Sahanuja). ______. “Sobre doce fotografías de Daniel Boudinet”, en La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen. Barcelona, Paidós, 2001. [1993]. (Traducción de Enrique Folch-González): 147-160. MARTINS, Ana Luiza. Revistas em Revista; São Paulo: FAPESP/EDUSP /Imprensa Oficial, 2001. QUIROGA, Horacio. Sobre literatura. Montevideo: Arca, 1972. (Tomo VIII de “Obras inéditas y desconocidas” de Horacio Quiroga). (Prólogo de Roberto Ibáñez. Notas de Jorge Ruffinelli). ______. Época modernista. Montevideo: Arca, 1973. (Tomo VIII de “Obras inéditas y desconocidas de Horacio Quiroga). (Prólogo de Arturo Sergio Visca. Notas de Jorge Ruffinelli). ______. Cuentos, vols. I y II. Buenos Aires, Losada, 2003. (Edición de Jorge Lafforgue y Pablo Rocca. Prólogo de Pablo Rocca). ______. Correspondencia y Diario. Buenos Aires: Losada, 2006. (Edición, presentación y notas de Jorge Lafforgue y Pablo Rocca. Posfacio de Jorge Lafforgue). RAMA, Ángel. La ciudad letrada. Montevideo: Arca/ Fundación “Ángel Rama”, 1984. (Prólogo de Hugo Achugar). RIVERA, Jorge B. La forja del escritor profesional (1900-1930), en Capítulo Argentino. Historia de la literatura argentina, Nº 57. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1980. [Posteriormente incluido en el libro El escritor y la industria cultural. Buenos Aires: Atuel, 1997]. ______. “Caras y Caretas: la economía literaria del mercado”, en Clarín. Cultura y Nación, Buenos Aires, 15 de marzo de 1990: 1-3. ROMANO, Eduardo. Revolución en la lectura. El discurso periodístico-literario de las primeras revistas ilustradas rioplatenses. Buenos Aires: Catálogos/ El Calafate, 2004. ROTKER, Susana. La invención de la crónica. México: Fondo de Cultura Económica, 2005. (Prólogo de Tomás Eloy Martínez). VIÑAS, David. Literatura argentina y realidad política. Buenos Aires, Jorge Álvarez ed., 1964.
* Pablo Rocca (Montevideo, 1963). Doctor en Letras (FFLCH, USP). Profesor Titular de Literatura Uru-
guaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (Montevideo, Uruguay).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 30
DE LAS NOTAS Y LOS RELATOS SOBRE CINE DE HORACIO QUIROGA Apuntes sobre su articulación LAURA LORENA UTRERA*
L
a lectura articulada de las notas y de los relatos sobre cine publicados por Horacio Quiroga durante los años 1918-1931 resulta muy productiva. Sobre todo si la pensamos como cierta idea de continuum por medio de la cual el cuentista elabora una secuencia argumental primaria, entre las notas y las ficciones, – el cine se convierte en ‘motivo’ y ‘modelo’ compositivo – y, secundaria, entre las escenas filmadas que Quiroga ve en las proyecciones y la realidad ‘posible’ o acontecida, transferencia emotiva optimizada por el realismo de las imágenes en movimiento.1 Resultará primordial partir del espacio-tiempo: América Latina, Argentina, principio del siglo XX, y del estricto contexto sociocultural en el cual Quiroga pudo pensar estas notas, pues el período de referencia responde a la etapa de modernización de la Argentina que se inicia con el siglo y que entendemos, como lo hace Beatriz Sarlo, “periférica”. Asimismo, nos interesa pensar las nuevas corrientes científicas, técnicas y tecnológicas de esos años como “disparadores imaginarios”, productores de ficciones –pues si bien en ellas se restituyen temas clásicos proponen, a su vez, una recomposición por medio de escenarios modernos-, de crónicas y críticas en las que la técnica actúa como su más estricto contexto y de la que emergen ciertos parámetros discursivos que darán cuenta de la naciente cultura de masas. Se trata de pensar estas escrituras entonces, como una reacción artística frente al impacto de las nuevas tecnologías, que, sin dudas, dieron como resultado una importante productividad ficcional en toda América Latina.2 Las notas se encuentran compiladas en Horacio Quiroga. Arte y lenguaje del cine. Estudio preliminar: Carlos Dámaso Martínez; advertencia a cargo de Jorge Lafforgue; compilación de textos: Gastón Gallo, con la colaboración de Denise Nagy. Buenos Aires, Losada, 1997. Cuando citemos alguna nota colocaremos el número de página entre paréntesis. En cuanto a las citas de los relatos, la edición que utilizaremos en nuestro trabajo será: Horacio Quiroga. Todos los cuentos (1993). Edición Crítica. Coordinadores: Napoleón Baccino Ponce de León y Jorge Lafforgue. París, ALLCA XX, Fondo de Cultura Económica, Colección Archivos, 1996: “Miss Dorothy Phillips, mi esposa”, pp. 436-463; “El espectro”, pp. 542-552; “El puritano”, pp. 762-766; “El vampiro”, pp. 717-731. 2 Las relaciones de los intelectuales latinoamericanos con el cine de Hollywood fueron desde el comienzo muy difíciles, pues por medio de sus crónicas, participaron de un debate en permanente tensión. Cabría preguntarnos, ¿qué les preocupa del cine y qué alcance nacional o internacional oculta este desvelo 1
Las notas de Quiroga representan, dentro de su producción, “un gran descubrimiento textual”, pues por él accedemos a un amplio espectro de preocupaciones, saberes y problemáticas que abarcan desde la escritura de un guión – reforzada con el intento de creación de una empresa cinematográfica que intentan Quiroga y Manuel Gálvez en 1917 –,3 la crítica mordaz e irónica sobre los últimos estrenos, comentarios de los entretelones amorosos de las estrellas de cine, la búsqueda de un concepto artístico para la nueva manifestación estética, hasta la declarada pasión por ciertas divas del star system. En esta escritura, Quiroga define qué cine es el que pretende encontrar en cada una de las proyecciones fílmicas, focalizando en el concepto: “El cine es arte realista y mudo por excelencia”. Y piensa este nuevo arte partiendo de ciertas nociones que le resultarán centrales a la hora de componer un relato. A su vez, consideramos a las notas como un dispositivo de escritura que sostiene dos motivos excluyentes: el primero tiene que ver con lo que la crítica ya ha señalado, el temprano interés de Quiroga por la técnica y la estética del cinematógrafo – y que, previamente, tuvo por la fotografía – y, por estéticas de gusto, pues, como se sabe, Quiroga fue asiduo espectador del cine popular de los años veinte: “Cuando vivíamos en Buenos Aires – cuenta María Elena Bravo, su segunda esposa –, íbamos al cine todos los días”; esto trae aparejado la constitución incipiente de un concepto de espectador y de crítico cinematográfico en Quiroga. El segundo refiere a que en estas notas se lee una serie de problemas y de tensiones que responden, por un lado, a un creciente desarrollo cultural en que se discutirá, por ejemplo, la categoría de arte en la imágenes en movimiento y, por otro, a las tensiones que revelan el redimensionamiento de lo popular debido a la existencia de un mercado de nuevos lectores que ahora, transformados en espectadores, consumen proyecciones, reseñas y ficciones sobre cine. Quiroga recibe dinero por estas escrituras que abordan temas y tópicos acordes con los intereses de los lectores – el cine era uno de ellos –, y que responden a las exigencias de los jefes de redacción, en el marco de una realidad cambiante por medio de la cual la actividad escritural se encontraba en estrecha relación con las nuevas condiciones de producción de la obra. Escribir de acuerdo con estos intereses aviva la popularidad de los escritores y garantiza las ventas masivas de las revistas. Quiroga, claramente comprometido e involucrado en estos medios de difu-
3
para justificar la escritura de tantas reseñas cinematográficas? Algunos de ellos se preguntaban por el nuevo lenguaje estético de las imágenes, por el efecto onírico y mágico del cine en los espectadores, por la hegemonía cultural de las magnas producciones, por la influencia de las estrellas en el público consumidor, por la crisis del cine sonoro, por la cuestión ética – en la cual se discute la educación y el crimen –, y, sobre todo, por la posición jerárquica del cine con respecto a otras artes cultas o populares. Otros, despreciaban esta nueva manifestación por considerarla un simple entretenimiento de masas que distaba estéticamente de su hermano mayor: el teatro. Ver: Borge, Jason. Avances de Hollywood. Crítica cinematográfica en Latinoamérica, 1915-1945. Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2005. El propósito de este proyecto era llevar a la pantalla sus propios guiones pero, ante las precarias condiciones de la incipiente industria cinematográfica argentina, el intento fracasa. Manuel Gálvez en sus memorias relata el momento del siguiente modo: “Tanto él como yo creíamos con entusiasmo en el porvenir del arte cinematográfico. Nos parecía que, además de un formidable negocio, podría ser una solución económica excelente y digna para los escritores. Yo me comprometí a buscar el dinero, y tenía grandes esperanzas de encontrarlo. Pero, desgraciadamente, las personas con quienes hablé no pensaban como nosotros. O acaso no confiaban en nuestras aptitudes financieras. Entre otros, fui a ver a Carlos Alfredo Tornquist, que por entonces dirigía la casa bancaria que lleva su apellido. Le expliqué mi proyecto: una sociedad anónima, por acciones. Tornquist no se interesó. Y al fin, Quiroga y yo desistimos” (GÁLVEZ, 2002:270, 271).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 32
sión masiva – caracterizados por la modernidad técnico – periférica, por una concepción menos sacralizada del producto artístico, por el profesionalismo, por el conocimiento de los gustos del público consumidor, por cierta lógica de integración- se suma al grupo de escritores que se “realizará” – en términos de escritura – gracias a esta industria cultural en boga. Al igual que Edgar Allan Poe, Quiroga “pacta con el público, pero eso no quiere decir que se someta, sino que ha establecido una frontera de contacto” (RAMA, 1968: 12). Así surgen los relatos, productos de la selección de elementos que estarán al servicio de una composición breve e intensa que determinan, asimismo, un nuevo modo de leer. En este sentido, Quiroga efectúa una elección moderna (RIVERA, 1976: 64) que tendrá una incidencia en gran medida positiva sobre su labor poética al tiempo que nuevas manifestaciones estéticas como las del cine mudo de Hollywood formarán parte de su repertorio y constituirán asimismo, un nuevo régimen de lectura que mostrará cierta conjunción entre imagen y texto. En este contexto, es preciso leer las notas y los relatos cinematográficos puesto que constituyen un paradigma “exponente de lo que puede una inteligente y talentosa ‘lectura’ de los medios” (RIVERA, 1976: 67). Podemos leerlos como un dispositivo, que raya la nota periodístico-crítica, pues Quiroga muestra al público lector de los años veinte una serie de tensiones que responden: al creciente desarrollo cultural en que se discutirá, entre otros asuntos, la categoría de arte en las imágenes en movimiento (en contraposición con las ideas que de esas manifestaciones tuvieron parte de los intelectuales pragmáticos de la cultura institucional); a la implementación de recursos técnicos en la modernidad periférica de Buenos Aires; a la creación de cierta ‘cartografía’ de Hollywood y a las tensiones que revelan un redimensionamiento del concepto de lo popular debido a la existencia de un mercado de nuevos lectores que consumen masivamente películas, reseñas, funciones de teatro y ficciones sobre cine y conforman las capas medias del Buenos Aires de esos años. Quiroga convierte (…) su materia (esa misma que tantos otros vivieron de manera equívoca, como solapada expresión de la “crisis de la cultura” o que apenas aceptaron como una humillante condición de las “ilusiones perdidas”) en una lección de creatividad que se estructura a partir de los códigos y de las prietas delimitaciones del espacio periodístico (Rivera 1976: 62).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 33
De las notas y de los relatos Horacio Quiroga publica sus notas sobre cine entre los años 1918-1931, período que coincide con la época en la que en nuestro país se instauró el cine mudo de Hollywood y aparecen las primeras manifestaciones del sonoro, precisamente, en 1929, cuando en el más lujoso cinematógrafo de Buenos Aires Grand Splendid se proyecta por primera vez La divina dama.4 Solía publicar un promedio de tres notas semanales dedicadas en su mayoría a la revisión de los estrenos y, a pesar de su predilección por el cine de Hollywood, no deja de señalar que de la gigantesca cantidad de películas norteamericanas estrenadas por año sólo un mínimo porcentaje posee algún valor artístico. Como así también, colocará el énfasis crítico en la conflictiva relación entre la star y el estudio que produce la película, pues todo dependerá del acierto de los estudios para situar a la estrella en un personaje acorde a sus características físicas y expresivas. A su vez, reniega de la falta de buenos argumentos y de la repetición de fórmulas exitosas. Esto lo lleva a criticar a las productoras norteamericanas porque contratan guionistas de poca monta y por la fallida adaptación de clásicos de la literatura; así, por ejemplo, sobre la versión fílmica de Fausto de Estanislao del Campo dice: “las fuerzas del cine van bastante más allá de exhibir en la pantalla, y mal, una ópera que el teatro ha exhibido un millón de veces, y bien” (p. 266). Quiroga bregará por la producción de argumentos originales cuya constitución dramática deberá estar en manos de escritores “únicas personas en suma de quienes es verosímil sospechar capacidad” y resaltará la labor del director como factor de importancia capital. Asimismo, es necesario remarcar que las notas carecen de muchos de los términos que, incipientemente, formarán parte de la retórica del cine y de su técnica. Quiroga dice con un lenguaje llano, es decir, utiliza una gramática que evidencia la falta de un concepto fundamental como el de montaje paralelo que haría más precisos, incluso, sus juicios sobre David Griffith. El narrador no nos va a hablar del recurso técnico operativo del cine sino, antes bien, lo suplirá con alusiones continuas a los conceptos de imagen instantánea, flou y primer plano. Sin embargo, observa minuciosamente y en detalle los alcances de la imagen cinematográfica, destreza que le permite un cruce muy productivo entre los argumentos de las notas y los de los cuatro relatos sobre cine. En este sentido, existe una continuidad discursiva entre las notas y los relatos sobre cine. Esto expresa el valor que Quiroga encontró en el nuevo arte, pues lo interesante será observar cómo el cuentista lee los procedimientos de índole narrativo en el cine (que le son propiciados por el uso de las técnicas de rodaje) y también, qué es lo que halla en la 4 En 1918, Quiroga publica sus primeras dos críticas cinematográficas en la revista El Hogar. Desde 1919 a 1920 dirige una columna sobre cine en la revista Caras y Caretas; allí publicará treinta y dos reseñas firmadas con el seudónimo “El esposo de Dorothy Phillips”. Luego, y por el transcurso del año 1922, publicará notas muy elocuentes en la Revista Atlántida; allí tendrá una columna titulada “El cine”, la cual firmará con su nombre, retomando la escritura en 1927 a su regreso de San Ignacio. Colaborará en El Hogar hasta 1928; en esas crónicas se advierte una labor importante en lo concerniente a la definición, conceptualización y diferenciación del cine mudo con respecto a las poéticas teatrales. Retomará esta escritura en 1929 y 1931; en esos años publicará las tres últimas: una en la revista Mundo Argentino y las otras dos en el diario La Nación. Esto arroja un total de 71 comentarios sobre cine a los que podemos agregar la entrevista que fue publicada en la revista Atlántida el 22 de diciembre de 1927. Bien puede conjeturarse, como lo ha señalado la crítica, que la irrupción del sonido fue el motivo por el cual Quiroga deja de escribir las crónicas sobre cine, porque, precisamente, a lo largo de ellas lo conceptualizará como “arte mudo y realista por excelencia”; a lo cual podría agregarse su regreso a San Ignacio en 1932 (las fechas de publicación de estas crónicas, incluso, fueron interrumpidas por sus viajes a Misiones).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 34
literatura y lo que pretende para el cine. La falta de un vocabulario técnico no le impide el análisis de la textualidad fílmica, aunque algunas veces recurre a explicaciones que resultan dificultosas, por ejemplo, cuando describe el flashback – flashforward en el filme “La chantajista”: “Sobreviene, luego, un salto adelante, que sume en confusión al espectador, pero cuyo objeto es retrotraer la acción pasada y explicativa. El procedimiento se ha usado a menudo, pero en La chantajista con singular eficacia” (p. 89-90). Quiroga trata de comprender la utilización de medios técnicos que intervienen para que la narración no se detenga, ni se encuentre interrumpida por ‘convencionalismos desagradables’, escenas en las que prime un exceso violento o detalles que imponen artificiosidad; es decir, pretende obtener escenas verosímiles en las que la brevedad descriptiva establezca una precisión acerca de la realidad, y precisamente, que le devuelvan al espectador cierto efecto real:5 “el cine emerge como trasfondo alucinatorio u obsesivo, en inquietante contrapunto entre realidad y fantasía” (COUSELO, 1976: 72). Deberíamos preguntarnos entonces: ¿cuáles son los recursos que permiten efectos reales en los cuentos sobre cine? O, mejor aún ¿El cine con su realidad paralela, le proporciona a Quiroga ciertos elementos imaginarios que permiten la trascendencia del mero registro fantástico? Estas preguntas serán centrales y, a la vez, configuran el enigma que los relatos sostienen: ¿qué es lo real frente a lo fantástico? Como lo ha advertido Nicolás Bratosevich, la literatura, y aun más abarcadoramente el arte, tiene su lado demiúrgico y produce a su modo la vida, como Quiroga dijo a propósito del cine (…). Prolongando estas líneas a aventuras fantásticas, damos con los relatos donde el cine crea efectivamente esa vida, donde la imagen del actor que evoluciona en la pantalla nos descubre realmente en la platea (BRATOSEVICH, 1976: 71). Los relatos “Miss Dorothy Phillips, mi esposa” (1919), “El espectro” (1921), “El puritano” (1926) y “El vampiro” (1927) sientan su antecedente en las Notas sobre cine, emergiendo así cierta idea de continuum por la cual se elabora una continuidad entre los argumentos de las notas y las ficciones y entre las escenas filmadas que Quiroga ve en las proyecciones y la realidad ‘posible’ o acontecida. Para ilustrar esta idea pensamos en la crónica necrológica “Williams S. Stowell” (14-2-1920), allí Quiroga informa a los consumidores de la chismografía sobre la muerte real de este actor de Hollywood y para ello, evoca la muerte de un personaje interpretado por Stowell en una película. Quiroga cree en cierto anticipo, cierta continuidad entre las escenas y la muerte real.6 Si bien Quiroga determina en sus notas “el detalle sugestivo y evocador” de un modo muy próximo a como Roland Barthes postula la función del detalle inútil en “El efecto de realidad” (1968), es necesario diferenciar el efecto de real que Quiroga pretende del concepto barthesiano. Pues en Quiroga el efecto de real estará medularmente atravesado por el aporte que la imagen muda y en movimiento hace a su poética de la composición, en la medida en que el cine se le presentará como la herramienta privilegiada por medio de la cual es posible otorgarle un nuevo valor imaginario y real a la palabra. El cine lo fascina porque Quiroga encuentra ahí la posibilidad de que lo real ingrese y supere lo verosímil. Vale decir, además, que sus reflexiones adscriben a la consideración de un espectáculo realista, en cuanto a lo que éste tiene de verdad y archivo de vida. 6 “Así, pues, de trágica manera, en pleno corazón de África, como un filme cualquiera de espectáculo, se acaba realmente la vida de un actor que la ha expuesto cien veces y la ha perdido en una ocasión, en la pantalla. Ciertamente, durante las interminables veinticuatro horas en que él ha sentido morirse poco a poco, no es fácil que Stowell haya recordado tan nimia cosa como el final de una cinta suya en que él pierde la vida. Pero a nosotros, que del actor no conocíamos sino su actuación dramática, su agonía, su cierre final de ojos de verdad, nos trae vivamente a la memoria La gran pasión (su mejor filme), en que ya lo hemos visto morir. Ya hemos visto su facies atónita y desencajada por el shock; su boca entreabierta, 5
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 35
“Miss Dorothy Phillips, mi esposa” La nota “Aquella noche” (1918) es casi una pieza de ficción (Cf. DÁMASO MARTÍNEZ, 1997) que anticipa el argumento del relato “Miss Dorothy Phillips, mi esposa” (1919). Formalmente, esta nouvelle es una expansión del sintagma inicial, pues sus primeros párrafos condensan el desarrollo argumental de la narración, cuya finalidad será la de dar respuesta a un deseo utópico, colectivo y, a la vez, generador de identificaciones imaginarias: ¿cómo es posible enamorar a una estrella de Hollywood?, que será resuelto, en este caso, en términos realistas. El narrador-personaje Guillermo Grant, enamorado de Dorothy Phillips, viaja a los Estados Unidos -con pleno conocimiento del adentro de la “fábrica de sueños” – simulando ser un importante editor de una revista. La historia de amor narrada se ajusta a los presupuestos compositivos de una publicación sentimental, sobre la cual se desliza un ideal de felicidad que alimenta “la ideología narrativa como elemento imaginario de integración” (SARLO, 2000: 163) constreñida por un deseo “utópico”: conquistar el corazón de Dorothy – evaluado por Grant como “mal negocio imaginativo”–; y que, a la vez, adelanta el desenlace del relato, pues como todo será ‘parte de un sueño’ queda vedada alguna posible trasgresión – que, aunque es mínima, en este relato existe. Lo destacado de la historia es que el romance sucede entre una exitosa estrella de cine americano – “es casada, pero no importa”, argumenta el narrador – y un argentino de clase media. Guillermo Grant se construye como otro (como lo otro, lo sudamericano), se concibe otro diferente del que es, se crea una personalidad ficticia y desempeña un papel al que se atiene a pesar de su verdadera naturaleza, provocando una ficción de la ficción, ficción de su realidad. Lo interesante de este comportamiento no será tanto el contenido como su forma: es el deseo de ser otro, de distinguirse y por tanto de hacerse notar; lo cual en el relato puede significar la estima que el personaje construye y la preservación de un cierto lugar que por medio de rodeos y mentiras se desea ocupar en el seno de la sociedad americana. El eje axiológico de Grant será Hollywood, su horizonte está allí y no en Europa o en Nueva York; en ningún tramo del relato hay dudas sobre esto y cuando se introduce alguna idea acerca de Europa, es para realzar la ‘forma’ del acting americano, tantas veces ponderado por Quiroga en sus críticas. En este marco y de acuerdo a lo que Jason Borge advierte, la elección por Hollywood is a strategy based less on exclusion and opposition than it is on integration and assimilation. For if Quiroga uses Phillips and Hollywood to highlight some of the distinctions between North and South, he also adopts a cinematic style identified by Quiroga with the United States. It is a strategy of dependence, as it were, but a dependence that proves subversive (BORGE, 2001: 318).
Sin embargo, creemos que las diferencias entre América del sur y del norte no estarían dadas en la relación de la estrella con Hollywood, sino en la que construye Grant con el mundo de las estrellas, con Hollywood y con el carácter tecnológico del cine (y su y su vida escapándose de entre los brazos de Dorothy Phillips. Y la impresión revive ante el fúnebre episodio de ahora, saboreado de ante mano”. (QUIROGA, 1997: 69-70).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 36
aplicabilidad en América Latina). Asimismo, creemos que la concepción de ‘una dependencia subversiva’ en un relato cuyo final se resuelve con el narrador despertando de un sueño, vale decir, en un relato donde no hubo viaje, ni revista, ni historia de amor, ni película, ni casamiento, se revierte toda posibilidad de subversión; hasta antes de ese final, tal vez, podría comprobarse dicha tesis. Desde su inicio, el argumento adelanta el final del relato, pues Grant narra desde una atmósfera cargada de ciertas sensaciones oníricas (“porque sueño, sueño siempre”, “paraíso ideal, soñado, mentido”, “como la soñaba en ese instante”, “oí, pero como en sueños, su voz”, “demasiado rojo para las noches blancas de un jefe de Ministerio”… – cita que refiere a la prefiguración de Grant como espectador insomne), y se refuerza con el uso que realiza de la mentira, del engaño y del falseo para construir de sí mismo un otro (neurosis bovarista), así Grant se presenta como un insomne pues, frente al rojo mágico que destilan las estrellas, padece de noches blancas: “soñar despierto es el prototipo para la producción de mundos imaginarios en un intento de corregir la realidad percibida” (STAM, BURGOYNE, FLITTERMAN-LEWIS, 1999: 181). Grant simula e imagina en sí mismo un otro porque necesita entrar en ese universo estelar y su verdadera identidad, la de ser un jefe de ministerio, no contribuye a su fantasía. Todo esto es posible debido a la transferencia emotiva optimizada por el realismo de ese primer cine y a la evocación que ese espectador hace de su sueño, de su fantasía y de ‘su’ cine (dentro y fuera de las salas de proyección).7 Grant registra el efecto de las películas sobre los espectadores por medio de la recuperación que hace de una serie de factores que provocan tal ilusión, pues si bien su discurso remite a la constitución de un sueño, “los procedimientos que se emplean en este tipo de discurso, tienen sus analogías en el estilo cinematográfico” (MORIN, 2001: 75). El relato responde a un prototipo de escritura melodramática – novela familiar – que sufre una alteración de género: no se tratará de la joven pobre, mal casada que espera ser correspondida – y que habitualmente encontramos en las narraciones semanales de esos años –, sino de un burócrata de clase media que, enamorado de un par de ojos – de una mujer que considera cosa muy ligera mirar largamente en los ojos a un hombre a quien ve por primera vez –, pretende su amor. De hecho, Grant se enamora de Dolly que, a sabiendas de sus embustes, sigue el juego y decide la unión. La historia muestra además, cierto lugar de los latinoamericanos frente a los Estados Unidos y esboza, específicamente, una idea acerca de cómo un sudamericano que simula ser otro, enfrenta de un modo seductor – con su “revistita” falsa – la potencia mercantil y espectacular de las empresas yanquis: éstas entienden de máquinas y de estrellas, pero muy poco de amor. Grant adopta, por medio de un monólogo interior, la pose de un latin lover que goza de cierta escopofilia, pues todo este relato está intervenido por el uso de términos que remiten al goce a través de la mirada: “Adorada mía: un sudamericano puede no entender de negocios ni la primera parte de un film; pero si se trata de una falda, no es el cónclave entero de cinematografistas quien va a caldear el mercado a su capricho” (p. 449); “Se notará que lo que busca el autor es un matrimonio por los ojos” (p. 441).8 Grant interactúa 7 “En el cine, debido precisamente a que este espacio de subjetividad es producido como un espacio vacío, se puede dar el deslizamiento que crea en el espectador la sensación de producir la ficción cinemática” (STAM, BURGOYNE, FLITTERMAN-LEWIS, 1999: 183). 8 La escopofilia define el placer general de mirar, mientras que el vouyerismo denota una perversión específica en ese placer, pues de lo que se trata es de asociarlo con una posición de observación privilegiada y a la vez oculta: mirar por el ojo de una cerradura. Por tanto, en el análisis que hacemos de este relato
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 37
en el mundo de Hollywood al tiempo que marca las diferencias entre sus formas técnicas de producción y las de los latinoamericanos. Grant se convierte en estrella de cine y filma – a través de la escritura – su película: es simultáneamente espectador y actor. De modo que, el cine constituye un nuevo acto de mimesis narrativa por el cual el artificio de la estrella de cine es re-presentado por la cámara-ojo de Grant, como si estuviera dirigiendo su propio filme, desde estos términos, la historia en más de un aspecto simboliza un homenaje a la narrativa filmográfica de Hollywood (Cf. BORGE, 2001). En la nouvelle, emerge un lugar común: Hollywood como fábrica de sueños (con su cielo estelar), materializándose de este modo, ese campo léxico: Quiroga le da un tono y un contenido sentimental a esa metáfora estereotipada, pues el relato es producto de un sueño, a la vez que las estrellas tienen su lugar dentro de los talleres (estudios-cielo) y no al aire libre “porque de día lucen poco, tienen manchas y arrugas”. Asimismo, a lo largo de la narración podemos articular algunas de las ideas allí esbozadas con las que Quiroga abordará más tarde en sus notas, por ejemplo, las superproducciones, la gran cantidad de filmes que se estrenan por año, la tipificación de los galanes, los peligros que el arte corre frente a la amenaza de su masificación, la condición del actor.
“El puritano” La interdiscursividad sucede también entre las notas y los otros tres cuentos. Las notas “Las orgías del cine” y “Cine de ultratumba”, ambas de 1922, anticipan el argumento de “El puritano” de 1926, pues relatan las vidas al borde de las estrellas; orgías, alcohol y suicidio: “En Hollywood, Santa Mónica y Los Ángeles, las estrellas se divierten, queremos creerlo, y es agradable, clásico y fatal que lo hagan (…). Orgías… Seguramente las ha habido y las habrá en Los Ángeles” (QUIROGA, 1997: 220), “Porque es realmente curiosa la persistencia de los muertos del cine en sobrevivirse” (QUIROGA, 1997: 311). El cuento “El puritano” narra la historia de espectros que viven en los estudios cinematográficos. Actores y actrices que, al quedar atrapados en las cintas de celuloide de las que fueron sus protagonistas, pasan a un estado fantasmal que funciona como una suerte de “sobrevida intangible, apenas cálida para no ser de hielo” (QUIROGA, 1993: 762). Los filmes y las proyecciones han privado a estos espectros de ser parte del mundo de los muertos y cada vez que se proyecta en Hollywood una película que protagonizaron, los espectros de estos actores desaparecen, retornando al estudio, ni bien la proyección acaba. El narrador cuenta que una tarde hizo su entrada a este sub-mundo una famosa actriz suicida que no nombra. La actriz (Ella) se quitó la vida porque su amor por Douglas Mac Namara – el puritano – no fue correspondido. Douglas, a pesar de estar enamorado de Ella, permaneció fiel a ciertos escrúpulos morales (era casado y tenía un hijo). La ausencia de la amada lo angustia y decide pegarse un tiro. Este relato trabaja con la idea del rechazo, y pone en vilo la relación entre sexos opuestos, pues cuando un hombre se le niega a una mujer que se le ofrece, sea por el motivo que fuere, por caso, estar atado a preceptos éticos, morales o personales, la negación posee un plus penoso, de poco
creemos más pertinente el uso del concepto escopofilia.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 38
caballeresco y, en cierto modo de ridículo, más para el hombre que para la mujer, la cual fácilmente da un giro trágico al hecho de haber sido rechazada.9 Una vuelta al melodrama, intervenido por la trágica muerte de una actriz bella que no soporta el rechazo y se mata, y por la de Douglas quien una vez muerta la star quedó desorientado, desarraigado y sumido en la vacilación. Suicidios que serán re-significados por el hecho de que el romance se establece entre una liberal estrella de cine y un miembro de la secta puritana (cultura excéntrica y padres de la modernidad). Este es un cuento de fantasmas cuyas apariencias se encuentran mediadas por la tecnología: los espectros no serían tales sin su intervención. Evidentemente, con estos personajes asistimos al reflujo de lo fantástico, esta vez connotado por lo tecnológico, pues los fantasmas se modernizan: en como si por un asunto cinematográfico, o mejor, es como si un asunto necesitara de lo cinematográfico para traducir ciertas verdades de la vida que resultan transgresoras.
“El espectro” El argumento de “El espectro” (1921) es anticipado por varias notas en las cuales se muestra cierta inmediatez segregada por la animación de la imagen y de la cual el cronista no puede desprenderse, a la vez, las crónicas proponen una lectura del lenguaje de la mirada: “Viven realmente en ese instante. No son ellos fotografías de ropero y de vetusto álbum de familia: se ríen, se desvisten, se abrazan con intensidad carnal de la vida misma” (QUIROGA, 1007: 310). Desde el comienzo del relato, los protagonistas se encuentran fuera de sus cuerpos físicos, están muertos aunque próximos a la vida. El cuento narra la historia de tres personajes: la del matrimonio compuesto por los actores de Hollywood Duncan Wyoming y Enid, y la de Guillermo Grant (narrador-personaje), amigo de Duncan. Al morir el actor – que deja sin estrenar los filmes El páramo y Más allá de lo que ve –, Grant comienza un romance con Enid. Los amantes concurren al estreno de El páramo, filme que narra la historia de un hombre que asesina al amante de su mujer. Enid y Grant encuentran cierta analogía entre las imágenes de ficción que la película muestra y su verdadera historia y, en la ambigüedad entre lo Real y lo Irreal, el mundo filmado -que tiene petición de verdadafecta al mundo real, pues una verdad ‘aparente’ suscitará percepciones subliminales. Los amantes discuten y perciben que la imagen de Duncan se desprende de la pantalla y se corporaliza para cobrar una deuda simbólica impaga: Pero una noche noté, (…) que los ojos se estaban volviendo hacia nosotros. Enid debió de notarlo también porque sentí bajo mi mano la honda sacudida de sus hombros (…) para nosotros – Wyoming, Enid y yo – la escena filmada vivía flagrante, pero no en la pantalla, sino en el palco, donde nuestro amor sin culpa se transformaba en monstruosa infidelidad ante el marido vivo… (QUIROGA, 1993: 548).
9 SIMMEL, Georg, “La libertad y la dominación de la mujer” en Cultura femenina y otros ensayos, Buenos Aires, Colección Austral, 1946.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 39
Es como si Grant–espectador fuera el amante en el argumento del filme, es decir, en él sucede la ilusión-identificación que todo espectador – y más aún, un espectador de los años veinte – erige con ciertas historias del cine. El narrador le apunta con un revólver a Duncan y la bala se aloja en su propia sien. Al cabo de unos días, Enid también muere. Espectros entonces, se encuentran fuera del tiempo y de la vida y recorrerán los cines a la espera de la proyección de Más allá de lo que ve con la esperanza de entrar nuevamente a la vida y a la espera de que el milagro se produzca. Lo relevante del relato está en el vouyeurismo acusado por Enid y Grant, pues ambos personajes gozan al ver, de hecho los amantes repiten la escena varias veces, los amantes necesitan volver al cine noche tras noche. Esa repetición es la que mantiene la vigencia de lo simbólico en el relato: “La comunicación no-verbal de la mirada comienza durante el período del encantamiento, a través de la seducción que ejerce Grant y luego en el tópico del espectáculo, desborde de mensajes que transitan de un lado a otro de la realidad” (RODÉS-CLÉRICO, 1997: 82). La imagen del difunto se encuentra exaltada por el uso que Quiroga acusa de algunos recursos técnicos del cine, pues, al momento de activar ese universo imaginario, recurre al primer plano, al close up, a los encuadres; técnicas éstas que contribuyen a los procesos perceptivos por medio de simulacros que diagraman atmósfera de absoluta verosimilización a través de la cercanía del actor, el movimiento de las imágenes, el efecto de la imagen saliente de la pantalla, etc.10 Es evidente que detrás de esa suerte de pesadilla, se esconde la implosión de un aspecto libidinal a través de cierta mirada placentera – en Enid y en Grant. A la vez, el relato muestra los contornos previsibles de una realidad distorsionada, pues se juega, continuamente, con una asociación virtual entre realidad y fantasía, remitiendo a las relaciones existentes entre sistemas de signos – verbales y no verbales – a través del lenguaje de la mirada. En la nota “Las cintas de ultratumba”, de junio de 1920, se anticipa el argumento de un cuento de asunto fotográfico: “La cámara oscura”, de diciembre de 1920. La nota dice: “Cuando un hombre del mundo normal muere, su imagen permanece en el corazón de sus deudos y en algunas fotografías, tan muertas como él. Pero para el resto de la humanidad, la figura del difunto desaparece para siempre jamás” (QUIROGA, 1997: 141). Las ideas acerca de la muerte están relacionadas con la ausencia de la visión: al muerto no se lo puede volver a ver. Una fotografía recupera un instant de ese ser y el cine, una serie viva de ellos. Las preguntas sobre la muerte reinan en los cuentos cinematográficos al igual que en la mayoría de los relatos de Quiroga. Sin embargo, en su respuesta tecnológica observamos cierta metamorfosis: los personajes (espectros fotográficos) experimentan la vida después de la muerte gracias a las posibilidades otorgadas por la técnica de un dispositivo novedoso y singular – gracias a los caracteres constitutivos del cine que Quiroga ve y usa en sus relatos: el doble, la metamorfosis y la ubicuidad – que les permiten cierta recuperación virtual por medio de un ‘paralelismo vital’. Estos asuntos que fueron tempranamen-
10 Como lo ha afirmado la crítica, este es el argumento de La rosa púrpura de El Cairo (1985) de Woody Allen. Agregamos que Buster Keaton en Sherlock Jr (1924) también se ocupa de esta transferencia imaginaria, de la convivencia ‘real’ de dos planos diferentes: el que propone la ‘realidad’ y el que representa el cine como ‘real’. Como se ve, ambos filmes son posteriores al cuento de Quiroga, quien no sólo elabora una nueva lectura sobre el doble en el espejo mágico de la pantalla sino que también muestra el salto sobre ese espejo.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 40
te pensados por Quiroga anticipan, como lo afirman Dámaso Martínez (1996) y Beatriz Sarlo (2004), el argumento de la novela de Adolfo Bioy Casares La invención de Morel: La Invención de Morel, como comienzan a hacerlo los cuentos de Quiroga, desarrolla una hipótesis sobre el potencial de producción de imágenesreales que se atribuye al cine. Los espectros y vampiros son proyecciones de la misma imagen técnicamente perfeccionada hasta alcanzar el punto por donde se atraviesa la línea que separa el analogon cinematográfico de su primera referencia (aquella que, en la filmación, la cámara ha captado)” (SARLO, 2004:28).
“El vampiro” Por su parte, la nota “La locura de las trincheras” de 1920 anticipa parte del argumento de “El Vampiro” de 1927 – incluso predispone al cronista para la escritura de un relato: “el cuadro de estos dos mil hombres internados (…) es ya sobrado horizonte para una pieza de ficción” (Los subrayados con nuestros, QUIROGA, 1997: 118)-. En el cuento se transcribe algo que la nota dice: Después de la batalla de Champaña, donde, como se recordará las trincheras alemanas estuvieron sometidas a un cañoneo sin precedentes, dos mil soldados germanos, que habían soportado el fuego, fueron internados en sanatorios especiales, con una nueva forma de locura cuya manifestación típica era un estado constante de estupor ansioso, que sólo se rompía al menor ruido en atroces aullidos de sufrimiento. Las salas se mantenían casi oscuras, y los enfermos yacían acostados, inmóviles y los ojos abiertos. Pero un poco de luz que entrara bruscamente, la caída súbita de un frasco, provocaba ataques de loca furiosa. (QUIROGA, 1997: 118).
En el relato, Grant narra: “Tumba viva han llamado los nerviosos de la guerra a estos establecimientos aislados en medio del campo, donde se yace inmóvil en la penumbra, y preservados por todos los medios posibles del menor ruido” (QUIROGA, 1993: 717). La historia de “El vampiro” evoca el retorno de Drácula,11 desde luego, con las marcas de la fenomenología del cinematógrafo inaugurada por la revolución técnica del siglo XX, pues de lo que el cuento trata es de una imagen femenina reproducida por la técnica que tiene la apariencia de una persona ‘real’, a quien el narrador restituye como vampiro: “¡Es un vampiro, y no tiene nada que entregarle!” (QUIROGA, 1993: 730) y, que remite a un sentimiento paradojal: por un lado, la amenaza originada por los adelantos tecnológicos de principios de siglo y por otro, la fe en la tecnología que se reconfigura en la puesta en 11 Adriana Rodríguez Pérsico advierte que en el relato de Quiroga “Drácula retorna”, y marca las analogías entre los personajes y asuntos en el cuento de Quiroga y en la novela de Stoker. (RODRÍGUEZ PÉRSICO, Adriana. “Fantasmas modernos: ciencia, tecnología y misterio. Vampirismo y cine” en Relatos de época. Una cartografía de América Latina (1880-1920). Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2008, pp. 386-394).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 41
crisis del milagro. El cuento comienza con el relato de Guillermo Grant (narrador) quien se encuentra internado en una sala para enfermos que padecen de un estado de “extrema depresión nerviosa”. Desde esa sala oscura, cuenta su historia como racconto. Grant se construye como un reseñista de temas técnicos, como un diletante de las ciencias que, en una oportunidad había publicado un artículo sobre los rayos N1.12 Pasado un tiempo, recibe una carta de un lector llamado Guillén de Ursúa y Rosales, solicitándole datos sobre su comentario. Frente a una segunda carta, Grant acude a su encuentro. A partir de ahí, comienza la otra historia, pues el frágil equilibrio de su realidad cotidiana se resquebraja ante la aparición de algo que irrumpe y que origina el trauma: Rosales se reencuentra con Grant en el cinematógrafo y lo invita a cenar. Grant concurre al palacete donde moraba su anfitrión y allí ve deambular el espectro de una actriz de Hollywood (a la que reconoce), producto de los experimentos de Rosales que, por un lado, logra eliminar los límites entre las esferas de la realidad y de la fantasía filmada – es decir, Rosales se apropia de una de las particularidades de todo filme: el desdoblamiento de la vida – y, por otro, provoca la participación de la imagen en el mundo ‘real’. Esta brusca aparición del fantasma hace surgir en el relato la magia encerrada en el encanto de la imagen (MORIN, 2001: 52). Rosales es un hombre muy culto, de gran fortuna, sin patria y sin amigos y entretenido en experiencias extrañas; tiene rasgos similares a los de algunos de los de los personajes reunidos en Los desterrados, pues es construido como “un fronterizo, un maniático, un perseguido, un ser que vive en la frontera del más allá racional”. Es un ex-hombre como los de aquellos cuentos que, al decir de Jorge Lafforgue, son “arrojados a esa zona de fronteras… que de una manera ‘ilógica’ ha hecho abandono de sus formas civilizadas y su correspondiente bagaje científico”. La savia de este relato no reside en la extrañeza que, por cierto, acontece en toda la ficción, sino antes bien en la aplicación de postulados pseudo-científicos de los que se sirve Rosales para crear su fantasma. Es decir, por medio del uso de los pareceres de un diletante, el relato muestra una vinculación entre ciencia y literatura (en el uso que la literatura hace de esa ciencia), más aún, la intervención de presupuestos tecnológicos – del cine – la complementa (que, por supuesto, son recogidos de las notas). De este modo, la ficción se enlaza con uno de los ‘asuntos’ de Quiroga: el de mostrar tipos que por la fuerza irresistible de su vocación eligen el riesgo al probar su energía física y moral en procura de obtener los resultados imaginados, esto le sucede a Rosales. Pensamos esto en relación con las 19 biografías que Quiroga publicó en Caras y Caretas (1927), recogidas en el volumen Los heroísmos por Annie Boule, pues, como la investigadora advierte, estas escrituras antes de pretenderse cultas y refinadas vienen a mostrar “un ideal de generosidad y voluntad del héroe, y la incomprensión e ingratitud de la sociedad que dejó en la miseria a los que merecían más honores” y más adelante: “Quiroga insiste en las sorpresas del destino: Pasteur no era médico, Fulton empezó con éxitos de pintor y Wells con fracasos de dentista (…)” (BOULE, s/año de edición: 75). El ingreso del saber científico en la literatura propone una explicación de las causas de las afecciones que, según Sarlo, decretan una cientificidad de la forma: Lejos de una cientificidad de lo dicho, una cientificidad de la forma: lo dicho se certifica por la forma que lo presenta. El recurso a la ciencia, en su 12 Este relato tiene un precedente dentro de las ficciones de Quiroga, el cuento “El retrato” de 1910 que el autor nunca publicó en libro.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 42
modalidad discursiva, debe ser puesto, entonces, entre comillas, porque se trata de lo que piensa como ‘forma de la ciencia’ impresa sobre ‘la forma del discurso literario’. La ‘forma científica’, a diferencia de la técnica que remite al ‘saber hacer’ y a la descripción, propone una explicación: en consecuencia un esquema causal y, a partir de él, en sede literaria, un argumento. La Literatura no piensa como la ciencia sino como cree que la ciencia piensa; obtiene así un compromiso y una caución (2004: 35-36). (…) El informe científico transfiere a la Literatura no sólo su ideología (como se ha dicho muchas veces sobre el naturalismo) sino también su autonomía moral. (2004: 35-39).
La savia de este relato, entonces, reside en observar qué hace Quiroga con esos presupuestos científicos, por qué recurre a ellos. Acaso restituye el medio propicio para imaginar de otro modo melodramas sentimentales y sensacionalistas a través de recursos, personajes y escenarios modernos que, con la intervención de la tentativa de un ‘saber hacer’ técnico, elaboran una lectura de la confluencia de la ciencia óptica con los recursos técnicos del cine (y de sus mitos) con su encanto y su hechizo.13 En este relato, la voz de la ciencia no ingresa por medio de profesionales (médicos, científicos) sino a través de diletantes que ‘prueban’, haciendo uso de una práctica social (primero, la del periodismo; segundo, las lecturas de manuales científicos y revistas de actualidad; tercero, la concurrencia al cine), su afición por la ciencia. El decurso de una seudo-ciencia libera al relato de límites morales y esto, de algún modo, le permite al narrador contar la seducción que ejerce la Vamp como amenaza, revelando la vampirización visual: “Vi entonces pasar por sus ojos fijos en él la más insensata llama de pasión que por hombre alguno haya sentido una mujer. Rosales la miraba también. Y ante aquel vértigo de amor femenino expresado sin reserva, el hombre palideció” (QUIROGA, 1993: 730). Dicha palidez remite a la succión de la sangre pero también metaforiza el estado en que los espectadores salían de las salas de proyección (imagen que es repuesta en “Miss 13 Como lo ha advertido la crítica, tanto la ciencia, la técnica como sus prácticas fueron asuntos recurrentes en los relatos de Quiroga (que incluso, se encuentran respaldados por su afición y por la lectura que realizaba de manuales de ciencia y técnica). Algunos relatos ironizan sobre esa mirada, por caso, “Una historia inmoral” (Nosotros, 1907) e “Idilio” (El gladiador, 1903; El crimen del Otro, 1904). Quiroga también reelaboró la óptica “objetiva” del saber médico a través de sus historias sobre la locura: “El conductor del rápido” (La nación, 1926; Más allá, 1935) es el relato que mejor lo ilustra, para su composición viajó en tren junto a un maquinista – libreta en mano-observador – e intentó obtener las respuestas que necesitaba para la escritura de su cuento; este hecho real quedó registrado en la nota “Cadáveres frescos” (1930) en la que la aparición del Quiroga-documentalista abre paso a la imperiosa necesidad de las palabras del testigo como documento vivo, como experiencia – materia prima del narrador – a la hora de escribir. Esta nota de color echa luz sobre la actividad de “recabar datos”, en la que Quiroga estuvo implicado – al igual que Manuel Gálvez, Leopoldo Lugones, Elías Castelnuovo, entre otros escritores – pero que en su caso no responde estrictamente al mandato naturalista-documentalista sino que atiende más bien a la necesidad de una “instantánea de la realidad” en la que prime la valorización (ideológica y estética) del dato vivo, pues su recolección le otorgará al relato la autenticidad necesaria a la hora de determinar su composición poética. A estos recursos debemos sumar entonces, la información obtenida en las revistas ilustradas “que constituyen el material narrativo y de imaginación que funcionan como su más estricto contexto” (CONTRERAS, 2007: 178). La convivencia de diversos géneros discursivos en una misma revista es acaso el disparador más caro a su imaginación. Quiroga es ante todo un gran escritor popular que recrea asuntos de las páginas de los diarios y revistas.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 43
Dorothy Phillips…” y “El espectro”), haciéndose eco de cierta analogía entre el cine y el vampirismo que, por cierto, está inserta en la esencia misma de lo cinematográfico como resguardo de la inmortalidad. Por otra parte, este relato hace uso del tópico de la mirada que si bien atiende a los presupuestos propios de las ficciones melodramáticas y sentimentales al uso, también, marcan la sensibilidad de Quiroga frente a los planos detalles y close-up del cine: en el cuento, las miradas hablan y convierten a los rostros en paisaje. Observemos aquí cierta aplicación de estas técnicas para pensar la fuerza del detalle en la narración literaria que será desarrollada por medio de una expresión precisa y condensada – metonímica. Seducción, placer, deseo, amor y muerte estructuran la leyenda de todo vampiro pero en este relato dichos asuntos van aún más lejos, acaso porque se sublimizan a través de la tecnología, de los movimientos, de gestos expresivos, de las miradas y de las palabras de una star de Hollywood, pues, la vida que se desprende de una proyección cinematográfica inspira el proyecto de Rosales quien, somete la tecnología a su deseo erótico y quien, al fijar artificialmente las apariencias carnales de la Vamp, supone sacarla de la corriente del tiempo y arrimarla a la orilla de la vida. La pasión por la pseudo-ciencia se potencia con el amor: La cantidad de vida delatada en su expresión me había revelado la posibilidad del fenómeno. Una película inmóvil es la impresión de un instante de vida, y esto lo sabe cualquiera. Pero desde el momento en que la cinta comienza a correr bajo la excitación de la luz, del voltaje y de los rayos N1, toda ella se transforma en un vibrante trazo de vida, más vivo que la realidad fugitiva y que los más vivos recuerdos que guían hasta la muerte misma nuestra carrera terrenal. Pero esto lo sabemos sólo usted y yo (QUIROGA, 1993:724); Para mí, para usted, esta creación espectral es superior a cualquier engendro vivo por la sola fuerza rutinaria del subsistir. Nuestra compañera es obra de una conciencia (…) (QUIROGA, 1993: 726).
Rosales materializa un deseo, el de tener en su casa, en cuerpo y pose, a una diva de Hollywood: Adquirí una linterna y proyecté las cintas de nuestra amiga sobre una pantalla muy sensible a los rayos N1 (…) Por medio de un vulgar dispositivo mantuve en movimiento los instantes fotográficos de mayor vida de la dama (…) Ella se desprendió así de la pantalla, fluctuando a escasos milímetros al principio, y vino por fin a mí, tal como usted la ha visto (QUIROGA, 1993: 730).
Nuevamente el melodrama, caro también a los relatos góticos. “El vampiro” se encuentra inmerso en una atmósfera cercana a la del horror que, por cierto, es una de las grandes vertientes en la obra de Quiroga (como es la de “los cuentos de monte”): antes de corporalizar a la Vamp y a causa de un desvío de la imaginación, Rosales corporiza algo sin nombre… “De esas cosas que deben quedar para siempre del otro lado de la tumba”
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 44
(QUIROGA, 1993: 724). Luego, resulta la creación técnica del mito, del doble de una estrella de Hollywood que tiene la apariencia y el movimiento de una persona ‘real’, la imagen creada por Rosales restituye la presencia de una Vamp-ira. Este es el vector principal de la historia, la posibilidad de pensar en la figuración de una imagen, en su corporalización que de cotidiana parece ‘televisiva’, y que, arrancada del celuloide, inmortaliza a Rosales, porque si la verdad que persigue Grant es positiva “estoy seguro de que en lo más hondo de las venas no le quedaba una gota de sangre”, la succión final de la Vamp, entonces, inmortaliza a su creador (más allá de la extrañeza que califica la personalidad de Rosales, hacia el final del relato Grant observa un cambio gradual en su aspecto y comportamiento: lo encuentra más delgado, su tono de voz cambia, su mirada está perdida, la Vamp habla por él). Asimismo, el circuito del horror se afianza aún más en la travesía de Rosales hacia Hollywood: el enajenado situado en los bordes establece una fijación en la imagen del cine – en su relación con la cultura imaginaria –, creyendo en la verdad de las imágenes corporaliza la diva, se apropia privadamente de ella, viaja y la asesina ‘sin amor’, entendiendo que de ese modo podía darle vida a su fantasma: “Nuestra amiga jamás saldrá de la niebla doliente en que se arrastra… de no mediar un milagro. Sólo un golpecito del destino puede concederle la vida a que toda creación tiene derecho, si no es un monstruo. /-¿qué golpecito? –pregunté./ -Su muerte, allá en Hollywood” (QUIROGA, 1993: 726). Rosales descubre que “si por amor yo hubiera matado, mi criatura palpitaría hoy de vida en el diván. Maté para crear sin amor; y obtuve la vida en su raíz brutal: en esqueleto” (QUIROGA, 1993: 729). Mas el final de su empresa resultará que ese esqueleto se corporalizará en vampiro que, como las imágenes del celuloide, no está ni vivo ni muerto. De modo que Rosales traspasa un límite: su actitud prometeica se activa con la tecnología del cine y la subvierte más aún cuando no distingue las diferencias que se establecen entre los espectadores y las imágenes: Rosales no reconoce la diferencia establecida entre quien observa una foto y quien, una imagen cinematográfica: mientras en la primera se goza de cierta apropiación privada en la segunda quien disfruta de la película no puede considerarse el propietario de la imagen. El relato culmina con un incendio y el cuerpo de Rosales muerto sobre el diván, espectáculo patético: el creador del monstruo de sensación yace como un resto más entre los trozos de cintas quemadas, una cámara tirada en el piso y el relato de la servidumbre cuya impresión repone un supuesto descuido. En este relato se rompe con el ámbito de la sala oscura como locus – que sí está materializado en los otros dos relatos – y se desplaza hacia otro ámbito cerrado, el del amplio comedor de una mansión neo-gótica típica a las familias feudales que analógicamente tiene el aspecto de una sala de cine. Aunque, no debemos olvidar que Grant yace inmóvil en medio de una sala de hospital psiquiátrico. Una vuelta, entonces, a un espacio también cerrado y que, como en el cine, aparecen espectros animados por el haz de luz y en el que es necesario permanecer a oscuras y en silencio. Quiroga crea una correspondencia en la contigüidad discursiva, tópica y temática, en la polifonía de las notas con los relatos, matizada, asimismo, por la fenomenología propia del cine. Es como si completara la escritura de estas crónicas – como lo hacen los espectadores con las historias del cine – en la proyección de ciertas tensiones que intenta resolver en los relatos, por caso, la ilusión de inmortalidad que provoca la imagen fílmica. El cine, entonces, como medio privilegiado para dar realidad a las apariencias, las que se presentarían como una irrupción.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 45
Muchas de sus notas son esbozos narrativos antes que críticas de cine; en algunas, incluso, elabora aproximaciones a su retórica sobre el cuento. Por ejemplo, en “El próximo estreno de una bella cinta: Detrás de la puerta” no sólo narrará con el suspenso que lo caracteriza sino que resaltará el manejo narrativo del horror en el filme: La fuerza de ella está en la perfecta preparación del drama, que refuerza magníficas escenas marinas. Las situaciones de crueldad que podría haber tentado al señor Griffith, por ejemplo, han sido salvadas por el señor Ince, director de la cinta, con una delicadeza digna de todo elogio. Dichas escenas están solamente evocadas, y de aquí su energía artística (QUIROGA, 1997: 139).
Esto nos recuerda lo que Quiroga encuentra en Los caranchos de la Florida de Benito Lynch: gran efecto de escenario, la garra tenaz para sostener un carácter bien marcado, la descripción de la sensación de campo. Y, a su vez, muestra que “la opción-obsesión quiroguiana por el cine fue una especie de desplazamiento de sus primeros afanes en la narrativa: la conquista de una “impresión de vida” que le permitiera indagar e interpretar la naturaleza humana dentro del cuadro general de una retórica que no se desprende del referente” (ROCCA, 2007: 196). Dicho proceso forma su serie teórica con las reseñas programáticas sobre el cuento y con las notas sobre literatura que Quiroga escribirá años más tarde. Quiroga, entonces, enlaza dialógicamente los asuntos y argumentos de las crónicas con las ficciones y piensa el cine desde términos narrativos: a Quiroga le interesa mostrar cómo se narra, qué se narra, quién narra y quién debe narrar en el cine, y analiza los protagonistas claves a la hora de ocuparse de una “buena película”: director, actor y argumento. Como así también, le interesa mostrar los aspectos que contribuyen a una sociología de la imagen muda en movimiento. Estos relatos, entonces, si bien revelan los aportes “modernizadores” que el cine hace a la imaginación de Quiroga (tema, personajes y técnica) no muestran un cambio radical en su sintaxis narrativa, pues si pensamos, por ejemplo, en el uso del racconto – recurso que utiliza en “El vampiro” y “El espectro” – Quiroga lo viene aplicando desde 1908. En cuanto a esto, por ejemplo, Dámaso Martínez dice que el narrador “rompe de algún modo con cierta linealidad de su obra anterior. En su sintaxis narrativa puede observarse el uso del racconto (…)” (DÁMASO MARTÍNEZ, 1997: 35). Sin embargo, y siguiendo la lectura que hace del asunto Pablo Rocca, podemos pensar que el racconto no afecta su gramática narrativa a partir de 1919 – fecha de publicación de la primera ficción sobre cine-, pues ya en un relato como “La insolación” de 1908 Quiroga lo había utilizado. El narrador no trasladó a sus relatos las propiedades del corte y el fragmentarismo que pertenecen al montaje cinematográfico y ve los artificios o procedimientos propios del cine como el auténtico archivo de vida, de realidad, de verdad, que funcionan como sinónimo de realismo en su poética del relato diferente al decimonónico y concentrado en el recorte de una pequeña parte del espacio. No obstante, Quiroga moderniza su escritura porque hará uso de otros mecanismos y estrategias – diferentes del racconto y del montaje – extraídos directamente de las nuevas tecnologías visuales, entre ellos, close up, encuadres, primer plano; contribuyendo con esto a una búsqueda permanente, la de la construcción de un efecto de lo real. Escri-
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 46
tura y tecnología se vinculan en estos cuentos a partir del deseo, que se quiere visual y erótico; estos relatos también refractarán los alcances de la incipiente sociología del cine a través de una variante en la representación de las figuras femeninas, de los espectadores personificados y del resurgimiento del tópico de la inmortalidad ahora resignificado por las imágenes filmadas que, por cierto, le otorgan un nuevo estatuto al concepto vampirismo: “el cine se articula con el vampirismo en el punto exacto de su inmortalidad” (Rodríguez Pérsico 2008: 390), a la vez que Seus filhos Eglé e Darío la inmortalidad será el mito latente del cinematógrafo. Asimismo, estos relatos conforman la serie de melodramas sentimentales y, en este sentido, si los pensamos dentro del conjunto de las publicaciones de Quiroga, no escapan a la serie general (más allá de las diferencias temáticas o técnicas), pues muestran algunos criterios estilísticos impuestos por los medios masivos, entre ellos, una renovación constante de temáticas y de tópicos del momento, mecanismos y estrategias tecnológicos y, cierta sintonía con los asuntos que se publicaban en Caras y Caretas o en el diario Crítica. En este sentido, Ricardo Piglia nos enseña que: Quiroga es un gran escritor popular. Una especie de folletinista, como Eduardo Gutiérrez, que escribe miniaturas. Toda su poética efectista y melodramática se liga con lo que podríamos llamar el consumo popular de emociones. Es este sentido sus cuentos son una suerte de complemento muy elaborado de las páginas de crímenes que se iban a desarrollar en esos años en Crítica y que encuentran hoy su lugar en el diario Crónica. Sus relatos tienen a menudo la estructura de una noticia sensacionalista: la información directa aparece hábilmente formalizada sin perder su carácter extremo (PIGLIA, 1993: 64).14
En este contexto, los cuentos sobre cine responden – una vez más – a su poética de efecto, aunque ellos ilustran, además, los dramones de las historias que Hollywood narra – aunque Quiroga no recurre a la joven bella, pobre y malcasada sino a la estrella de cine. Son historias de amor similares a las que los sujetos veían en las salas de cine (o consumían en los folletines), sólo que Quiroga introduce en ellos temáticas, personajes y criterios de las nuevas tecnologías y renueva así, el mero estilo sentimental. Quiroga está en sintonía permanente con un público y un circuito de consumo, pues las revistas 14 Sandra Contreras advierte que la lectura de Piglia atraviesa medularmente la obra de Quiroga y sostiene que: “no sólo los relatos de nota “sentimental” o de “inconvenientes domésticos” hacen continuo con los relatos publicados en el semanario (…) en los que se constituye ese repertorio de clisés que se leen hasta en los “mejores” relatos, o en los canónicos de Quiroga (…), sino que algunos de sus folletines y cuentos de nota trágica hacen continuo con las notas-crónicas periodísticas propias del estilo de Caras y Caretas” (2007, 178-179).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 47
tienen que llegar a una cada vez mayor cantidad de lectores y el público femenino será la “zona importante” y “decisiva del sector consumidor de productos y servicios culturales” (RIVERA, 1998: 69). En este sentido, el cine será un tema sumamente atractivo sobre el que caben nuevas posibilidades compositivas, pues en estos cuentos Quiroga fusiona lo cinemático, los mecanismos tecnológicos, la vertiente melodramática con el horror (espectros tecnológicos y dobles). Asimismo, estos relatos ensayan una respuesta al interrogante que tanto inquietaba a Quiroga: qué sucede con la vida atrapada y contenida en una cinta de celuloide. La innovación técnica logra que un actor ya muerto pueda ser revivido a través de la proyección de una cinta en la cual ha actuado. Los personajes de estos tres relatos narran desde una cierta resignación y aceptan los acontecimientos como realidad y no como extrañeza, pues la técnica del cinematógrafo las hace posibles, es decir, los casos son presentados a través de una realidad cinematográfica. Los relatos vuelven a ocuparse del misterio de la muerte, de la vida después de la muerte, pero esta vez la propuesta no apunta a la configuración de muertos vivos que regresan a apoderarse de las almas terrenas, no prefiguran zombis ni almas en pena que lloran descarnadamente y regresan para cobrarse viejos asuntos, sino que Quiroga crea una realidad paralela a la cotidiana con la instrumentación de las técnicas del cinematógrafo por medio de la cual asistimos a la creación de un doble técnico. Quiroga toma prestados algunos recursos técnicos de las leyes de la naturaleza cinemática y por esta razón creemos que las marcas modernas en estos relatos son evidentes, pues impresiona la forma en que se naturalizan las situaciones más extrañas – anulándolas, incluso. El cine lo puede todo y a sus estrellas se les permite cualquier tipo de comportamiento: suicidio, corporalización, vampirismo. El cine reproduce el poder alucinatorio de un sueño porque convierte una percepción en algo que parece una alucinación y viceversa; una visión con una irresistible sensación de realidad de algo que, precisamente, no está allí.
Bibliografía Fuentes primarias QUIROGA, Horacio. Arte y lenguaje del cine, Estudio preliminar a cargo de Carlos Dámaso Martínez, compilación de textos Gastón Gallo, con la colaboración de Denise Nagy. Buenos Aires: Editorial Losada, 1997. QUIROGA, Horacio. Horacio Quiroga. Todos los cuentos. Edición crítica. Coordinadores: Napoleón Baccino Ponce de León y Jorge Lafforgue. Madrid: Colección Archivos, Fondo de Cultura Económica, Segunda edición, mayo de 1996. QUIROGA, Horacio. Los heroísmos (Biografías ejemplares). Compilación de Aniie Boule de trabajos publicados en Caras y Caretas en 1927. Misiones: Editorial Universitaria UNM, s/f. ed.
General BARTHES, Roland. “De la historia a la realidad” y “El efecto de realidad” (1968) en El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Buenos Aires: Paidós, 1987. BRATOSEVICH, Nicolás. El estilo de Horacio Quiroga en sus cuentos, Madrid: Gredos, 1973.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 48
BORGE, Jason . Avances de Hollywood. Crítica cinematográfica en Latinoamérica, 1915- 1945, Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2005. ______.“HOLLYWOOD Revisions: Cinematic Imaginary in Quiroga and Monteiro Lobato” en Journal of Latin American Cultural Studies, 10:3, London, 2001. CONTRERAS, Sandra . “En torno a la definición al “pudor artístico”: Quiroga, 1916- 1917” en El vendaval de lo nuevo, Gloria Chicote y Miguel Dalmaroni (eds.), Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2007. COUSELO, Miguel. “Horacio Quiroga y el cine” en Ocho escritores por ocho periodistas. Buenos Aires: Timermann Editor, 1976. DÁMASO Martínez, Carlos. “Horacio Quiroga: la búsqueda de una escritura” en David Viñas (director), Graciela Montaldo (compiladora), Historia social de la literatura argentina, tomo2, Yrigoyen entre Borges y Artl (1919- 1930). Literatura argentina siglo XX (1989). Buenos Aires: Paradiso, 2006. ______. “El cine y la literatura como una conjunción estética” en Horacio Quiroga, Artey lenguaje del cine, op. cit., ps.15-37. ______. “Horacio Quiroga. La fascinación del cine y lo fantástico” en Clarín “Cultura y Nación”, Buenos Aires, 5 de marzo de 1987. ______. “Horacio Quiroga. La industria editorial, el cine y sus relatos fantásticos” en Horacio Quiroga. Todos los cuentos. Edición crítica. Coordinadores: Napoleón Baccino Ponce de León y Jorge Lafforgue. Madrid: Colección Archivos, Fondo de cultura económica, Segunda edición, mayo de 1996, ps. 1293-1301. DE los ríos, Valeria. “Reproducción, muerte y espectralidad en Horacio Quiroga”, en Revista de Estudios Hispánicos, número 42, 2008, ps. 301- 327. LAFFORGUE, Jorge. “Edición, introducción y notas”, en Horacio Quiroga, Los desterradosy otros textos (antología, 1907-1937). Madrid: Clásicos Castalia, 1990. ______. “Advertencia” en Arte y Lenguaje del cine, op. cit., ps. 9- 13. ______. “Actualidad de Quiroga” en Horacio Quiroga. Todos los cuentos, op. cit., ps.35-44. MORIN, Edgar. El cine o el hombre imaginario, Barcelona: Paidós, Comunicaciones Cine, 2001. ______. Las estrellas del cine. Buenos Aires: Eudeba, 1964. PIGLIA, Ricardo. “Quiroga y el horror” en La Argentina en pedazos. Buenos Aires: Ediciones de la Urraca, Colección Fierro, 1993, ps. 64-66. RIVERA, Jorge. El escritor y la industria cultural, Buenos Aires: Atuel,1998. ______. “Horacio Quiroga: ganarse la vida” en Ocho escritores por ocho periodistas. Buenos Aires: Timermann Editor, 1976. ROCCA, Pablo. Horacio Quiroga. El escritor y el mito. Montevideo: Revisiones, Ediciones de la Banda Oriental, 2007. SARLO, Beatriz. El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la Argentina (1917- 1927). Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2000. ______. “Horacio Quiroga y la hipótesis técnico-científica” en La imaginación técnica. Sueños modernos de la cultura argentina. Buenos Aires: Nueva visión, 1992, ps. 21-42. ______. Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 1999.
*
Laura Lorena Utrera é professora de Letras da Universidade Nacional de Rosario, Argentina. Bolsista do CONICET.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 49
UM “PERFEITO CONTISTA”: TEORIA OU FICÇÃO? 1
os truques de Horacio Quiroga KARINA MAGNO BRAZOROTTO*
Não preciso inventar contos, eles vêm a mim, me obrigam a escrevê-los. (Guimarães Rosa)
Resumo: Nesse artigo é proposta uma releitura do texto “El Manual del perfecto cuentista” (1925) de Horacio Quiroga, tendo como referência o texto “Filosofia da Composição” de Edgar Allan Poe. Analiso quais foram os deslocamentos semânticos que Quiroga fez das preposições de Poe sobre a produção do conto, criando assim suas receitas de como se tornar “um perfeito contista”. Também questiono a existência da visão normativa dada a esses textos, analisando-os por um viés não-normativo, mas ficcional. PALAVRAS-CHAVE: HORACIO QUIROGA, LITERATURA HISPANO-AMERICANA E EDGAR ALLAN POE
1.1 O escritor uruguaio Horacio Quiroga (1878-1937) teve a maior parte de sua produção literária publicada na Argentina, especificamente na cidade de Buenos Aires. Os seus primeiro contos datam do final do século XIX, mas Quiroga teve a sua consagração no início do século XX. O texto de que farei uma leitura é o “El manual del perfecto cuentista” (1925), escrito no auge de sua carreira e que faz parte de uma série, na qual o escritor postula regras ou receitas para o seu público-leitor de como escrever um conto durante as horas livres. Como no “El manual…” percebe-se que há a intertextualidade com o texto “Filosofia da composição” (1846) do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, este texto será a referência para a leitura que farei do texto quiroguiano. O texto “Filosofia da composição” narra como Poe supostamente arquitetou o seu poema-narrativo “O corvo”, o qual conta a história de um jovem estudante que perdeu a sua amada Leonora e uma noite, quando estava em seu quarto pensando nela, ouviu um barulho e pensou que havia alguém à porta, mas constatou que não havia ninguém lá. Logo, ouviu novamente o barulho e foi até a 1
A primeira versão desse artigo foi apresentado no I SELL – Simpósio de Estudos Lingüísticos e Literários – de Uberaba, em junho de 2007, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba - MG durante a sessão coordenada “Releituras de Horácio Quiroga”.
janela, e próximo a ela, sentado em um busto de Palas, estava um corvo. O jovem começa a se lamentar para o bicho e fazer algumas perguntas, as quais sempre têm como resposta a palavra “nevermore” (nunca mais). Com o decorrer das cenas e das estrofes, o poema vai ganhando intensidade até chegar ao efeito final. No texto “Filosofia da Composição”, Poe desconstrói o poema-narrativo para tentar provar a seus leitores que toda a construção deste foi regida pela lógica matemática. Desta forma, Poe, segundo Macherey (1971: p.25), cria uma idealização oposta da imagem de escritor, a qual, em sua época, pregava que o escritor escrevia suas obras por meio de inspiração. A oposição se dá, pois Poe, em seu texto, nega que um escritor possa produzir por meio desta. Assim, esta idealização permite que uma pessoa que tenha domínio das técnicas (ou de um modelo) possa escrever um texto literário.
2. Pode-se perceber a intertextualidade presente no texto de Quiroga, a partir deste fragmento de “El manual…”: Esta frecuentación de los cuentista, los comentarios oídos, el haber sido confidente de sus luchas, inquietudes y desesperanzas, han traído a mi ánimo la convicción de que salvo contadas excepciones em que um cuento sale bien sin recurso alguno, todos los restantes se realizan por medios de recetas o trucos de procedimiento al alcance de todos, siempre, claro está, que se conozcan su ubicación y su fin (QUIROGA, 1996: 1189).
A releitura que Quiroga faz parte do seguinte trecho do texto de Poe: Puede decirse que aquí encontró el poema su principio: en el final, donde deberían principiar las obras de arte (POE, 1973: 73).
Poe diz que estabeleceu primeiro, mentalmente, qual seria a resposta das perguntas feita pelo jovem amante para depois estabelecer quais seriam as perguntas, portanto iniciando “O corvo” pelo seu fim. Nota-se que Quiroga, ao se apropriar do enunciado de Poe, toma uma característica particular da elaboração de um poema-narrativo, ou seja, “O corvo”, e postula uma regra geral e básica para se elaborar contos. Essa característica presente no “Filosofia da Composição” é formulada independentemente do tempo, do lugar e de condição de produção. Já no “El manual…”, Quiroga coloca em cena as condições de produção, quando diz que os truques que postulou facilitarão “na confecção caseira, rápida e sem falha dos melhores contos argentinos”. Também Quiroga diz que a idéia de que existiam as regras, ao alcance de todos, para escrever contos, não partiu só dele, mas de muitos contistas que o procuravam para contar os seus dramas quando estavam escrevendo um texto. Desta forma, o problema que estes contistas enfrentavam na produção literária lhe fez ter convicção de que, a maioria dos contos, surgia se as pessoas seguissem uma receita. O deslocamento que Quiroga faz em relação à proposta de Poe a destitui de um âmbito lógico, científico, colocando-a no âmbito popular, já que, segundo Horacio Quiroga,
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 51
todo escritor que sabe como irá começar e terminar o seu conto terá êxito ao colocá-lo no papel. No entanto, ao colocar essa idéia no âmbito popular, ela poderia ser rechaçada pelo seu públicoleitor, mas o escritor uruguaio, sabiamente, dá essa regra como uma autoridade no assunto, pois sempre foi contista e se coloca no papel de mestre, o qual é o detentor do saber, e ensina, didaticamente, para o seu público-leitor como escrever contos e ter êxito, desde que este siga à risca as regras que ele está propondo.2 Quiroga diz que os contos se realizam por meio de truques, no entanto, se pensarmos que o truque é algo que é utilizado como atalho para conseguir fazer o que se deseja, mas esse atalho sempre vem ligado com a idéia de que é, na verdade, um engano, ou seja, o truque que Quiroga tenta vender como o mecanismo mais fácil para Seus filhos Darío e Eglé se produzir um conto, é o elemento jocoso que ele utiliza para ludibriar seu leitor crédulo em seus postulados. Pois, o que me parece é que Quiroga está tecendo uma crítica a essa idéia da facilidade de se compor um texto literário, sendo irônico com as pessoas que acreditam piamente que receitas e truques são realmente passos que se tem que seguir para ter um conto bem feito. No entanto, se levarmos em conta que o leitor para seguir as receitas propostas por Quiroga tem que se saber o início e o fim de seu conto, na verdade, ele saberá como será o seu desenvolvimento, desse modo, o truque ou a receita não será necessário, pois o leitor-escritor já terá a sua história pronta e só precisa trabalhá-la artisticamente para ser considerada um conto, assim, o que ocorre é o que Quiroga usa para se justificar, o “conto sai bem sem recurso nenhum”. Quiroga, em seus postulados, não ensina a trabalhar artisticamente um texto para transformá-lo em literário. Porém, há autores que lêem estes textos como sendo teóricos, como por exemplo, Nádia Battella Gotlib, que em seu livro Teoria do Conto (1987) defende que os textos de Poe e de Quiroga fazem parte da teoria literária. A autora propõe que esses escritores, além de outros contistas famosos, como Cortázar, Mário de Andrade, refletem sobre a produção do conto, produzindo uma teoria do conto. Gotlib, ao escrever o livro em questão, fez uma obra de divulgação.3 Neste livro, ela faz uma coletânea de textos que dissertam sobre o conto e explica, através dessa coletânea, destacando alguns trechos que julga relevante, que eles constituem o corpus que sustenta que há uma teoria do conto. Em relação aos textos que fazem parte da série do “perfeito contista”, Gotlib admite que Quiroga seja irônico em sua crítica aos repertórios sérios e diz que é a partir dessa ironia que ele os parodia, dando aos leitores receitas fáceis “ao alcance de todos” e 2 Cf. ALVES-BEZERRA, Wilson. Reverberações da fronteira em Horacio Quiroga. São Paulo: Dissertação de mestrado, FFCCH/ USP, 2005. 3 Esta obra pertence à série Princípios da editora Ática.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 52
formulando “dicas” para se realizar a produção de um conto, que visa a economia deste, tendo em vista as intenções de Poe. Gotlib diz que perguntar o que é o conto é angustioso. E completa dizendo: Principalmente quando se considera, como Mário de Andrade, que bons contistas como Maupassant e Machado de Assis, encontraram a ‘forma do conto’ Mas o que encontraram, segundo ainda Mário de Andrade, ‘foi a forma do conto indefinível, insondável e irredutível a receitas’ (GOTLIB, 1987, P.9 - grifos meus).
Percebe-se que nessa citação, Mário está se referindo a contos que Machado de Assis e Maupassant escreveram, e que, para aquele, estes conseguiram encontrar a forma exata desse gênero que não tem como explicá-lo. Deste modo, se a forma do conto, como diz Mario, é irredutível à receita, o que Quiroga faz pode ser lido como teórico? Ou será melhor ler os seus textos que fazem parte da série do “perfeito contista” como sendo produções literárias? Pois, Horacio Quiroga apresenta esses textos em forma de receitas e diz qual é a formula para se produzir um conto, quebrando a idéia de que esses textos pertençam à teoria do conto, porque se a forma do conto é irredutível à receita, o que Quiroga faz passa a ter outro estatuto que não o teórico. Defendo que os textos de Quiroga sobre o conto são produções artísticas, que se passam por teóricos, pois criam a ilusão de que um mestre está disposto a ensinar o seu público-leitor a ser um “perfeito contista”, mas, na verdade, o mestre Quiroga é o narrador que leva seus leitores (personagens) “pela mão firmemente até o final, sem ver outra coisa que o caminho que lhes traçou.”4
3. Observando o fragmento citado acima de Quiroga e o seguinte fragmento de Poe: Muchas veces he pensado cuán interesante sería un artículo de revista donde un autor quisiera – o, mejor dicho, pudiera – detallar paso a paso el proceso por el cual una de sus composiciones llegó a completarse. Me es imposible decir por qué no se ha escrito nunca un artículo semejante, pero quizá la vanidad de los autores sea más responsable de esa omisión que cualquier outra cosa. La mayoría de los escritores- y de los poetas en especial- prefieren dar a entender que componen bajo una especie de frenesí, una intuición extática, y se estremecerían a la idea de que el público echara una ojeada a lo que ocurre em bambalinas, a las laboriosas y vacilantes crudezas del pensamiento… (op.cit, P.66),
percebe-se que, apesar de ambos autores utilizarem a primeira pessoa do discurso em seus textos, é visível que está eleição vai colocar o narrador quiroguiano e o narrador de Poe em posições diferentes em relação ao público-leitor de cada autor.
4 VIII mandamento do “Decálogo del perfecto cuentista” (1927).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 53
O narrador de Poe se coloca na posição de um crítico literário, pois analisa criticamente um poema-narrativo, desconstruindo-o. Essa desconstrução serve para mostrar ao leitor passo a passo como foi a construção do texto literário “O corvo”. A relação entre o narrador e o leitor é desnivelada, pois o narrador fala como um pensador e só demonstra como teria sido planejada e pensada a construção da obra. Desta forma, pode-se inferir que o leitor de Poe é na verdade um espectador. Já, o narrador quiroguiano se coloca no papel de mestre, para que possa ensinar os seus leitores a escrever o conto. A relação entre eles é dialógica, pois o narrador irá manter um diálogo com o leitor e, assim, o trará para sua obra como parte integrante dela. O narrador de Poe não será um mestre como é o narrador de Quiroga, mas um filósofo, o qual explica teórica e racionalmente a construção do poema-narrativo. Por ser um filósofo, a distância com o leitor é mantida, pois este não interfere na relação que o filósofo tem com o texto poético “O corvo”, nem com a elaboração da explicação sobre a arquitetura do mesmo. Outra faceta que Poe coloca em jogo é a idéia que seu narrador, além de ser filósofo, também é um artífice. Um artífice é aquele cria alguma coisa, inventando-a. Sendo assim, no trecho acima, nota-se que o narrador para explicar o porquê de escrever um texto que esmiúça a produção de uma obra literária coloca as suas reflexões como se fossem de ordem pessoal e ilude o leitor que pensa que é a voz do escritor que está presente no texto, não a voz do narrador, a qual só existe no universo literário e é desvinculado do autor do texto. Deste modo, apesar de Poe tentar fazer parecer que o texto “Filosofia da Composição” seja teórico, ele pode ser lido como um texto literário, um conto, assim como defende o teórico Pierre Macherey. Portanto, os textos “Filosofia da Composição” e “El manual del perfecto cuentista” podem ser lidos como contos que, ao tratar do conto, ludibriam o leitor, passando a idéia de que são teóricos, mas que, vistos mais a fundo, podem ser ficções.
Referências Bibliográficas ALVES-BEZERRA, Wilson. “A sedução do mestre: “El manual del perfecto cuentista” (“1925”)”. In: Reverberações da fronteira em Horacio Quiroga. São Paulo: Dissertação de mestrado, FFCCH/ USP, 2005. GOTLIB, N. B. Teoria do conto. São Paulo: Ática, 1987. QUIROGA, Horacio. Todos los cuentos. Edição Crítica. Allca XX/ Edusp, 1996. POE, E. A. “Filosofia de la composición”. In: Ensayos y Criticas. (Tradução, introdução e notas: Julio Cortázar). Madri: Aliança Editorial, 1987 (1956). ______. “O corvo” In: BARROSO, Ivo (Org). “O Corvo” e suas traduções. Rio de Janeiro: Lacerda, 2a Edição. MACHEREY, Pierre. Para uma teoria da produção literária. Lisboa: Estampa, 2a edição, 1971.
*
Karina Magno Brazorotto é graduada em Letras Espanhol-Português pela UFSCar; orientanda de IC pelo programa PUIC-UFSCar, com o trabalho: Literatura e imprensa na Buenos Aires do início do século XX: Quiroga ensina a ser um “perfeito contista”.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 54
RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE
uma releitura dos contos “Las Moscas – Réplica del hombre muerto” e “El hombre muerto” de Horacio Quiroga1 AMANDA LUZIA DA SILVA*
Resumo: O presente trabalho pretende colocar em questão a afirmação da crítica ao escritor uruguaio Horacio Quiroga, que tradicionalmente o postulou como “Regionalista rígido”. Longe dos parâmetros tipológicos, buscaremos mostrar como a produção literária de Quiroga se mostra muito mais flexível do que se acreditava até então. Através da análise de dois de seus contos, “El hombre muerto” (1920) e “Las Moscas” (1933), podem-se encontrar tanto características comumente atribuídas ao regionalismo, quanto outras atribuídas à vanguarda.1 PALAVRAS-CHAVE: HORACIO QUIROGA, VANGUARDA, REGIONALISMO
C
onsiderado pela crítica como regionalista “rígido” (RAMA, 1989: 203) Horacio Quiroga foi, durante muito tempo, tratado como pertencente de uma segunda classe de escritores e, sua obra, como de menor valor literário. O crítico literário Ángel Rama, editor do volume das Obras Completas de Quiroga no Uruguai, assim o postulou em seu texto “Los procesos de transculturación en la narrativa latino americana”, En un primer momento el regionalismo asumió una actitud defensiva cerrada que postulaba el enfrentamiento radical y por lo tanto el endurecimiento de posiciones. Hubo una pugna de ‘criollistas’ y ‘modernistas’ (vanguardistas) que se abre con el texto de quien por su edad y obra era maestro indiscutido, Horacio Quiroga, titulado ‘Ante el tribunal’ y que luego se expande en las revistas del período (RAMA, 1989:203). [grifo nosso]
Para defender a idéia de uma literatura transculturadora, Rama estabelece as diferenças entre a literatura de cunho vanguardista e a de cunho regionalista. A primeira caracterizada por uma adoção “casi sin lucha” dos aportes modernos, uma chamada 1
A primeira versão deste trabalho foi apresentada no Simpósio de Linguística e Literatura da Universidade Federal de Triângulo Mineiro em Uberaba – MG, em junho de 2007.
“vulnerabilidad cultural”, justamente por sua posição de suscetibilidade em relação aos estatutos culturais europeus. O Regionalismo se colocava, basicamente, no pólo contrário, caracterizado pelo “endurecimiento” cultural, por uma forte referência à tradição, tendo como modelo proeminente a narrativa oitocentista, a conservação da temática telúrica e arcaica. Não aceitavam, portanto, as novas mutações que ocorreram na América Latina, no final do século XIX e início do XX, tanto no que diz respeito aos aspectos sociais e culturais, como mais especificamente, à literatura (as novas técnicas de narrativa, estrutura e temática). Dentro da classe regionalista Horacio Quiroga é, para Rama, o autor “maestro”. A idéia do presente artigo não é inserir Horacio Quiroga dentro da classe de regionalistas, ou mesmo, o postulá-lo como vanguardista; o objetivo que nos guiará é justamente o contrário, questionar a crítica que se prende aos parâmetros tipológicos e expor de que maneira o escritor uruguaio subverte, em sua escrita, os modelos pré-estabelecidos pelo regionalismo. Para isso se recorrerá a dois de seus contos, “El hombre muerto” (1920) e “Las moscas – Réplica de El hombre muerto” (1933), escolhidos especificamente por sua estrita relação de analogias e diferenças. A morte (presença significativa na produção literária de Quiroga) é a temática dos dois contos, entretanto, ainda que elaborados a partir do mesmo motivo, os dois textos têm maneiras diferentes de tratá-la; não somente no plano do conteúdo, da reflexão a partir deste tema, como também em seus aspectos formais, na sua composição dentro do texto. O primeiro conto, “El hombre muerto”, tem como cena inicial um homem e seu facão, esses, sob o sol do meio dia, trabalham em um bananal. Ao tropeçar em um tronco o homem cai e, sob seu ventre o facão fica cravado. Imóvel, o homem espera por uma ajuda que não virá, e consciente disso, espera também pelo instante preciso no qual sua vida chegará ao fim. A partir daí, o narrador, com pequenas digressões, levanta questões relacionadas à brevidade da vida, e a certeza de que caminhamos para a morte: La muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista; tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento, supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro (QUIROGA, “El Hombre Muerto”, 2001:309).
Os segundos após a queda levam o narrador a embrenhar-se nos pensamentos da personagem, seu trabalho, sua família, seu pedaço de terra e a idéia de que morte inevitavelmente se aproxima. Envolvendo tal temática o conto nos remete a toda uma tradição que abordava reflexões acerca da vulnerabilidade e transitoriedade da vida, e por conseqüência, a certeza da morte. Dentro da história da literatura em língua espanhola encontramos poetas consagrados que trataram, em seu tempo, sobre essas questões. Em Góngora era a temática tempus fugit “Ayer naciste y morirás mañana”; em Garcilaso, era o Carpe Diem, ressaltando a necessidade de se aproveitar a vida antes que ela se acabe, “Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera”. Tal temática está ligada, portanto, a um passado, a uma tradição, que inclusive nos remete à literatura ocidental, a escritores como Poe, Dostoievski, Tchékov, que tradicionalmente são atribuídos como fonte de referência
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 56
e inspiração para Quiroga. O formalista russo Tomashevski, em seu ensaio “Temática”, explicita a existência de temas transitórios e universais; neste podemos visualizar o espaço ocupado pela temática da morte dentro da literatura: La importancia de esos temas [vinculados à revolução ou à vida revolucionária] es reducida porque no se adaptan a la variabilidad de los intereses cotidianos del público. Inversamente, cuanto más importante sea el tema y más duradero su interés, tanto más asegurada la vigencia de la obra. Haciendo retroceder de este modo los límites de la actualidad, podemos llegar a los intereses universales (los problemas del amor, de la muerte) que en el fondo siguen los mismos a lo largo de la historia humana (TOMASHEVSKI, S/D: 200). [grifo nosso]
Sob essa ótica, é possível dizer que a morte como tema aqui não aparece apenas porque está ligada a vida de Quiroga, como insistiu por muito tempo a crítica (JITRIK, 1959 e RODRÍGUEZ MONEGAL, 1968), mas por um vínculo entre autor e tradição. Muitos de seus críticos acreditam em uma relação estrita entre as mortes acidentais e suicídios, que envolvem o escritor e seus familiares, e os contos sombrios e bizarros por ele produzidos: “Con sólo repasar su biografía se puede explicar esta obsesión” (FLEMING, 2001:21). A relação de espelhamento, atribuída pela crítica, entre os dados biográficos e os textos de Quiroga fica nítida se remetemos ao crítico brasileiro Davi Arrigucci Jr., que acaba por incorrer no mesmo equívoco. Em seu livro, O escorpião encalacrado: A poética da destruição em Julio Cortázar, estabelece um elo entre a persona Quiroga e a persona Narrador, chamando-os de “autor onisciente”: (…) quase nunca resiste aos comentários à margem da ação, às digressões do autor onisciente, quebrando a tensão interna, exigida pelo rigor construtivo de sua poética narrativa. (…) Quiroga é um contista do homem em situações extremas: a morte, a loucura, a crueldade, o medo são temas constantes da sua obra. Em muitos dos seus contos, é visível o modelo regionalista da luta humana contra a natureza bárbara (…); noutros, a tendência naturalista para o estudo de casos patológicos (ARRIGUCCI, 2003:132). [grifo nosso]
O conto “Las moscas”, como dissemos anteriormente, possui o mesmo motivo inicial de “El hombre muerto”, porém a temática e a composição é retomada aqui a partir de uma ótica diferente, com uma postura
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 57
que se pode afirmar como mais “otimista”. Os questionamentos têm outro caráter; no lugar das questões filosóficas do primeiro conto, “o tempo que passa e só restará pó”, aparece uma nova questão: “renovación vital”. Apesar da certeza da morte, é também certo de que a vida segue, a natureza mantém seu poder de vitalização. Portanto, os dois contos partem do mesmo argumento: um homem morre, está a beira de extinguir-se. Há, neste sentido, uma ligação maior entre os textos, por isso é possível estabelecer um embate entre os mesmos. Como se nota já no título do segundo conto, “Las moscas – Réplica de El hombre muerto”, há um indício de que este remete ao conto anterior, a palavra réplica é justamente o que dá essa idéia de “ligação”. Esse indício foi lido pelos críticos como se este conto fosse a “cópia do modelo original”, “El hombre muerto”. Semelhante a uma pintura, que se faz a réplica, ou mesmo, uma imitação propriamente dita, Quiroga, por “falta de imaginação”, teria feito treze anos mais tarde uma imitação de um conto seu. O livro “Más Allá” (1935), em que foi publicado o conto “Las moscas”, foi chamado por Jitrik (1967) de “involución literaria” e, para Rodríguez Monegal (1967) tal publicação mostrou que “Quiroga ya está de espaldas al arte”. Como podemos observar mais claramente neste fragmento: Es un libro frustrado aunque revela, de forma por demás desgarradora, los fantasmas que acosan al escritor. (…) Las moscas retoma la anécdota de El hombre muerto (de Los desterrados) para presentarla desde el punto de vista del insecto. (…) Ninguno de estos textos está logrado cabalmente. Dentro de la producción de Quiroga representan apenas la explotación en un nivel de semanario femenino: ese nivel que como teórico le resultaba tan desagradable (RODRÍGUEZ MONEGAL, 1968: 271 apud ALVEZ-BEZERRA, 2005:50). [grifo nosso]
A idéia de réplica, tratando de arte, é sempre tomada como conceito avesso à originalidade, portanto um modelo replicado nunca receberá o valor qualitativo do original. Podemos refletir a partir da definição de réplica, extraída do Diccionario on line da Real Academia Española, de que maneira é possível conceber esta palavra e, como sua ampla definição mostra que há certa ambigüidade neste contexto, no que diz respeito à leitura da crítica e ao texto “Las moscas”: réplica. 1. f. Acción de replicar. 2. f. Expresión, argumento o discurso con que se replica. 3. f. Copia de una obra artística que reproduce con igualdad la original. 4. f. Repetición de un terremoto, normalmente más atenuado. 5. f. Der. Segundo escrito del actor en el juicio de mayor cuantía para impugnar la contestación y la reconvención, si la hubo, y fijar los puntos litigiosos. [grifo nosso]
Há, portanto, outra maneira de se usar a palavra réplica, que é justamente a idéia que defendemos aqui, réplica como “resposta”, como “contestação”. Ao colocar em foco dois contos, a própria diferença na estrutura narrativa dos mesmos, é perceptível que o segundo conto não é uma mera cópia do primeiro, e sim, uma resposta. É como se o narrador depois de treze anos revivesse a mesma cena, buscando, contudo, uma forma diferente de composição. Voltamos, portanto, ao início deste artigo, no qual estabelecemos
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 58
a idéia de que a crítica classificou Quiroga de regionalista rígido. Ao replicar o primeiro conto o autor usou na réplica aportes nitidamente de caráter vanguardista e, desta maneira, replicamos o que o crítico Pablo Rocca postulou em seu livro, “Quiroga: El escritor y el mito”, sobre do conto “Las moscas”, Lo que vino después fue apenas algún brillante ramalazo de lucidez unido a su estupendo manejo del oficio de narrar, pero poco más. Su último acariciado proyecto: la creación de un género mixto (…) quedó trunco con su muerte. (…) Sólo hay una excepción en la que vuelve a crear desde el género cuento – aunque ignorando y aun despreciando el aporte de la vanguardia –, se trata del relato ‘Las moscas. Réplica de El hombre muerto’. Pero el hecho de retomar una de sus ficciones se estaba agotando. Para poder sobrevivir no como hombre sino como narrador, debe ahora recurrir – como un escritor manierista – a su propia cantera literaria, a su vasta obra que mira con fatiga y quizá con hastío, como puede demostrarlo la anticipada carta a César Tiempo (ROCCA, 1996:99). [grifo nosso]2
Para contestar a idéia de réplica como cópia, colocamos, no âmbito dos dois contos aqui analisados, a questão que remete às categorias narrador/espaço/tempo/personagem, sem que se faça necessário separá-las entre si, já que, com o desenvolvimento de novas técnicas narrativas, essas categorias tornaram-se cada vez mais intricadas. A própria subversão das mesmas é um sintoma de aportes vanguardistas e, ao afirmar isso, já se coloca em dúvida a “rigidez” de Quiroga, e sua posição de “enfrentamento” em relação à modernidade. Voltemos ao primeiro conto já que, além de uma comparação, podemos estabelecer um percurso entre os dois textos. No conto “El hombre muerto”, da década de 20, o narrador coloca-se em posição de onisciência, abre para o “público” uma espécie de cortina e descreve o cenário de forma precisa e verossimilhante, assim o leitor com uma vista panorâmica da história se intera dos acontecimentos. Cheio de reflexões filosóficas, esse narrador com uma onisciência seletiva, mais identificado com a narrativa oitocentista, questiona a inevitabilidade da morte, e daí a própria transitoriedade da vida. O narrador tem dois pontos de vista; um, aparentemente neutro, que de maneira descritiva pinta o motivo inicial: um homem e seu facão “trabalham”, “el hombre y su manchete acababan de limpiar la quinta calle del bananal” [grifo nosso] e, depois do incidente, o homem cai com o facão cravado em seu ventre; à beira da morte, a personagem espera pelo instante que dará cabo a sua vida. O segundo ponto de vista deste narrador é, justamente, o da personagem principal; sob esse foco o narrador passa a fazer questionamentos de ordem filosófica. É possível afirmar que esse narrador se identifica com as narrativas oitocentistas, tanto que o próprio texto se constitui de maneira semelhante à estrutura do romance realista, com a que chamou Roland Barthes de “efeito de realidade” (1970). Sob o véu da verossimilhança, o narrador apresenta a história a seu leitor de forma que ela se mostre o 2 Apesar dessa afirmação, o crítico Pablo Rocca – um dos principais estudiosos de Quiroga atualmente – recentemente reeditou este mesmo livro, porém com um título a mais: “Revisiones” (2007). Nestas revisões podemos observar um tratamento mais generoso em relação ao livro Más Allá; Rocca decidiu reescrever o capítulo e extrair estes comentários que mostramos acima.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 59
mais próximo à realidade possível. Esse efeito, comum à escola realista, era basicamente uma técnica de ilusão, daquilo que Theodor Adorno em seu ensaio, “Posição do narrador no romance contemporâneo”, chamou de “técnica do teatro italiano”, em que as cortinas se abriam e o espectador tinha a visão total de palco, O romance tradicional cuja idéia talvez se encarne de modo mais autêntico em Flaubert, deve ser comparado ao palco italiano do teatro burguês. Esta técnica era uma técnica de ilusão. O narrador ergue uma cortina e o leitor deve participar do que acontece, como se estivesse de corpo presente em carne e osso (ADORNO, 2003:60).
O conto “El hombre muerto” se estrutura também sobre o tempo e o espaço bastante demarcados, “¿Es ése o no un natural mediodía de los tantos en Misiones, en su potrero, en su bananal ralo? ¡Sin duda! Gramilla corta, conos de hormiga, silencio, sol a plomo…”. [grifo nosso]. Essa estrutura bastante pontual dá ao leitor uma segurança em relação ao que é narrado, colocando-o em uma posição fixa dentro da narrativa. Assim, distante dos acontecimentos, e, portanto, em uma posição privilegiada, este tem o poder de julgar. O narrador, suficientemente sábio para transmitir algo importante, colocava questionamentos da ordem do inexorável, como o amor e a morte (no caso deste conto). A técnica é ilusória porque sobre a roupagem real, e a narração supostamente neutra, cria uma ilusão de que o leitor não está sendo controlado, ou mesmo mediado, por um foco, mais especificamente, o ponto de vista do narrador. Apesar de toda a roupagem oitocentista deste conto, ao final, mesmo que já esperado do ponto de vista do conteúdo, há uma inovação do ponto de vista da estrutura; neste já há um indício de que mesmo identificado com a narrativa tradicional, este conto traz consigo aportes vanguardistas. Isso fica evidente porque há uma mudança no foco narrativo, o narrador, (ainda) onisciente, deixa o ponto de vista da personagem que morre e focaliza o ponto de vista do cavalo que vê a cena da morte, Pero el caballo rayado de sudor, e inmovil de cautela ante el esquinado del alambrado, ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear al bananal, como desearía. Ante las voces que ya están próximas - ¡Piapiá! – vuelve un largo, largo rato las orejas inmóvilesal bulto: y tranqüilizado al fin, se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido. Que ya ha descansado (QUIROGA, “El Hombre Muerto”, 2001:312). [grifo nosso]
Aquilo que era indício em “El hombre muerto” será no conto “Las moscas” escancarado. O segundo conto já não se identifica com um narrador tradicional realista. Em “Las moscas” aparece a mesma situação, porém mais “complexificada”. Isso porque o narrador assume diversos pontos de vista, e soma à cena da morte uma nova personagem, as moscas. O desenrolar da narrativa se segue por uma multiplicidade de focos narrativos, ora o narrador têm um caráter de onisciência, ora vê e escreve pelos olhos da personagem, ou ainda vê com os olhos das moscas. Sob esse mesmo argumento temos a leitura do crítico Davi Arrigucci Jr.,
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 60
Voltando a si, o homem tem a revelação do zumbido: as moscas já o atacam. Até esse instante o conto é narrado a partir de dois focos diferentes. No primeiro parágrafo, utiliza-se uma espécie de onisciência neutra, que como uma câmera cinematográfica, apanha, num grande plano, apenas o tronco caído. Mas, já no segundo parágrafo, após um rápido plano de grande conjunto, feito ainda, aparentemente, de um ângulo neutro, em terceira pessoa, se desliza o enfoque pelo tronco até o protagonista sentado, que passa a narrar (ARRIGUCCI, 2003:134). [grifo nosso]
No primeiro parágrafo, a descrição do motivo, o narrador se coloca em posição de onisciência, entretanto, algo de estranho já aparece confrontando-se com o leitor, a menção confusa do tempo, e um espaço que se aproxima e se afasta momentaneamente, tudo isso dá uma idéia de confusão, o leitor perdeu sua posição confortável e sua vista panorâmica: Al rozar del monte, los hombres tumbaron el año anterior éste árbol, cuyo tronco yace en toda su extensión aplastado contra el suelo. Mientras sus compañeros han perdido gran parte de la corteza en el incendio del rozado, aquél [a árvore anteriormente mencionada] conserva la suya casi intacta (QUIROGA, Horacio – “Las Moscas”, 2001:347). [grifo nosso]
No parágrafo seguinte o foco narrativo é completamente invertido, inicia-se uma narração em primeira pessoa, um homem imobilizado espera pela morte. Seguem então novas informações (distorcidas) para o leitor, que mesmo assim mantém-se na sua posição pouco privilegiada. Fica mais nítida a subversão total do espaço/tempo/narrador, já que a imobilidade da personagem confronta-se com a grande mobilidade do narradorpersonagem: Sentado contra el tronco, el dorso apoyado en él me hallo también inmóvil. En algún punto de la espalda tengo la columna vertebral rota. He caído allí mismo, después de tropezar sin suerte contra un raigón. Tal como he caído, permanezco sentado – quebrado, mejor dicho – contra el árbol (QUIROGA, Horacio – “Las Moscas”, 2001:347). [grifo nosso]
O conto segue entre uma aproximação e um distanciamento com a personagem, ora usufrui de sua voz, ora parece desconhecê-la: “el hombre cuya vida está a punto de detenerse sobre la ceniza”; “Quiero cerrar los ojos, y no consigo ya. Veo ahora um cuartito de hospital”. E, ao final, o narrador muda novamente o foco narrativo, já não é onisciente, e tampouco, é o homem à beira da morte, o narrador transforma-se nas moscas: Libre del espacio y del tiempo, puedo ir aquí, allá, a este árbol, a aquella liana. Puedo ver, lejanísimo ya, como un recuerdo de remoto existir, puedo todavía ver, al pie del tronco, un muñeco de ojos sin parpadeo, un espantapájaros de mirar vidrioso y pierna rígidas. Del seno de esta expansión, que el sol dilata desmenuzando mi conciencia en un billón de partículas, puedo alzarme y volar, volar… (QUIROGA, Horacio – “Las Moscas”, 2001:350). [grifo nosso]
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 61
Toda a mobilidade que há entre narrador/espaço/tempo/personagem neste conto se apresenta como uma nova idéia de narrativa, aqui já não é um Quiroga identificado com a tradição oitocentista, a narrativa não se desenrola com a técnica ilusionista de palco italiano, como explicado acima, o que significa uma mudança na técnica de narrar. Para Adorno essa é a posição do novo narrador: (…) o narrador está atacando um componente fundamental de sua relação com o leitor: a distância estética. No romance tradicional, essa distância era fixa Agora ela varia como as posições da Câmera de cinema: o leitor é ora deixado do lado de fora, ora é guiado pelo comentário até o palco, os bastidores e a casa de máquinas (ADORNO, 2003:60).
Essa distância estética de que fala Adorno, fica clara dentro do conto quando o narrador faz uso de um “nosotros”, incluindo o leitor. Ora, o narrador de “Las moscas” parece identificar-se mais com esse narrador do qual falou Adorno (atribuindo à produção literária de Proust) do que com o narrador tradicional. Com a Câmera na mão este joga com o leitor, porque recorta as cenas a partir diversos pontos de vista, ora aproxima, ora distância. Joga também com a idéia de tempo, e com a idéia de verossimilhança, afinal de contas as moscas também têm voz na narrativa. No início deste artigo propusemos o questionamento do termo usado por Rama em relação à Quiroga, o que chamou de “rigidez literária”, isentando-nos de uma proposta tipológica. Podemos agora retornar a idéia de rigidez depois de mostrar uma identificação no conto “El hombre muerto” com a narrativa oitocentista, porém sua subversão ao final quando acrescenta o ponto de vista do cavalo que assiste à morte do homem. Quiroga, na década de 20, no auge de sua carreira de escritor, já não se mostra tão rígido como afirmou Rama. Não se trata mais de rigidez, mas de flexibilidade. Esta última fica mais explícita se recorremos ao conto “Las moscas”, já que a identificação com a proposta vanguardista se amplia e, por isso, acaba por refletir não apenas no foco narrativo, como também nas categorias espaço/tempo/personagem. Seria um erro ainda maior se defendêssemos o escritor como um vanguardista, pois é inegável dentro da produção literária de Quiroga sua identificação com a tradição oitocentista. Tanto que os escritores que mais o influenciaram foram Poe, Dostoievski, Tchékov, todos pertencentes ao século XIX. O próprio conto “Las moscas”, ainda que subversivo do ponto de vista da composição, trata, no que se refere ao tema, de assuntos universais e profundamente ligados à tradição. É justamente por isso que se torna difícil classificar Quiroga; simplesmente postulá-lo como pertencente a uma classe de escritores, por conta de textos como estes. Assim, essa releitura passou apenas como um apontamento dos recursos usados pelo autor em que se evidencia uma flexibilidade, e não uma rigidez.
Referências bibliográficas ADORNO, Theodor W. Notas de literatura 1. Trad. Jorge M. B. de Almeida. Coleção espírito crítico. São Paulo: Duas Cidades ed. 34, 2003. ARRIGUCCI Jr., Davi. O Escorpião Encalacrado: A poética da destruição em Julio Cortázar. 3a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 62
BARTHES, Roland. “El efecto de realidad”, in Lo verosímil. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Real Academia Española. Vigésima segunda edición. <http://www.rae.es/ 08/06/2007>. 12:30. ORTIZ, Fernando. Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar. Caracas: Biblioteca Ayaucho, 1978. QUIROGA, Horacio. Cuentos. Edición de Leonor Fleming. Madrid: Cátedra, 2001. ______. Todos los Cuentos. Edición crítica Napoleón Baccino Ponce de León & Jorge Lafforgue (coord.) 2a ed. Madrid, París, México, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Lima: ALLCA XX, 1996. RAMA, Angel. La novela en América Latina, 1920-1980. Procultura – Inst. Colombiano de Cultura: Bogotá, 1989. ROCCA, Pablo. Horacio Quiroga: El escritor y el mito. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1996. ______. Horacio Quiroga: El escritor y el mito. Revisiones. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2007. ALVES-BEZERRA, Wilson. Reverberações da Fronteira em Horacio Quiroga. Dissertação de mestrado. São Paulo: USP, 2005.
*
Amanda Luzia da Silva é estudante do último ano de Letras da UFSCar, com especialização em língua portuguesa e espanhola. Atuou em projeto de Iniciação Científica dentro da área de literatura latinoamericana nos anos de 2006 e 2007.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 63
DA TRADUÇÃO COMO CRIAÇÃO E COMO CRÍTICA rumo à caracterização de um Quiroga brasileiro1
WILSON ALVES-BEZERRA*
Resumo: Haroldo de Campos (1929-2003), em um texto fundamental sobre a tradução (1963), postula a tradução literária como sendo uma operação de natureza – a um só tempo – crítica e criativa. O tradutor, neste sentido, seria também ele um literato. Proponho analisar como se deu o processo da tradução da obra narrativa do contista uruguaio Horacio Quiroga (1878-1937) em terras brasileiras. A justificativa dessa análise fundamenta-se na multiplicidade temática e formal que caracteriza a obra quiroguiana, bem como o privilégio – por parte considerável da crítica hispano-americana – comumente dado a aspectos regionalistas e supostamente miméticos da obra do uruguaio (cf. MONEGAL, 1968; RAMA, 1972, 1982, passim). Assim, analisar os contos que compõem as coletâneas nacionais de contos de Quiroga, bem como as escolhas estilíticas de cada tradutor, pode ajudar a compor o perfil da ‘tradição ativa’ da narrativa quiroguiana no Brasil; além disso, da análise de outros aspectos da narrativa quiroguiana – comumente relegados ao segundo plano – pode-se supor outra classe de tradução literária desse escritor.
Introdução1 Completou-se no mês de julho de 2007 o centenário da publicação de “El almohadón de pluma” (Caras y Caretas, n. 458, 13 de julho de 1907), um dos primeiros êxitos literários do então jovem leitor de Poe que, aos 29 anos, iniciava um ciclo de vinte anos de febril fazer e sucesso literário, com a temática do mistério ainda encenada em ambiente urbano, que se encerraria com a publicação do livro Los desterrados, em 1926, quando o lar burguês portenho já teria se metamorfoseado na selva tropical do nordeste argentino. Os temas já não seriam os mesmos como tampouco o tratamento formal conferido pelo 1
Uma primeira versão deste trabalho foi apresentada na mesa que tive o prazer de coordenar, “Releituras de Horacio Quiroga”, no SELL – Simpósio de Estudos Lingüísticos e Literários, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba, em junho de 2007. Apresentar este artigo nesta revista, após a publicação de traduções de Quiroga de minha autoria (Contos da Selva (Iluminuras, 2007), Cartas de um caçador (Iluminuras, 2007), “O travesseiro de pena” (Revista da USP, out-dez 2007)), colocame também na delicada posição dos tradutores cuja obra critico – perspectiva a partir da qual peço que este texto seja lido.
narrador seria o mesmo. E a radicalização seguiria num último volume ainda, publicado em 1935, o mal compreendido Más allá, canto do cisne de Horacio Quiroga. Assim, ao longo de mais de trinta anos, o contista Quiroga experimentou os mais diversos procedimentos narrativos e temáticas, publicando mais de duzentos contos – primeiro na imprensa de Buenos Aires e Montevidéu e depois em livro – que compõem uma miríade das diversas tendências narrativas do início do século XX. No Brasil, vale dizer, Quiroga é um escritor quase desconhecido mas que, por outro lado, vem tendo sua obra traduzida desde pelo menos 1921. É portanto razoável supor que em terras brasileiras, os marcos cronológicos fundamentais de Quiroga, tão repetidos de maneira diversa pela crítica ao longo de pelo menos setenta anos, não são os mesmos e, as obras publicadas, tampouco as mesmas. Quem é, portanto, o escritor Horacio Quiroga que se deu a conhecer no Brasil? Ao postularmos uma história das traduções brasileiras de Quiroga surgem duas vertentes possíveis: uma história mais imediatamente visível, para a qual um olhar retrospectivo às edições do autor e à seleção dos contos publicados poderia dar-nos um panorama geral; e uma segunda, menos óbvia e mais resistente ao olhar. Refiro-me àquela que poderia partir da premissa de Salas Subirat, o tradutor argentino de James Joyce, para quem “traducir es el modo más atento de leer” (SALAS SUBIRAT, 1945:IX). Assim, seguir pela segunda senda poderia responder-nos a uma questão intrigante: Quem leu Quiroga, em terra brasileiras, o que terá lido, e o que nos terá dado a ler deste autor? Pois é de se pensar que ao longo de cem anos tenha-se constituído uma tradição, um cânone através das obras consideradas dignas de tradução. Isso mesmo a se levar em conta que não se trata em ambiente brasileiro de um escritor consagrado, mas que tem sido sistematicamente retraduzido e continuamente publicado. Partirei de uma afirmação de Haroldo de Campos (1929-2003) que, em um texto fundamental sobre tradução e que dá título a este artigo – “Da tradução como criação e como crítica” (1963) – postula a tradução literária como sendo uma operação de natureza – a um só tempo – crítica e criativa. O tradutor, neste sentido, seria também ele um escritor: Os móveis primeiros do tradutor, que seja também poeta ou prosador, são a configuração de uma tradição ativa (daí não ser indiferente a escolha do texto a traduzir, mas sempre extremamente reveladora), um exercício de intelecção e, através dele, uma operação de crítica ao vivo (CAMPOS, 2004(1963):43-44).
Esta afirmação de Haroldo de Campos, como se pode ver, fala de um certo tipo de tradutor, aquele que é ele mesmo ‘poeta ou prosador’ e que faz de sua prática, deliberadamente, uma extensão do processo criativo. Sabemos entretanto que essa prática é de exceção. Assim mesmo, postulo que a operação de leitura, a que se referira Salas Subirat, acaba ocorrendo contingencialmente, e a formação da tradição ativa a que se referia Campos termina por ocorrer, mesmo que à revelia. Dessa forma, é do meu interesse ensaiar – ainda que grosseiramente e com traços primários – este trajeto do Quiroga que se vem inventando no Brasil ao longo dos últimos anos.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 65
Pela senda do visível Parafraseando o Decálogo del Perfecto Cuentista de Quiroga, há que se dizer que a cronologia impõe-se no caso do nosso narrador. Uma cronologia imposta pela tradição, mais precisamente pela leitura que as vanguardas argentinas dos anos 20 fizeram de Quiroga. As frases lapidares de Borges falando de Quiroga como um imitador de Kipling (BORGES, 1945 apud RODRÍGUEZ MONEGAL, 1968:222), ou de Eduardo Mallea referindo-se a ele como un hechizado por Poe (cf. La Nación, 1935) fixarão o escritor uruguaio e sua obra entre os cânones do final do século XIX, ainda que seus feitiços formais derramem-se em grande medida sobre a narrativa de Cortázar, por exemplo, sob a forma de procedimentos formais inovadores.2 E a leitura depreciativa que de Quiroga fizeram os vanguardistas portenhos cruza fronteiras. Assim, nos vanguardeiros anos 20, quando se intensificam os intercâmbios literários entre Argentina e Brasil, a literatura de Quiroga não chegará ao eixo Rio-São Paulo via o onívoro leitor vanguardista Mário de Andrade – corresponde privilegiado dos portenhos e divulgador cultural – mas sim pelas mãos do velho Monteiro Lobato. Será, portanto, nas páginas da Revista do Brasil – dirigida por Lobato de 1916 a 1924 – que debutará a literatura quiroguiana no Brasil. O primeiro relato de Quiroga publicado no Brasil será “Uma estação de amor” (1912) traduzido por Lila Escobar de Camargo (Revista do Brasil, n. 73, janeiro de 1922).3 Curioso notar, conforme carta de Quiroga a Lobato, que a mesma tradutora – por iniciativa própria, e sem interesses comerciais – teria traduzido todo o volume Cuentos de amor de locura y de muerte de Quiroga; entretanto, ao que consta, nunca chegou a ser publicada em língua portuguesa a tradução de Lila Camargo, a não ser o conto que abre o volume, já aludido. De um conjunto de quinze contos, dos quais constam algumas das obras-primas de Quiroga, como “El almohadón de pluma” (1907) , “La gallina degollada” (1909), “A la deriva” (1912) e “Los pescadores de vigas” (1913) – que cobrem um espectro narrativo do autor marcado pela concisão tanto em ambiente urbano quanto selvagem, explorando tanto o mistério quanto a solidão e a tensão social – opta-se justamente por um arrastado idílio finissecular, sem grandes interesses narrativos para a crítica quiroguiana contemporânea. É fundamental ter clara a senda pela qual Quiroga debuta no Brasil, via Monteiro Lobato e não os modernistas e, além disso, é também interessante ressaltar que – a se levar em conta a disponibilidade de todos os contos do livro aludido, o editor opta justamente pela publicação de um texto que – no entender do que viriam a ser os cânones narrativos do século XX – é, sem dúvida, uma obra menor. A publicação do conto de Quiroga – e os demais comentários que se seguem nas sucessivas edições da Revista do Brasil – são julgamentos lapidares, a partir dos quais delineia-se ao público brasileiro um escritor mimético e realista, e não um narrador transgressor:
2 3
Vejam-se os contos “El Salvaje” e “Las moscas” de Quiroga ativos na feitura de “Axolotl” e em “Anillo de Moebius” de Cortázar. Agradeço a Ribeiro por esta referência e remeto a seu estudo, RIBEIRO (2004), sobre os intercâmbios literários de Monteiro Lobato.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 66
A arte de Quiroga (…) respeita religiosamente o que é, o que ele vê, o que ele sente. Não mente, não desnatura, não enfeita, não afeia (LOBATO. “Saudação a Horacio Quiroga”, 1921 (1968:96)).
Essa percepção sobre a obra e a escrita quiroguianas, é preciso ressaltar, é compartilhada pelo próprio escritor, ainda que sua obra narrativa muitas vezes desdiga seus comentários sobre a mesma: Muy evidente la analogía entre Ud y yo. (…) Buenos hijos de Kipling, al fin y al cabo (Quiroga, carta a Lobato, 6 outubro 1921 apud RIBEIRO, 2004/5:186).
Chamo a atenção ao discurso sobre Quiroga que põe em circulação Monteiro Lobato nesses primeiros tempos, justamente porque se trata de um discurso de autoridade sem o suporte mesmo que é a narrativa do escritor, pois sua a obra publicada em espanhol circulava de maneira limitadíssima no Brasil, e as traduções, nesses primeiros tempos, limitam-se a um conto menor. Sustento que é na palavra publicada por Lobato que se fixa a imagem do escritor para seus primeiros não-leitores. Assim, a presença nas páginas paulistanas da Revista do Brasil de “Uma estação de amor”, poucos dias antes da semana de 22, é muito sintomática da distância no que tange às eleições estéticas de Lobato e dos modernistas da primeira hora. Não seria exagero dizer que, a despeito do meritório esforço de divulgação de Lobato, Horacio Quiroga já nasce morto e vencido no Brasil – a se tomar como cânone o século XX, insisto.
O subsolo, uma outra senda A saída de Lobato da direção da Revista do Brasil faz cessar o intercâmbio com a Argentina e, conseqüentemente, a publicação de Quiroga no Brasil. A tradução de Cuentos de amor de locura y de muerte de Lila Escobar de Camargo permanecerá secreta e inédita. Haverá que esperar outros tempos para que sigam adiante as traduções do autor. Os anos seguintes conhecerão Quiroga apenas através de traduções esparsas, como a versão em português de “A la deriva” que verte-se para “Em declive” na coletânea Maravilhas do conto hispano-americano, da Cultrix (quando “À deriva” teria bastado); ou ainda a tradução brasileira do conto “Los desterrados” na Revista Ficção, em 1977, executada por Salim Miguel. Mas, há ainda os fatídicos exemplos recentes, como a tradução de Celina Portocarrero para “El almohadón de pluma” na coletânea Os melhores contos de medo, horror e morte (2005), na qual as sutilezas narrativas de Quiroga perdem-se como, por exemplo, no caso da analogia que o narrador faz entre o antropóide que visitava Alice nos sonhos, seu marido Jordán e um parasita no travesseiro; o antropóide, na versão de Portocarrero transforma-se num inverossímil ‘macaco’, desvirtuando a compreensão do conto. Ou ainda a tradução de Alicia Ramal do mesmo conto no igualmente recente Contos Latino-Americanos Eternos (2005), no qual o rico lar burguês dos recém-casados, impecável e irretocável em sua decoração finissecular, tem entretanto o travesseiro da jovem Alicia surrupiado e substituído por uma incômoda “almofada de penas” onde a jovem deitará sua cabeça; vale ressaltar ainda que, nesta versão, não só Alicia é vítima, mas também
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 67
Quiroga e a língua portuguesa: O conto está traduzido muito literalmente num dialeto no qual cabem expressões como “vivia dormida na casa hostil” [original “vivía dormida en la casa hostil”], “Não é incomum que emagrecesse” [“no es raro que adelgazara”] e “Esses parasitos das aves [“estos parásitos de las aves”]”. É ocioso dizer que o efeito é de estranhamento e que a literariedade do conto vê-se seriamente ameaçada. Esses exemplos mostram como, infelizmente, em grande parte das coletâneas brasileiras, repete-se a tradução do mesmo conto, e o mesmo sofre pela tradução descuidada, sem rigor e sem partir de um original confiável. Pois, há que se citar que na versão definitiva de “El almohadón de pluma”, o termo ‘pluma’ está em singular, além de outras sutilezas que não escaparam à obsessão do autor, mas que muitos dos tradutores ignoraram cabalmente.4 Projetos sistemáticos de tradução serão raros no Brasil, e tradução de livros completos de Quiroga mais ainda. Ou seja, pode-se supor que o Quiroga que chega no Brasil até este momento, é um autor de contos, não de livros. O primeiro volume completo de contos de Quiroga no Brasil será, ao que consta, Anaconda, publicado pela editora Rocco, em 1987, portanto há somente vinte anos, com tradução de Angela Melim.5 Dois anos depois, fazendo tardiamente jus à tradição no sul brasileiro da presença cultural hispânica, inicia-se, com Tania Piacentini, numa edição universitária da EDUFSC, uma série de traduções sulinas de Quiroga: Piacentini verte ao português os Contos da Selva, coletânea de oito contos infantis do autor. Já nos anos noventa, segue-a o contista gaúcho Sergio Faraco, que põe em marcha, via Mercado Aberto, uma longa série de traduções de Quiroga: Vozes da Selva, História de um louco amor, Uma estação de amor, Passado amor, A galinha degolada e outros contos. Piacentini faz um trabalho infelizmente fraco, no qual a marca principal é a criação involuntária de uma zoologia fantástica com animais como o ‘urso formigueiro’, em sua livre tradução para ‘tamanduá’ (no original ‘oso hormigueiro’, no conto “A gama cega”), ou alguns ‘tigres’ que passam a habitar a selva argentina, na inadvertida tradução para tigre, que equivaleria a onça (em “A guerra dos jacarés”) . No caso de Faraco, quantitativamente o maior tradutor brasileiro de Horacio Quiroga, cumpre-se pela primeira vez no Brasil, ao menos em parte, o que afirmei no princípio através de Haroldo de Campos: a criação de uma tradição ativa através de um tradutor que é também escritor e atua criativamente no seu fazer tradutório. Veremos com que efeitos. Ao examinarmos as páginas traduzidas de Faraco, poderemos notar algumas escolhas dignas de nota: a opção por reeditar os romances do autor (Historia de un amor turbio e Pasado amor), consideradas em geral como produção menor, tanto literariamente,6 como comercialmente; a opção por não traduzir integralmente um só livro de contos original do autor, e a seleção e reordenamento dos contos segundo critérios seus, transforma-o, sem exagero, num tradutor-editor de Quiroga. Isso não só por organizar novas coletâneas em português, como por – em certos casos – omitir parágrafos inteiros dos contos originais. O primeiro exemplo é “La Cámara 4 Há edições recentes dos contos completos de Quiroga em espanhol, tanto a da Colección Archivos, editada pela Unesco em 1996, como a mais recente publicada na Argentina pela Editora Losada, a cargo de Rocca e Lafforgue. 5 Infelizmente, não tive contato com este volume. 6 Veja-se, a este respeito, o estudo introdutório de Rocca na recente edição das novelas de Quiroga, 1998.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 68
Oscura”, um conto que – no original – é parte de um volume coeso, Los desterrados, em que os contos têm referências cruzadas, e personagens que aparecem em um e outros contos. Em português, no volume A galinha degolada e outros contos, em “A câmera escura” desaparece o terceiro parágrafo (op. cit, p. 55), além do período “Já entardecia e o caixão foi pregado às pressas” que, se no original abria o parágrafo, na tradução o fechará (op. cit, p. 64). Se o primeiro exemplo poderia justificar-se pela omissão da referência a outro conto, e poderia considerar-se como uma opção estética do tradutor, o segundo parece injustificável. O mesmo ocorre com a omissão de várias falas de um diálogo entre pai e filho no conto “El desierto” do volume original homônimo, que é traduzido em Vozes da Selva pelo mesmo Faraco. Noto aqui que não se trata de dificuldades tradutórias, e sim de liberdades que parecem desconsiderar que toda tradução remete a um original que a condiciona. Mas, ainda assim, com a singular posição de Faraco, é curioso notar como ele insere-se numa tradição crítica de autores que se apresentaram ao leitor como autoridades em Quiroga a ponto de permitirem-se corrigir seu estilo, renegar parte de sua obra e, inclusive, chegar a reprimir a posteriori o autor por havê-la publicado.7 Na série dos tradutores de Quiroga seria ainda preciso incluir Eric Nepomuceno, que traduz seus Contos de amor, de loucura e de morte na coleção da Editora Record, que leva o título de Coleção Grandes Traduções, publicada em 2001 – oitenta anos portanto após o trabalho secreto de Lila Escobar de Camargo. E, logo no título, vê-se a mão do tradutor: uma pequena vírgula que no original não há [Cuentos de amor de locura y de muerte], nos impede de ler o ‘de loucura’ como qualificativo de ‘amor’, e nos limita a uma enumeração somente. A apresentação da coleção nos promete, entretanto, livros fundamentais, de ficção e não-ficção, que nunca foram lançados no Brasil, tiveram circulação restrita ou estão há décadas fora de catálogo e agora chegam ao mercado em edições traduzidas e comentadas pelos melhores profissionais em atividade no país (“Grandes Traduções” in op. cit.).
Chamo a atenção para o abismo que há entre o que postulava Haroldo de Campos, ao falar do tradutor que é também ‘poeta ou prosador’, e os ‘melhores profissionais’ a que 7 Sobre alguns contos de Más allá, último livro de Quiroga, dirá Emir Rodriguez Monegal: “No hay que censurarlo por haberlos escrito. Al fin y al cabo tenía que vivir. Pero no debió haberlos reunido en un libro” (RODRÍGUEZ MONEGAL, 1968: 271-2).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 69
se refere o editor da Record. Analisemos pois, como se portariam o prosador ou o profissional diante da seguinte frase do conto “La gallina degollada”: Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina (Quiroga. “La gallina degollada”).
Esclareço que se trata do momento em que os irmãos idiotas de Bertita repetem com sua irmãzinha o procedimento da empregada, a quem há pouco haviam visto sacrificando uma galinha. A analogia entre Bertita e a galinha é evidente. Entretanto, esse elemento perde-se na tradução: Um deles apertou-lhe o pescoço, afastando os cachos de seus cabelos como se fossem plumas, e os outros arrastaram puxando por uma perna até a cozinha, onde naquela manhã haviam visto uma galinha bem agarrada ser sangrada (Quiroga. “A galinha degolada” (Trad. Eric Nepomuceno, p. 54, grifos meus).
Nota-se como se perde no efeito narrativo o aparecimento inesperado das plumas em Bertita que perdem à remissão às penas da galinha. No mesmo conto, em seu parágrafo final, uma cena apenas sugerida tem o efeito de horror para o leitor. É a seguinte: a mãe, ao ver a poça de sangue (mas não o cadáver) da filha, e os gritos do marido, desfalece nos braços do esposo: – ¡No entres! ¡No entres! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Sólo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. (Quiroga. “La gallina degollada”)
A tradução de Nepomuceno, inadvertidamente, termina por afogar a mãe na poça de sangue da filha: – Não entre! Não entre! Berta ainda chegou a ver o chão inundado de sangue. Só conseguiu erguer os braços sobre a cabeça e afundar ao encontro dele com um suspiro rouco (Quiroga. “A galinha degolada” in Contos de amor, de loucura e de morte (Trad. Eric Nepomuceno), p. 54, grifos meus).
O uso inadvertido de dois termos do mesmo campo semântico – afundar, inundar – termina por criar o indesejável naufrágio da mãe. Baste-nos o exemplo melhor logrado de Sergio Faraco: – Não entra! Não entra! Berta chegou a ver o piso inundado de sangue e só pôde levar às mãos à cabeça e lançar-se nos braços do marido com um suspiro que era um ronco.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 70
(Quiroga. “A galinha degolada” in A galinha degolada e outros contos (Trad. Sergio Faraco), p. 23)
Vê-se como Faraco é bem sucedido no que tange à manutenção do foco no desespero da mãe ante a poça de sangue e os gritos do marido, sem permitir que o texto produza um efeito indesejado, apesar de que a expressão ‘um suspiro que era um ronco” possa causar certa estranheza. A retomada que aqui propus é delicada, o trabalho do tradutor é de um risco ímpar, pois sofre da remissão de um original que é criação artística em língua estrangeira. Aproximar original e tradução no caso de Quiroga mostrou-nos o quanto tem custado para este autor entrar em terras brasileiras de modo fluente. Como um primeiro passo da categorização desta tradução, de certa forma contradizendo o que postulei a princípio, não parece haver se formado ainda um cânone brasileiro, a não pelas reiteradas traduções de “El almohadón de pluma”, cujas diferenças estilísticas nas versões brasileiras parecem depender mais da indiossincrasia dos tradutores do que propriamente de critérios estéticos. A existência de três títulos originais do autor em português já é uma marca auspiciosa – Contos de amor, de loucura e de morte; Anaconda; Contos da Selva – muito embora, os dois últimos encontrem-se esgotados; muito embora, duas obras fundamentais de Quiroga sigam inéditas – como Los Desterrados e Más allá. E, curiosamente, o melhor tradutor brasileiro publicado de Quiroga, Sergio Faraco, é justamente aquele que tem optado por traduzir fragmentariamente a obra do escritor. Termino estes apontamentos dizendo que é do trabalho coletivo dos tradutores que se esboça uma possibilidade de esboço de um projeto de tradução de um determinado autor, mesmo que se reiterem os erros, mesmo que se mantenham as omissões, mesmo que se traduzam sempre os mesmos contos. Há algo de precário no fazer do tradutor que é inerente à sua posição. O tradutor deve obediência, ante a língua estrangeira, ante o estilo do autor, ante a economia do conto traduzido. Walter Benjamin (1984) chega a falar na tradução como tarefa angelical, babélica, e que humanamente seria uma quimera, portanto. Já Haroldo de Campos (1963) – a um só tempo na trilha de Benjamin, mas também revertendo-lhe a chave – postula a transcriação luciferina, o tradutor como aquele que tem a possibilidade de recriar o original através das potencialidades da língua de chegada, aquele que tem a obrigação de traduzir um bom poema com outro bom poema; essa possibilidade, mais do que uma liberalidade, uma alforria, cria no tradutor uma responsabilidade que é também criativa, pois a escolha nunca será aleatória e deverá ser sustentável, pois há que haver uma relação de reciprocidade entre original e tradução. Mostrar o trabalho coletivo dos tradutores de Quiroga pareceria, num primeiro momento, colocar os postulados de Campos no terrenos da Utopia, pois ali não se trata de transcriação, e a inteligibilidade do original nalguns casos – como procurei mostrar – viu-se seriamente prejudicada. Entretanto, é nesse ponto justamente que me parece apropriado evocar o tradutor de Dostoiévski, Paulo Bezerra, o qual, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, reencontra a dignidade do trabalho tradutório nos mais humanos subterrâneos, e abre a possibilidade – demasiado humana – de seguir insistindo:
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 71
Em qualquer tradução é essencial que o tradutor penetre nos subterrâneos da linguagem. (…) A tradução é um processo contínuo que parece terminar quando o tradutor põe ponto final em seu trabalho, mas que retorna sempre que ele o relê, pois o distanciamento entre o ato da tradução e o ato de sua leitura já em livro pelo próprio tradutor desperta aspectos de sua sensibilidade que pareciam adormecidos durante a tradução (…) Se o tradutor procede com seu texto como algo inacabado, significa que a tradução como processo criador está inserida na comunidade dos mortais e, portanto, justificada como atividade (BEZERRA, 2005:46-7).
Nessa perspectiva, os tradutores de Quiroga, como os tradutores de qualquer autor, não traduziram ainda. Pelo contrário, estão traduzindo. Assim, proponho que tomemos os exemplos aludidos aqui como um trabalho em curso, do qual vimos os rascunhos, que nos ensinaram algo sobre as responsabilidades e agruras do trabalho do tradutor, inerentes à sua delicada posição. Proponho que pacientemente esperemos a segunda edição, ou nos lancemos nós ao trabalho.
Referências Bibliográficas BENJAMIN, Walter. “La tarea del traductor” in ÁNGEL VEJA, Miguel (org.). Textos Clásicos de la teoría de la traducción. Madrid: Cátedra, 1994. BEZERRA, Paulo. “Nos labirintos da tradução” in Dostoiévski: “Bobók”. Tradução e análise do conto. São Paulo: Editora 34, 2005. CAMPOS, Haroldo de. “Da tradução como criação e como crítica” (1963) in Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 1992. LOBATO, Monteiro. “Saudação a Horácio (sic) Quiroga” (1922) in Conferências, artigos e crônicas. São Paulo: Brasiliense, 1968, pp. 93-98. QUIROGA, Horacio. Todos los cuentos. (Edición Crítica, coord. Napoleón Baccino Ponce de León y Jorge Laforgue. Col. Archivos, vol 26). São Paulo: Allca XX/Edusp, 1996, 2ª ed. ______. Novelas y relatos. Historia de un amor turbio. Pasado amor. El crimen del otro. Los perseguidos. Seis novelas cortas. (Org. Lafforgue & Rocca). Barcelona: Losada, 1998. RIBEIRO, Maria Paula Gurgel. “Sobre diálogos literários: Monteiro Lobato, Manuel Gálvez e Horacio Quiroga” in Revista USP, no 64. São Paulo: USP, 2004/5. SALAS SUBIRAT. “Nota del Tradutor” in JOYCE, James. Ulises (Trad. Salas Subirat). Buenos Aires: Santiago Rueda, 1945.
Traduções brasileiras de Horacio Quiroga citadas no trabalho QUIROGA, Horacio. Anaconda. (Trad. Angela Melim). Rio de Janeiro: Rocco, 1987. ______. Contos da selva (Trad. Tania Piacentini). Florianópolis: Editora da UFSC, 1989. ______. Vozes da Selva (Trad. Sergio Faraco). Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994. ______. História de um louco amor (Trad. Sergio Faraco). Porto Alegre: Mercado Aberto, 1998. ______. Passado Amor (Trad. Sergio Faraco). Porto Alegre: Mercado Aberto, 1999. ______. Uma estação de amor (Trad. Sergio Faraco). Porto Alegre: LP & M, 1999.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 72
_____. Contos de amor, de loucura e de morte. Coleção Grandes Traduções (Trad. e prefácio Eric Nepomuceno). Rio de Janeiro: Record, 2001 _____. A galinha degolada e outros contos seguido de Heroísmos (Biografias Exemplares). (Trad. Sergio Faraco). Porto Alegre: LP & M Editores, 2002. _____. “Uma estação de amor” (Trad. Lila Escobar de Camargo) in Revista do Brasil, n. 73, janeiro de 1922. _____. “Em declive” in RIEDEL, Diaulas. Maravilhas do conto hispano-americano (org.) São Paulo: Cultrix, 1953. _____. “Os desterrados” (Trad. Salim Miguel) in Revista Ficção. n. 24, 1977. _____. “O travesseiro de penas” (Trad. Celina Portocarrero) in COSTA, Flávio Moreira da (org.). Os melhores contos de medo, horror e morte. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. _____. “A almofada de penas” (Trad. Alicia Ramal) in Contos Latino-Americanos Eternos. Rio de Janeiro: Editora Bom-Texto, 2005.
*
Wilson Alves-Bezerra é professor de língua espanhola e suas literaturas na UFSCar. Autor de Reverberações da fronteira em Horacio Quiroga (Humanitas/FAPESP, 2008).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 73
ANEXOS
DECÁLOGO DO PERFEITO CONTISTA (1927) HORACIO QUIROGA
I Creia em um mestre - Poe, Maupassant, Kipling, Tchékhov - como no próprio Deus.
II Creia que sua arte é um cume inatingível. Não sonhe dominá-la. Quando puder fazê-lo, você o conseguirá sem que você mesmo o saiba.
III Resista o quanto puder à imitação, mas imite se a influência for demasiado forte. Mais do que qualquer outra coisa, o desenvolvimento da personalidade é uma longa paciência.
IV Tenha fé cega não em sua capacidade para o triunfo, mas no ardor com que você deseja triunfar. Ame sua arte como sua noiva, dando-lhe todo seu coração.
V Não comece a escrever sem saber desde a primeira palavra aonde irá. Em um conto bem logrado, as três primeiras linhas têm quase a mesma importância que as três últimas.
VI Se você quer expressar com exatidão esta circunstância: “do rio soprava um vento frio”, não há em língua humana mais palavras que as apontadas para expressá-la. Uma
vez dono de suas palavras, não se preocupe em observar se são entre si consoantes ou assonantes.
VII Não adjetive sem necessidade. Inúteis serão quantos rabichos coloridos você pregar num substantivo fraco. Se você encontrar aquele que é preciso, ele sozinho terá uma cor incomparável. Mas é preciso encontrá-lo.
VIII Tome seus personagens pela mão e leve-os firmemente até o final, sem ver outra coisa além do caminho que você lhes traçou. Não se distraia vendo você o que eles não podem ou não lhes importa ver. Não abuse do leitor. Um conto é um romance enxuto. Tenha isso por verdade absoluta, mesmo que não seja.
IX Não escreva sob o império da emoção. Deixe-a morrer, e depois evoque-a. Se você for então capaz de revivê-la tal como aconteceu, terá chegado em arte à metade do caminho.
X Não pense em seus amigos ao escrever, nem na impressão que causará sua história. Conte como se seu relato não tivesse interesse mais do que para o pequeno ambiente de seus personagens, dos quais você poderia ter sido um. Não de outro modo se obtém a vida no conto. Babel, revista bisemanal de arte y crítica, Buenos Aires, julho de 1927. (Tradução Wilson Alves-Bezerra)
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 75
À Deriva (1912) HORACIO QUIROGA
O
homem pisou em algo molenga e em seguida sentiu a picada no pé. Saltou para frente, e ao virar-se com um xingamento viu uma surucucu que, enrolada sobre si mesma, esperava para atacar novamente. O homem olhou rapidamente para seu pé, onde duas pequenas gotas de sangue engrossavam com dificuldade, e sacou o facão da cintura. A cobra viu a ameaça e escondeu a cabeça no centro de sua própria espiral; mas o cabo do facão a atingiu, deslocando-lhe as vértebras. O homem aproximou-se da mordedura, limpou as gotas de sangue, e durante um instante observou. Uma dor aguda nascia dos dois pontos roxos, e começava a invadir todo o pé. Rapidamente atou o tornozelo com seu lenço, e foi pela trilha rumo ao rancho. A dor em seu pé aumentava, com uma sensação de tenso inchaço, e logo o homem sentiu duas ou três fulgurantes pontadas que como relâmpagos haviam irradiado da ferida até a metade da panturrilha. Movia a perna com dificuldade; uma metálica secura na garganta, seguida de uma sede queimante, arrancou-lhe novo xingamento. Chegou finalmente ao rancho, e se lançou de bruços sobre a roda de uma moenda. Os dois pequenos pontos roxos desapareciam agora no monstruoso inchaço de todo o pé. A pele parecia repuxada e a ponto de rasgar, de tão tensa. O homem quis chamar sua mulher, e a voz se perdeu num rouco arrastar de garganta ressecada. A sede o devorava. — Dorotea! – conseguiu gritar. Me dá cachaça! Sua mulher correu com um copo cheio, que o homem bebeu em três goles sem sentir gosto algum. — Eu te pedi cachaça, não água! – rugiu de novo. — Me dá cachaça! — Mas se é cachaça, Paulino! – protestou a mulher, espantada. — Não! Você me deu água! O que eu quero é cachaça! A mulher correu outra vez, e voltou com o garrafão. O homem engoliu, um após outro, dois copos, sem sentir nada na garganta. — Bom, isto está ficando feio… – resmungou, observando seu pé roxo e já com um aspecto gangrenoso. Em torno à profunda atadura do lenço, a carne inchada transbordava como um monstruoso chouriço.
As dores fulgurantes se sucediam em contínuas chispas, e chegavam agora até a virilha. A secura atroz da garganta, que o hálito parecia esquentar mais, também aumentava. Quando tentou levantar-se, um vômito fulminante o manteve meio minuto com a testa apoiada na roda de madeira. Mas o homem não queria morrer, e descendo até a costa, subiu em sua canoa. Sentou-se na popa e começou a remar até o meio do rio Paraná. Ali a correnteza do rio, que nas imediações do Iguaçu corre seis milhas, levaria-o em menos de cinco horas ao Tacurú-Pucú. O homem, com sombria energia, pôde efetivamente chegar ao meio do rio; mas ali suas mãos adormecidas deixaram cair o remo na canoa, e depois de novo vômito – de sangue desta vez – dirigiu seu olhar ao sol que já transpunha a mata. Toda a perna, até metade da coxa, era já um bloco disforme e duro que arrebentava a roupa. O homem cortou a atadura e abriu a calça com sua faca: o baixo ventre surgiu inchado, com grandes manchas roxas e terrivelmente dolorido. O homem pensou que nunca chegaria sozinho ao Tacurú- Pucú, e decidiu pedir ajuda ao compadre Alves, mesmo depois de tanto tempo de estarem brigados. A correnteza do rio se precipitava agora rumo à costa brasileira, e o homem pôde facilmente atracar. Arrastou-se pela picada costa acima, mas passados vinte metros, exausto, abandonou-se, deitado de bruços. — Alves! – gritou com a força que pôde; e em vão apurou o ouvido. — Compadre Alves! Não me negue este favor! – clamou de novo, erguendo do chão a cabeça. O homem teve ainda força para chegar até sua canoa, e a correnteza, tomando-a de novo, levou-a velozmente à deriva. O Paraná corre no fundo de um imenso vale cujas paredes, com altura de até cem metros, emparedam funebremente o rio. A partir das margens, recobertas de negros blocos de basalto, ergue-se o bosque, igualmente negro. Adiante, nas laterais, atrás, sempre a eterna muralha lúgubre, em cujo fundo o rio caudaloso se precipita em incessantes borbotões de água barrenta. A paisagem é agressiva, e nela reina um silêncio de morte. Ao entardecer, entretanto, sua beleza sombria e calma adquire majestade única. O sol já havia se posto quando o homem, recostado ao fundo da canoa, sentiu um violento calafrio. E de repente, com assombro, levantou pesadamente a cabeça: sentia-se melhor. A perna quase não doía, a sede diminuía, e seu peito, já livre, abria-se em lenta inspiração. O veneno começava a ir embora, não havia dúvida. Encontrava-se quase bem e, mesmo sem ter forças para mover a mão, contava com a queda do sereno para refazer-se completamente. Calculou que em menos de três horas estaria em Tacurú-Pucú. O bem-estar avançava e com ele uma sonolência cheia de lembranças. Já não sentia nada nem na perna nem no ventre. Ainda estaria vivo o seu compadre Gaona em TacurúPucú? Talvez visse também seu ex-patrão, Mr. Dougald, e ao gerente da madeireira. Chegaria logo? O céu, no poente, abria-se agora como uma tela de ouro, e o rio se colorira também. Da costa paraguaia, já na penumbra, a selva deixava cair sobre o rio seu frescor crepuscular, em penetrantes eflúvios de flor de laranjeira e mel silvestre. Um casal de araras cruzou o céu bem alto e em silêncio rumo ao Paraguai. Lá embaixo, sobre o rio de ouro, a canoa derivava velozmente, girando por vezes sobre si mesma ante os borbotões de algum rodamoinho. O homem que ia nela sentia-se cada vez melhor, e enquanto isso pensava no tempo exato que havia passado sem ver a
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 77
seu ex-patrão Dougald. Três anos? Talvez não, nem tanto. Dois anos e nove meses? Talvez. Oito meses e meio? Isso sim, com certeza. De repente sentiu que estava gelado até o peito. O que seria? E a respiração… Havia conhecido Lorenzo Cubilla, o gerente da madeireira de Mr. Dougald, em Puerto Esperanza, numa Sexta-feira Santa… sexta? Sim, ou quinta… O homem estirou lentamente os dedos da mão. — Uma quinta… E parou de respirar. Fray Mocho, Buenos Aires, 7 de junho de 1912. (Tradução Wilson Alves-Bezerra)
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 78
Livros de Horacio Quiroga publicados no Brasil CONTOS da selva (Trad. Wilson Alves-Bezerra). São Paulo: Iluminuras, 2007. CARTAS de um caçador (Trad. Wilson Alves-Bezerra). São Paulo: Iluminuras, 2007. A galinha degolada e outros contos seguido de Heroísmos (Biografias Exemplares). (Trad. Sergio Faraco). Porto Alegre: LP & M Editores, 2002. CONTOS de amor, de loucura e de morte (Trad. Eric Nepomuceno). Rio de Janeiro: Record, 2001. PASSADO Amor. (Trad. Sergio Faraco). Porto Alegre: Mercado Aberto, 1999. UMA estação de amor (Trad. Sergio Faraco). Porto Alegre: LP & M, 1999. HISTÓRIA de um louco amor (Trad. Sergio Faraco). Porto Alegre: Mercado Aberto, 1998. VOZES da Selva (Trad. Sergio Faraco). Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994. CONTOS da selva (Trad. Tania Piacentini). Florianópolis: Editora da UFSC, 1989. ANACONDA. (Trad. Angela Melim). Rio de Janeiro: Rocco, 1987.
Cronologia de Horacio Quiroga 1878: Nascimento de Horacio Silvestre Quiroga, no dia 31 de dezembro, en Salto (Uruguai), quarto filho de Juana Petrona Forteza e de Prudencio Quiroga, vice-cônsul argentino. 1879: 14 de março. Ao voltar de um caçada, o pai de Quiroga acidentalmente se dispara um tiro e morre. Quiroga presencia a cena. 1891: Pastora Forteza, mãe de Quiroga, casa-se con Ascencio Barcos, argentino. 1893: Quiroga funda em sua cidade um clube de ciclismo. 1896: No dia 5 de novembro, o padrasto de Quiroga suicida-se com um tiro de escopeta. Ele havia ficado semi-paralítico como resultado de um derrame cerebral. 1899: Quiroga funda a Revista del Salto - Semanario de literatura y ciencias sociales, considerada a primeira publicação de literatura decadentista do Uruguai. 1900: No dia 4 de fevereiro, Quiroga publica o viségimo e último número da Revista del Salto, e atribui à indiferença do público a morte da publicação. No dia 30 de março, embarca para Paris. Retornará ao Uruguai no dia 12 de julho, decepcionado, maltrapilho, sem dinheiro e com a barba crescida que o caracterizará daí por diante. 1901: Publicação de seu primeiro livro, a coletânea de poemas Los arrecifes de coral, dedicado ao poeta Leopoldo Lugones, com uma tiragem de 510 exemplares. A acolhida da crítica não é favorável. 1902: No dia 5 de março, Quiroga vai à casa de seu amigo, o poeta Federico Ferrando, que ia bater-se num duelo com Guzmán Papini. Quando está ensinando seu amigo a atirar, com uma Lafocheux de dois canos (12mm), a arma dispara acidentalmente e Ferrando morre. Quiroga é preso, o irmão do poeta morto o defende, e Quiroga é libertado quatro dias depois. Quiroga vai viver com sua irmã María, em Buenos Aires.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 79
1903: Em junho, participa de uma expedição às ruínas jesuíticas de Misiones, província do nordeste argentino, como fotógrafo, na companhia de Leopoldo Lugones. 1904: Publicação do livro El Crimen del Otro. Com o que lhe resta da herança paterna, Quiroga vai viver no Chaco como plantador de algodão. Mas seu projeto fracassa. 1905: Quiroga, já tendo perdido todo o dinheiro investido na plantação de algodão, começa a colaborar com o semanário portenho Caras y Caretas e o jornal La Nación. 1906: Quiroga é nomeado professor de espanhol e literatura na Escuela Normal no 8. Com o dinheiro de sua mãe, Quiroga compra terras no povoado de San Ignacio, na província de Misiones. 1907: No dia 13 de julho de 1907, Quiroga publica na revista Caras y Caretas um conto que se tornaria célebre: “El almohadón de plumas” (sic). 1908: Publicação do romance Historia de un amor turbio. Quiroga apaixona-se por uma aluna, a jovem Ana María Cires, de apenas 15 anos. 1909: A família de Ana María é contra o namoro. Quiroga ameaça suicidar-se. Os pais da jovem acabam cedendo, o escritor e a garota casam-se em 30 de dezembro. 1910: Quiroga leva sua jovem esposa para viver em condições precárias no povoado de San Ignacio. 1911: No dia 29 de janeiro, nasce, de parto natural, tendo Quiroga como parteiro, Eglé, a primeira filha do casal. Os pais da garota decidem ir morar próximo do bangalô de sua filha. Mas o pai da jovem, Pablo Cirés, logo morre. No dia 24 de maio, Quiroga é nomeado Juiz de Paz e Oficial do Registro Civil em San Ignacio. O desempenho desastroso de Quiroga em suas funções burocráticas ficará imortalizado em contos do escritor, como “O telhado de cabreúva” [“El techo de incienso”], do livro Os desterrados, de 1926, e “El arte de ser buen empleado público” (1917), depois republicado em Anaconda (1920), com o título título “Polea Loca”. 1912: No dia 15 de janeiro, nascerá em Buenos Aires, Darío, filho de Quiroga e Ana María. 1915: Depois de uma discussão com o marido, Ana María Cirés toma uma dose de cianureto, que a levará a morte após alguns dias. 1916: Quiroga retorna a Buenos Aires. 1917: 17 de fevereiro. Quiroga é nomeado secretário contador do Consulado Uruguaio na Argentina. Em abril, o autor publica um de seus melhores livros, o volume Contos de amor de loucura e de morte [Cuentos amor de locura y de muerte], com relatos dos últimos dez anos da produção do autor. Quiroga faz questão do título sem nenhuma vírgula; entretanto, muitas reedições acrescentam o sinal, criando uma série não prevista no título original. 1918: Publica uma coletânea de contos infantis Contos da selva [Cuentos de la selva]. 1921: Estréia da primeira e única peça de teatro de Quiroga, Las sacrificadas, no Teatro Apolo. Publicação de Anaconda.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 80
1922: Quiroga vem ao Brasil por ocasião da celebração das festas do centenário da Independência. Em São Paulo, é recebido por Monteiro Lobato, em 24 de setembro. O então proprietário da Revista do Brasil faz um curioso discurso de saudação a Quiroga, que termina com a proposição de um brinde com um copo de soro anti-ofídico. 1924: Publicação do livro El desierto. 1925: Quiroga se licencia do Consulado e volta a Misiones. Apaixona-se pela jovem Ana María Palacio de 17 anos – o escritor tem então 47 anos. O namoro não segue adiante. 1926: Retorna a Buenos Aires e publica o livro Os desterrados [Los desterrados], cujo conjunto dos contos tem por ambiente a selva de Misiones. 1927: No dia 16 de julho casa-se com uma amiga de sua filha, María Elena Bravo. 1928. Em abril nasce María Elena, filha de Quiroga com sua segunda esposa. 1929: Quiroga publica a nouvelle Passado Amor [ Pasado Amor], baseada em seu caso amoroso de 1925, que é um retumbante fracasso de vendas, com cerca de quarenta livros vendidos. 1931: Publicação de Suelo Natal, livro de contos infantis, em parceria com Samuel Glusberg. No dia 20 de novembro, é nomeado cônsul uruguaio em San Ignacio. 1933: Muda-se com sua esposa e filha para San Ignacio. 1935: Publicação de Más Allá, último livro de contos de Quiroga. Quiroga descobre-se portador de uma hipertrofia da próstata. 1936: María Elena regressa com a filha para Buenos Aires. Quiroga passa a viver sozinho em Misiones. Em setembro, o escritor volta a Buenos Aires e interna-se no Hospital das Clínicas. 1937. No dia 18 de fevereiro, vitimado por um câncer, Quiroga ingere cianureto e se suicida. Seu corpo é cremado, e suas cinzas levadas ao panteão familiar, em Salto, Uruguai, sua terra natal. 1938: Eglé, a filha do escritor, segue os passos do pai, suicidando-se. 1951: O jovem Darío se suicida. 1988: Aos setenta anos, num hotel de Buenos Aires, na rua Maipú, María Elena Quiroga, a terceira filha de Quiroga dá cabo à própria vida. 2004: Fundação da Casa Horacio Quiroga, em Salto, para onde são trasladadas as cinzas do escritor.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 81
ARTE, FILOSOFIA E EDUCAÇÃO
PARA UNA SEMIÓTICA DEL TRAILER LAURO ZAVALA*
Resumen: En este trabajo propongo estudiar al tráiler como género de la promesa. Si consideramos que toda minificción se distingue por su brevedad (metonímica) y su poeticidad (metafórica), encontramos dos tendencias formales. En Europa los tráilers tienden hacia la metaforicidad, eliminando fragmentos de la película anunciada. En cambio, en América los tráilers tienden hacia la metonimización, presentando fragmentos de la película anunciada. Esto último incrementa el riesgo de decepción del espectador al ver la película, pues ya ha visto lo mejor en pocos minutos. A partir del gradiente de narratividad, la iconización de las estrellas, la condensación ideológica y la función de doble anclaje del tráiler se puede crear una hipótesis de protección, que depende de la tendencia hacia la hipotaxis aristotélica o la parataxis experimental de cada tráiler. La función transitiva y deíctica del tráiler depende de su efecto estético. PALABRAS-CLAVE: TRÁILER, MINIFICCIÓN AUDIOVISUAL, PARATAXIS NARRATIVA
Introducción La intención de estas notas es proponer algunas reflexiones acerca de la naturaleza del trailer, y algunas herramientas para su estudio como género de la promesa. Se trata, entonces, de una propuesta con la que se sienta jurisprudencia, es decir, con la que se propone un sistema de conjeturas para nutrir el diálogo y la polémica a partir de un sistema de paradojas para su discusión. En las páginas que siguen presento dos propuestas simultáneas: 1. Una propuesta teórica, que consiste en el reconocimiento de que los estudios sobre el género de la minificción literaria ha logrado el desarrollo académico suficiente para que sus modelos de análisis sean utilizados en el estudio de esta clase de minificción extraliteraria. 2. Una propuesta analítica, útil para el estudio del trailer y otras formas de la minificción literaria y audiovisual, y que consiste en el reconocimiento de las dimensiones metafórica y metonímica en estos materiales.
Nuevos terrenos de la investigación La comunidad académica tiene frente a sí al menos tres terrenos de la investigación de diversas formas de minificción extraliteraria, que sin duda han empezado a ser estudiados también desde la primera mitad de la década de 1980, pero que ahora es necesario analizar de manera más sistemática y propositiva. Es posible, entonces, la ampliación o la creación de un corpus para los estudios de minificción, con el fin de estudiar la especificidad expresiva y comunicativa de los géneros artísticos de brevedad extrema, y que con frecuencia tienen una naturaleza serial. Se trata de tres terrenos específicos: Minificción Gráfica: Tiras de historieta de 2 a 5 viñetas cada una, así como las historietas con una extensión de 1 página impresa. Minificción Musical: Letra y melodía del canto popular, lo cual incluye innumerables géneros específicos, como bolero, tango, ranchera, cante jondo, copla, balada y muchos otros. Minificción Audiovisual: Los géneros con duración mínima (menos de 30 segundos) coexisten con otros de duración relativamente mayor (digamos, menos de 3 minutos). Los primeros incluyen: animación experimental, publicidad televisiva, spots políticos, créditos iniciales, y cortos, teasers o trailers que anuncian el estreno de un largometraje de ficción o documental (y que ahora están accesibles en el DVD que contiene la película). De estos géneros, sin duda el más estudiado ha sido la publicidad televisiva. Y sin embargo, la mayor parte de las aproximaciones han sido desde la perspectiva de la semiótica y de la retórica. Está por ser explorada su naturaleza minificcional y su naturaleza serial. La propuesta que hago aquí para el estudio de estos materiales de carácter extraliterario (gráfico, musical o audiovisual), que a pesar de su interés han sido relativamente poco estudiados, consiste en utilizar las herramientas de la teoría, la historia y el análisis de la minificción literaria. Algo similar ocurrió al iniciarse los estudios en teoría cinematográfica, pues éstos se nutrieron originalmente de la tradición en los estudios sobre artes plásticas, lenguaje dramático y escenográfico, fotografía, literatura y música, hasta lograr la autonomía de los estudios sobre la edición (gracias a la cual se integran los demás códigos que están presentes en el cine). Aquí tal vez conviene recordar algunas de las características específicas que distinguen a todas las formas de la minificción (y que la distinguen del minicuento). Estas características son las siguientes: inicio anafórico, temporalidad elíptica,
Psicosis
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 85
espacio metonímico, perspectiva irónica, personajes alusivos, hibridación genérica, intertextualidad implícita, ideología lúdica o lírica, final catafórico y serialidad fractal.1 De entre todas estas características conviene destacar dos de ellas, que comparte con las formas de minificción extraliteraria, y que tienen una función estratégica en la estética de la brevedad moderna y posmoderna: el sentido catafórico del final, y su naturaleza serial. En cuanto al sentido catafórico del final, se trata del hecho de que aunque el final del texto cierra la historia, sin embargo abre el texto a más de una interpretación posible. Aunque sabemos que en la relación entre inicio y final está contenido el programa textual, a todo final catafórico parece corresponder un inicio anafórico, que presupone la familiaridad del lector con elementos previos a este inicio textual. El inicio anafórico más frecuente es el inicio in medias res, es decir, cuando la acción narrativa ya está Claudia Cardinale, en Otto e Mezzo, de Fellini avanzada. Pero la naturaleza catafórica del final es más compleja: el final es catafórico siempre que invita al lector a releer irónicamente el texto. Y en cuanto a la naturaleza serial de la minificción, ésta consiste en la existencia de un efecto acumulativo que se produce en el lector (espectador /visitante) al leer más de un texto o al leer un texto que establece un ritmo interno específico, gracias a la repetición anafórica. Una minificción, a diferencia de un minicuento, forma parte de una serie de minificciones, pues la estética posmoderna juega simultáneamente con el concepto de totalidad (propio de la tradición clásica) y con el concepto de fragmentación (específico de la modernidad). En otras palabras, una minificción puede ser leída como un texto autónomo, que contiene las reglas que permiten su interpretación, y también puede ser leída como parte de una serie a la que pertenece, que es la que contiene las reglas que permiten su interpretación. En esta naturaleza simultáneamente autónoma y serial está el núcleo de la escritura breve como un género textual con reglas propias. Una minificción contiene rasgos fractales que comparte con los otros textos de la serie. En cambio, un minicuento no necesariamente comparte rasgos estilísticos con otros textos de la serie a la que pertenece. Así, por ejemplo, en la escritura de Juan José Arreola encontramos minificciones posmodernas en las décadas de 1950 y 1960, como las series de la llamada novela La feria (1962) y en los textos de artesanía verbal de su poético Bestiario (1959), donde encontramos juegos literarios (fractales) a partir de las reglas de un género textual inaugurado con la escritura de esos textos. Por otra parte, encontramos formas de modernidad y experi-
1
Estos componentes se derivan del modelo general para el análisis de la narrativa literaria contenido en el Manual de análisis narrativo. México, Trillas, 2006.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 86
mentación en los palíndromos aislados de algunos poetas, o en el volumen Leérere (1989) de Dante Medina, donde en cada texto se crean reglas sintácticas irrepetibles. En lo que sigue propongo un modelo para el estudio de todas las formas de minificción, el cual consiste en el reconocimiento de sus componentes metafóricos y metonímicos, respectivamente.
Minificción, metáfora y metonimia Si las características genéricas fundamentales de toda minificción son su cortedad extrema y su carácter poético, estas dos características (brevedad y poeticidad) son producidas, respectivamente, por un alto grado de metonimización (en forma de alusiones, implícitos y elipsis) y por un alto grado de metaforización (en forma de alegorías, paralelismos y sustituciones). Ambos mecanismos de producción genérica (metonimización y metaforización, es decir, condensación narrativa y sustitución alegórica) definen también lo que podríamos llamar minificción audiovisual, la cual puede adoptar diversas formas, que van de los teasers o trailers cinematográficos (es decir, avances del contenido narrativo de un largometraje de ficción) a los videoclips musicales, los cortometrajes publicitarios y la animación experimental, todos los cuales tienen también una extensión extremadamente breve (menor a tres minutos). En aquellos géneros cuya finalidad es comercial (invitar a un posible consumidor a adquirir el producto anunciado), el recurso dominante es la metonimización, mientras que en la minificción literaria y audiovisual de naturaleza artística (como es el caso de la animación experimental) el recurso dominante es la metaforización. A continuación se señalan los principales mecanismos de naturaleza metafórica y metonímica en ambos tipos de minificción (literaria y audiovisual), señalando los lineamientos que podrían ser considerados para cartografiar un terreno de la literatura y de la producción artística y medial que espera ser explorado por los investigadores de la cultura contemporánea.
Metáfora y metonimia en el trailer cinematográfico Estudiemos ahora un género específico de la minificción cinematográfica: el llamado trailer, que no es otra cosa que el material publicitario que se proyecta en las salas de cine para anunciar una película que será estrenada en el futuro próximo. Actualmente estos trailers acompañan a las películas en disco compacto. El hecho más espectacular en la tradición del trailer es la distinción entre la tendencia en los países europeos a elaborar trailers de carácter metafórico (en los que no se incluyen fragmentos de la película anunciada) y la tradición dominante en el resto del mundo, de carácter metonímico (en los que se muestran avances de la película). En resumen, podemos observar una tendencia europea a la metaforización, es decir, en sólo aludir de manera indirecta y alegórica al contenido narrativo y audiovisual de la película anunciada, y la tendencia americana a la metonimización, es decir,
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 87
Dogville
a seleccionar las imágenes más significativas del contenido narrativo y audiovisual de la película anunciada. Veamos dos ejemplos de metaforización en trailers de origen directa o indirectamente europeo: Otto e Mezzo (1963) de Federico Fellini, y Dogville (2003) de Lars von Trier.2 El trailer con el que se anunció Ocho y medio consiste en una serie de fotografías solarizadas en blanco y negro y alto contraste de la actriz principal (Claudia Cardinale), acompañadas de algunos juicios de valor de los críticos italianos, así como la presentación de los créditos en blanco y negro, y una serie de frases aplicables a cualquier otra historia, es decir, fragmentos sin ningún referente específico. Se trata, entonces, de un trailer en el que hay un total alejamiento de cualquier sentido narrativo, y donde la metaforización funciona como suspensión de la secuencia sintagmática de la película. Por otra parte, en el caso de la película Dogville encontramos un caso extraño. El director es danés, pero la película (escrita y filmada totalmente en Dinamarca) trata sobre una comunidad aislada de ciudadanos norteamericanos, y en ella todos los actores son norteamericanos. Tal vez esto explique el hecho de que existen dos distintos trailers: uno distribuido en Japón y otro distribuido en el resto del mundo. El primero contiene fragmentos de la película (que es marcadamente metaficcional y brechtiana), mientras que el trailer internacional no contiene ninguna alusión al contenido de la película. Se trata de imágenes en un recuadro pequeño, donde algunos actores fueron grabados en el momento de acudir a un espacio donde podrían hablar acerca de la filmación. Pero en lugar de hablar sobre el rodaje, hacen comentarios sobre el hecho de que el foco está apagado. Así pues, se trata de otra forma de alejamiento extremo de cualquier alusión al contenido y a la forma de la película… lo cual alude indirectamente al sentido último de una película radicalmente experimental y a la vez radicalmente espectacular.
2 Federico Fellini: 8 ½ (Italia, 1963). Trailer incluido en la edición del DVD en The Criterion Collection (Estados Unidos, 2001); Lars von Trier: Dogville (Dinamarca, 2003).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 88
El trailer como género de la promesa ¿Cómo estudiar el trailer? Si consideramos que el trailer es un género de la promesa, será necesario empezar por el final. Es decir, el final de la película y el final de la experiencia de verla. ¿Tiene el trailer alusiones al final de la película? Y más aún, cuando el espectador ya ha visto la película, ¿se cumplió o no se cumplió la promesa contenida en el trailer? Este final puede ser o no ser epifánico, y la epifanía puede ser de dos tipos: epifanía narrativa (como resolución de los enigmas narrativos) y epifanía estética (como conclusión formal de la experiencia cinematográfica, generalmente establecida en la banda musical que acompaña a los créditos). Por otra parte, podemos preguntarnos cuál es el gradiente de narratividad que contiene el trailer. A mayor metonimización (y por lo tanto, a mayor contenido narrativo) en el trailer, es mayor el riesgo de decepción que tendrá el espectador al ver la película, pues un trailer metonímico suele seleccionar los momentos visual y dramáticamente más espectaculares. En ese sentido, un trailer densamente metonímico corre el riesgo de ser mejor que la experiencia de ver la película, en cuyo caso la promesa (anunciada implícitamente en el trailer) rebasa la experiencia concreta de ver la película. Uno de los elementos de esta metonimización (además del final) es la intriga de predestinación, es decir, el anuncio (al inicio de la película) de la conclusión que tendrá la historia, así como la inclusión de algunos nudos dramáticos particularmente espectaculares. Un tercer elemento a considerar es el gradiente de condensación ideológica, es decir, el subtexto narrativo que es la síntesis de la promesa. En síntesis, al estudiar un trailer conviene tomar en cuenta el balance logrado entre los componentes metafóricos y los metonímicos, es decir, entre lo que se muestra y lo que se sugiere. Así, es necesario reconocer el correspondiente gradiente de narratividad, contenido en estrategias tales como: 1) la intriga de predestinación; 2) los nudos dramáticos; 3) la iconización de las estrellas; 4) la epifanía narrativa; 5) la epifanía estética, y 6) la condensación ideológica, es decir, la síntesis de la promesa (generalmente formulada a través de una frase publicitaria que apela directamente al espectador). A todo lo anterior conviene añadir el estudio de un elemento de naturaleza claramente metafórica: la fuerza persuasiva de la banda sonora, que constituye un subtexto de carácter estético e ideológico.
El doble anclaje y la red de protección El trailer cinematográfico es el material elaborado por la instancia de producción o distribución de una película de largometraje con el fin de promoverla entre los posibles espectadores. Se podría pensar para su estudio en un doble modelo semiótico, derivado de su naturaleza deíctica y de los componentes del lenguaje audiovisual. En primer lugar, conviene señalar la doble función semiótica que cumple el trailer, tanto estética (es decir, autónoma en relación con la película a la que alude) como transitiva (es decir, de carácter estrictamente comercial). Paradójicamente, la función transitiva del trailer depende del efecto estético que produzca en el espectador. En ambos casos el trailer puede ser considerado como un género deíctico, a la manera de un doble anclaje barthesiano. El trailer funciona como anclaje externo cuando REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 89
Citizen Kane
es experimentado antes de haber visto la película (al apelar a competencias del espectador que son externas al film). A su vez, el trailer funciona como anclaje interno después de que el espectador ha visto la película (al apelar a su experiencia de fruición). En términos generales, la diversidad de estrategias formales del trailer se desliza sobre un eje deíctico, definido por el gradiente de transitividad. En otras palabras, a mayor transitividad (es decir, cuando se aproxima a lo que se podría llamar una saturación deíctica), el trailer tiene una mayor carga metonímica (lo cual significa que está formado por elementos formales y narrativos que pertenecen a la película anunciada). En el extremo de saturación deíctica, el espectador experimenta la sensación de que el trailer ofrece una experiencia estética más satisfactoria que la película misma. La tradición metonímica es característica del trailer americano, y de las formas más comerciales de los géneros clásicos (como el cine de acción, las historias románticas y la comedia). En el otro extremo del eje deíctico, la tradición metafórica es característica del cine europeo y oriental, donde sólo se presentan elementos externos a la película. El segundo eje sobre el que se desliza la diversidad de propuestas del trailer es precisamente el eje definido por el gradiente de narratividad. En un extremo se encuentra el respeto absoluto a la secuencialidad causal (es decir, lógica y cronológica) de la historia. Y en el otro extremo se encuentra la total autonomía del fragmento. En el primer caso hablamos de una tendencia a la hipotaxis aristotélica, y en el segundo, a la parataxis experimental, que caracteriza al cine de las vanguardias históricas y al cine oriental, donde las imágenes y su poder evocativo, los silencios y las rupturas sintagmáticas tienen mayor importancia que el contenido narrativo.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 90
Este eje (gradiente de narratividad) permite precisar la existencia de tres regímenes de verosimilitud: (a) un régimen de la totalidad (trailer clásico, como el de Barry Lyndon, que sintetiza el concepto narrativo integral de la película); (b) un régimen del fragmento (trailer moderno, como los casos de Dogville o de Citizen Kane o de Otto e Mezzo, que son independientes del contenido global de la película) y un régimen fractal (trailer posmoderno, como el de Psicosis, que oscila entre ambos extremos). Lo anterior permite proponer la Hipótesis de la Red de Protección, que permitiría explicar cómo proteger al espectador para que no se decepcione al ver la película, después de haber visto el trailer. Esta Red funciona cuando en la correlación entre los ejes del gradiente deíctico y el gradiente de narratividad tienen un mayor peso las dimensiones metafórica y paratáctica en el trailer que en la película. Sin embargo, la existencia de esta red no se puede garantizar de manera generalizada, pues su existencia depende de los apetitos estéticos (es decir, las experiencias y expectativas) de cada espectador en cada ocasión.
Conclusión Una de las consecuencias del surgimiento de la minificción en lengua española puede ser la construcción de modelos de teoría y análisis de alcance general, es decir, aplicables más allá de la literatura escrita en español, y que al ofrecer un sistema conceptual riguroso y exhaustivo merezca ser traducido a otras lenguas. Estas propuestas de teoría literaria original (derivada del estudio de la minificción) pueden tener una utilidad que no está reducida al estudio de la minificción, sino que a partir de ahí se puede aplicar al estudio más preciso de los géneros literarios con los que la minificción dialoga por su propia naturaleza textual. Y también pueden ser utilizados productivamente para el estudio de los terrenos más importantes de la expresión artística y de la producción simbólica en la vida cotidiana, como parte de la cultura contemporánea.
*
Lauro Zavala – Profesor de teoría literaria, semiótica y cine e Coordinador da Área de Concentración en Semiótica Intertextual en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, México; presidente de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico (SEPANCINE); autor, entre otros, de Elementos del discurso cinematográfico (UAMX, 2005).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 91
O tempo de
MARCEL PROUST
e o cinema
EDSON CRUZ*
Resumo: O cinema e a literatura embora tenham suas especificidades, e desenvolvam recursos próprios de expressão, estão intimamente ligados na busca de uma expressividade artística do tempo e das vivências mais íntimas do ser. Como se sairia um cineasta que tentasse adaptar para o cinema a obra de Marcel Proust, o escritor que, talvez, melhor tenha conseguido retratar a passagem do tempo vivido e rememorado no romance moderno? É o que tentamos perseguir neste ensaio que analisa um dos livros de Proust e a adaptação cinematográfica feita por Volker Schlondorff. PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, TEORIA DO CINEMA, TEORIA LITERÁRIA
L
iteratura e cinema são namorados antigos, e desse relacionamento já saíram alguns frutos bem apetitosos. Como seria o casamento de uma obra como a de Proust com esta arte hoje tão controversa, o cinema, que a julgar pelas produções hollywoodianas atuais, dá preferência a roteiros muitas vezes rasos e ágeis, para não dizer outra coisa? O diretor alemão Volker Schlondorff convidou o grande roteirista Jean Claude Carrière e juntos realizaram, em 1984, um filme baseado na obra de Marcel Proust. O filme chama-se Um Amor de Swann e basicamente foca-se no romance No Caminho de Swann ou, mais exatamente, no segundo capítulo do primeiro livro do grande romance de Proust. Como sabemos, o monumental romance de Proust, Em Busca do tempo Perdido, foi elaborado em sete romances que se entrelaçam, formando um todo harmônico e musical como uma sinfonia. No Caminho de Swann compõe, juntamente com A Sombra das Raparigas em Flor; O Caminho de Guermantes; Sodoma e Gomorra; A Prisioneira; A Fugitiva; e O Tempo Redescoberto; a grande obra Em Busca do Tempo Perdido. Sabemos também, que o último capítulo do último volume, foi escrito imediatamente após o primeiro capítulo do primeiro volume, o que por si só, demonstra que o romance não foi concebido linearmente, pois a matéria central entre os dois foi escrita depois. Proust quis representar por intermédio do narrador, indiferente à cronologia e à organização lógica, as suas próprias questões existenciais. O Narrador, que é o personagem
principal, coloca o problema de uma vocação que se debate até tomar consciência de si mesma no último livro do romance. Em uma brilhante tese sobre Proust (e que eu saiba ainda não editada em livro) a pesquisadora Maria Arminda levantou várias questões que nos interessam, por exemplo: se o romance tivesse, um caráter puramente cronológico e contasse apenas a estória de um herói em conflito com o mundo, para lembrar a fórmula de Lukacs, duas divisões se ordenariam simplesmente como episódios da aventura global. Tal não ocorre, porém, na narrativa de Proust porque ela não conta só a estória do protagonista, mas também a estória do seu duplo, o narrador em busca de assunto para o livro que deseja escrever. (SOUSA-AGUIAR, 1979: 11-12).
No Caminho de Swann conta-nos a estória de Swann e sua paixão por Odette de Crécy, tendo como pano de fundo o clã dos Verdurin, burgueses enriquecidos, de origem obscura, que, com um séquito de fiéis e suas relações de aparência e dependência mútua, revelam-nos em seu microcosmo, a visão crítica que Proust tinha da sociedade de sua época. Embora o narrador do romance esteja ainda distanciado do mundo que narra, o mundo narrado não é algo objetivo, como nos romances realistas, e sim uma vivência subjetiva. Poderemos identificar seu foco narrativo, como sendo uma visão por trás, ou acima dos acontecimentos, de acordo com a tipologia que o crítico Norman Friedman (apud LEITE, 1993: 26-27) define como autor onisciente intruso. Estas tipologias alencadas por Friedman [se ainda não as conhece, vá até <http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/foco/ index01.html>, tão características do séc. XIX, me parecem não servir para a obra de Proust, que as supera, quando não as implode. Para Álvaro Lins, outro grande crítico literário da antiga (sem nenhum sentido pejorativo no termo, muito pelo contrário), (…) ainda que discreta na aparência e objetivamente numa posição modesta, como é o caso do Narrador em A la recherche du temps perdu, ela é sempre a personagem principal visível ou invisível, sempre está presente de fato, ou subjetivamente, no desenvolvimento da narração, excetuando o intermezzo que é Un amour de Swann”. (1956: 67)
Eu diria que até neste intermezzo, o narrador que, aparentemente, está por trás da cortina se insinua, como no trecho a seguir:
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 93
(…) Meu avô justamente conhecera, coisa que não se poderia dizer de nenhum de seus amigos atuais, a família desses Verdurin. Mas perdera todo contato com aquele a quem chamava “o jovem verdurin” e que considerava, generalizando um pouco, como decaído entre os boêmios e a gentalha, embora conservasse muitos milhões. Um dia recebeu uma carta em que Swann pedia uma apresentação para os Verdurin. “Alerta! Alerta”, exclamara meu avô. – Isso não me espanta, era mesmo por aí que Swann devia acabar. Bonito meio! Mas não posso fazer o que me pede porque não conheço mais esse cavalheiro. E depois, deve andar aí A algum rabo de saia, e eu não me meto nessas coisas. Ah! Vai ser divertido se Swann se engraçar com os Verdurin! E ante a resposta negativa de meu avô, foi a própria Odette quem levou Swann à casa dos Verdurin. (No Caminho de Swann, p. 197-198).
Mas a maior parte desse intermezzo centra-se no ponto de vista de Swann, tornando-o a personagem principal. Podemos dizer que, na criação do narrador, Proust aproveitou de si mesmo a estrutura psicológica, moral e artística, emprestando-lhe, ao contrário, episódios biográficos inventados ou observados em outros. Para Maria Arminda, Proust opera uma verdadeira revolução no gênero narrativo pelo simples fato de inverter duas posições habituais: o narrador não está mais voltado para o mundo, mas o mundo é que passa a existir em função do narrador. (1979: 135-136 e 141).
Alguns problemas técnicos, dentro da coerência do enredo, são resolvidos com o narrador transformando-se em voyeur da vida privada de alguns de seus personagens ou mesmo tornando-se onisciente. Assim o leitor tem acesso direto aos sentimentos de Swann por Odette. Entretanto, como diz Maria Arminda, para conservar aparentemente a focalização no herói-narrador, Proust semeia o seu relato de locuções modalizantes (talvez, como, parece, provavelmente)… e recorre à referência ao informante vago para justificar um conhecimento preciso de dados que o protagonista dificilmente poderia obter. (idem).
Assim, sobre a vida de Swann, já no capítulo 1 podemos encontrar: E assim ficava eu muitas vezes até de madrugada, pensando nos tempos de Combray, em minhas tristes noites de insônia, e em tantos dias também, cuja imagem me fora mais recentemente evocada pelo sabor – “o perfume”, como diriam em Combray – de uma taça de chá e pela ligação estabelecida entre recordações minhas e certas coisas relativas a um amor que tivera Swann antes de meu nascimento e que só vim a saber muitos anos depois de deixar a cidade, e isto com essa precisão de detalhes mais fácil de obter às vezes quando à vida de pessoas mortas há séculos do que com referência a nossos melhores amigos, e que parece impossível, como parecia impossível conversar de uma cidade para outra – enquanto se ignora o modo como foi contornada essa impossibilidade. (No Caminho de Swann, p. 182-183).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 94
Para ampliar um pouco mais a relação entre o que está sendo narrado e o narrador, vale ressaltar que, paralelamente, tanto Swann como o narrador, farão através das relações com o círculo dos Verdurin, suas experiências fundamentais. As do narrador serão explicitadas nos livros subseqüentes. No filme de Schlondorff, a identificação do narrador com Proust é totalmente abolida. O narrador é o protagonista Charles Swann que utilizando basicamente de um monólogo interior, aliado à rememoração feito pela técnica de “flashbacks” nos conta suas venturas e desventuras com Odettte de Crécy e o círculo dos Verdurin. Tanto a literatura como o cinema, de maneira geral, estão intimamente ligados pela conotação. A denotação, por sua vez, já se encontra presente antes do empreendimento artístico. Como diz Metz, o filme, como a linguagem verbal, é suscetível de ser usado apenas como veículo, sem qualquer preocupação artística, reinando sozinha a designação (=denotação). Por isso, a arte do cinema, bem como a arte do verbo, será elevada de um grau: é, em última análise, pela riqueza de suas conotações que o romance de Proust se diferencia – do ponto de vista semiológico – de um livro de cozinha, o filme de Visconti de um documentário cirúrgico. (1972: 94-95).
Nesse sentido, apesar de ligados na busca desta expressividade artística, cinema e literatura desenvolveram seus próprios recursos de expressão. Parece óbvio, mas é bom ressaltar, que filmar um grande romance, ou parte dele, como o de Proust, não é garantia de se conseguir um grande filme. Um filme é suscetível de oferecer vários modos de interpretação, de admitir vários níveis de leitura. Seus procedimentos narrativos vão desde o uso da Imagem e do som, até os usos e movimentos da câmera, chegando por fim a montagem. As imagens podem ser a materialização objetiva de um conteúdo mental preciso; a presença de um objeto que possui valor simbólico; a presença de um jogo de cena com valor dramático; resultado da iluminação; combinações ou ausência de cores; distorções da imagem, fusões, aparições e desaparecimentos; superposição de personagem, objeto, cena, inscrição; panorâmica rápida; desenho animado etc. O som como procedimento narrativo e expressivo é utilizado de várias formas: as falas; a música (como contraponto simbólico em relação à situação ou às falas); os ruídos; o silêncio (como símbolos de angústia, solidão, morte); os sons em off (que abrangem as falas, a música e os ruídos). Para a câmera e seus usos, podemos notar: o tamanho dos planos (geral, primeiro plano, detalhe, inserção); os ângulos de filmagem; enquadramentos; os movimentos da câmera para trás, para frente, vertical; panorâmicas; trajetória; modificação do movimento, imagem acelerada, câmera lenta, congelamento, inversão. Na montagem a narrativa se explicita: ela pode ser rápida; lenta; por paralelismo; plano intercalado; a elipse (supressão de planos importantes por seu conteúdo dramático); a passagem de um plano de realidade a um outro; flashbacks. Segundo o grande teórico de cinema Marcel Martin, no complexo espaço-tempo que modela o universo do filme, é o tempo que estrutura fundamentalmente a narrativa cinematográfica, sendo o espaço uma referência secundária. “É, portanto, em relação à sua maneira de tratar o tempo que deve ser analisada a construção de um filme”. (1990: 257).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 95
Ele sugere os seguintes tratamentos: o tempo condensado (supressão dos tempos fracos da ação); o tempo respeitado (duração da ação idêntica à do próprio filme); o tempo abolido (fusão de temporalidades diferentes num espaço fílmico único); e tempo revertido (retorno ao passado ou flashbacks). O filme de Schlondorff usa o tratamento do tempo revertido em abundância. Momentos marcantes para a paixão de Swann são todos rememorados em flashbacks: a primeira visita de Odette; a orquídea nos seios de Odette; o crisântemo nas primeiras despedidas; um jantar com os Verdurin. Fica-nos a impressão retrospectiva da narrativa, um tempo que se prende ao já vivenciado. Em Proust a narrativa é vivenciada no presente. O seu tempo não é apenas retrospectivo, mas também prospectivo. No livro, até o momento do aparecimento das orquídeas (onde as catléias ‘precisam ser arranjadas’) são quarenta e duas páginas de tessitura, onde o clã dos Verdurin é apresentado; Swann conhece Odette: começa a freqüentar o clã e finalmente vê-se envolvido na teia de Odette e dos Verdurin. A questão do tempo em Proust está ligada, intimamente, com a memória involuntária, que é o afloramento à consciência de determinada lembrança a partir de uma sensação análoga à outra experimentada anteriormente. No filme, com o procedimento do tempo revertido, o diretor consegue, em alguns momentos, se aproximar deste funcionamento da memória involuntária. No livro, por exemplo, Swann ao ouvir a sonata de Vinteuil, quando Odette já o despreza, sente voltar o tempo em que era amado por ela. No filme, ao se despedir de Odette – que vai à ópera sem ele – ao receber um crisântemo, lembra-se (em flashback) de ter recebido um crisântemo quando Odette ainda o desejava. A questão do tempo, no cinema e no romance, não é apenas uma questão de se estabelecer a proporção entre a importância do evento e o tempo destinado ao seu tratamento. No romance, a duração percebida está relacionada à sintaxe. Os vôos estilísticos e as digressões retardam, por exemplo, o fluxo da narrativa. E neste aspecto, o romance de Proust é um verdadeiro marco narrativo. Proust cria e recria o tempo com maestria, gerando um ritmo extremamente lento, que parece dissolver a ação. No cinema, a questão está relacionada às questões de estilo e montagem. É a narrativa depurada na montagem que cria o tempo. Para citar outro teórico do cinema, Robert Stam: “A narrativa envolve uma temporalidade tríplice: o tempo da história, o tempo do discurso e o tempo de produção do discurso”. (1990: 221). O tempo da história pode abranger uma vida toda. O tempo do discurso compreende o tempo necessário para se ler o romance, ou assistir ao filme. O tempo de produção do discurso é como esta história é contada no tempo, ou seja, esta vida toda pode ser contada em um dia. A história de Swann, no romance, é diluída nos três capítulos de forma não linear. No intermezzo que nos interessa é narrado seu amor por Odette até o desvanecer deste por completo. No filme, a história de Swann abrange até quase o final de sua vida, casado com Odette, com uma filha e doente. O diretor usa os recursos de tempo condensado, tempo abolido e tempo revertido dando-nos a impressão que o tempo do discurso cinematográfico é quase inexistente. Busca, também informações dos outros capítulos do romance – e até dos outros livros – para compor os personagens de forma precisa, e arrematar sinteticamente a história.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 96
Não se pode negar em Proust, a influência bergsoniana na apreensão do tempo como “duração” fora do encadeamento sucessivo dos fatos. Mas, não seria totalmente verdadeiro conceituar o romance proustiniano como uma adequação literária da filosofia de Henri Bergson, como muitos o fazem. Ainda segundo Maria Arminda, só mais tarde, e assim mesmo superficialmente, veio Proust a conhecer a filosofia de Bergson, tendo sempre negado a existência de uma relação direta entre a sua obra e as teorias do filósofo, conforme se verifica na entrevista concedida ao periódico Le Temps de 13 de novembro de 1943 e se depreende de sua correspondência. … De qualquer forma, a análise detalhada dos temas comuns à obra do filósofo e à do romancista revela antes oposição que identificação de tratamento, o que nos leva a ver, em ambos, os representantes mais significativos da reação às barreiras colocadas pelo positivismo contra o livre exercício do pensamento criador, e a considerar a coincidência das questões tratadas antes como resultado do fato de estarem ambos envolvidos pelo fluxo dessa reação do que de uma influência direta. (1979: 199-200).
Quanto à memória, o denominador comum entre Bergson e Proust está na crítica de ambos às limitações da memória ligada à inteligência. Bergson considera que a totalidade do passado é conservada, desde o despertar da consciência. Para Proust, a memória aparece como um abismo, de onde só um pequeno número de lembranças é resgatado. Mas a julgar pelo caudal de sua obra, o que para ele é pequeno, em nós é quase afogamento. Em suma, o filme de Schlondorff resolveu bem algumas questões do romance. Especialmente a configuração das personagens e da época. Ao restringir seu foco, ao segundo capítulo, o diretor teve facilitado sua tarefa de contar a história de Swann e Odette.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 97
Mas o primeiro livro do romance de Proust ainda continua caudaloso, gerando muitos afluentes, a espera de sua redescoberta. O que dizer, então, do conjunto da obra Em Busca do Tempo Perdido? Ela ainda aguarda o seu tempo.
Referências ADORNO, T.W. Textos Escolhidos (Adorno, Benjamim, Horkheimer). Col. Pensadores. São Paulo: Abril, 1983. BERGSON, Henri. Cartas, Conferências e outros escritos. São Paulo: Abril, Coleção “Os Pensadores”, 1979. http://www.cce.ufsc.br/~frag/vol6num2.html. http://www.quepasa.cl/revista/2000/06/25/t25.06.QP.SOC.GUIACINE.html. http://www.geocities.com/contracampo/otemporedescoberto.html. http://www.tempsperdu.com. LEITE, L.C.M. O Foco Narrativo. São Paulo: Ática, 1993. LINS, Álvaro. A Técnica do Romance em M. Proust. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956. MARTIN, Marcel. A Linguagem Cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 1990. MAUROIS, André. Em Busca de Marcel Proust. São Paulo: Siciliano, 1995. METZ, Christian. A Significação no Cinema. São Paulo: Perspectiva, 1972. MOISES, Massaud. A Criação Literária. São Paulo: Melhoramentos, 6a ed., 1973. PROUST, Marcel. No Caminho de Swann. Tradução: Mario Quintana. São Paulo: Globo, 1990. PROUST, M.; GALLIMARD, Gaston. Correspondência. São Paulo: Ars Poética: Edusp, 1993. SILVEIRA, Alcântara. Compreensão de Proust. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959. SOUSA-AGUIAR, Maria Arminda de. Introdução à Proust. Rio de Janeiro: UFRJ, Div. de Documentação, 1979. STAM, Robert. O Espetáculo Interrompido: literatura e cinema de desmistificação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. UM AMOR DE SWANN. Diretor: Volker Schlondorff. Produção: Alemanha/França. Roteiro: Jean-Claude Carrière, 1984.
*
Edson Cruz tem formação em música e psicologia. Estuda Letras na USP e é co-fundador do site de literatura e arte CRONÓPIOS (www.cronopios.com.br), além da revista eletrônica de literatura MNEMOZINE (www.cronopios.com.br/mnemozine). Em 2007, lançou seu primeiro livro, Sortilégio (poemas), pelo selo “Demônio Negro”. E-mail: <sonartes@gmail.com>.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 98
As imagens cristais de São Bernardo,
de Leon Hirszman JOSÉ EDUARDO BOZICANIN*
Resumo: Este artigo tem por objetivo estudar o filme São Bernardo, do cineasta Leon Hirszman, e discutir aspectos da relação som-imagem nos planos, da montagem e da memória na construção desta narrativa fílmica. Interessa-nos acompanhar o processo transcriativo do cineasta na elaboração de sua obra perante alguns aportes teóricos de Gilles Deleuze. PALAVRAS-CHAVE: CINEMABRASILEIRO, LEON HIRSZMAN, SÃO BERNARDO
A transcrição fílmica de Leon Hirszman A transcriação fílmica1 S. Bernardo movimenta na tela a objetividade do discurso crítico humanista de Graciliano Ramos em discussões em torno do conflito sobre a instrumentalização humana (a reificação) e a crise existencial que advém e se potencializa a partir desse comportamento. A obra São Bernardo é narrada na primeira pessoa do singular pelo seu protagonista, Paulo Honório, que se propõe contar a história de sua ascensão social por meio da redação de um livro. A obra literária e a fílmica são tentativas de uma auto-análise em retrospectiva.2 Essa narração serve ao narrador-protagonista como um desabafo, uma espécie de inventário pessoal. Paulo Honório, que dera início a sua carreira como guia de cego e caixeiro-viajante, torna-se, por fim, proprietário e coronel da fazenda São Bernardo. Ele inicia seu relato discutindo a sua estranha necessidade de escrever - numa tentativa de compreender pelas palavras não só os fatos corriqueiros de sua vida, mas também os atos e fatos capitais dessa, de falar sobre seu casamento com a recente falecida esposa, Madalena, e de relatar suas atitudes administrativas e sua filosofia de vida. 1
Tal ato se realiza pelos processos de tradução e recriação intersemiótica, ou criação paralela, autônoma, porém, recíproca. Assim, acordamos com as idéias de Haroldo de Campos sobre a transcriação fílmica ser um caso particular de tradução. (CAMPOS, 2006: 35). 2 Nosso trabalho se apóia aqui em referências aos capítulos de Ficção e confissão: ensaios sobre Graciliano Ramos e de Tese e antítese, livros de Antonio Candido sobre os romances de Graciliano Ramos.
A linguagem do romance é cortante e reduzida ao essencial; Paulo Honório define a linguagem em que descreve seus relatos como um método de extrair o sumo dos acontecimentos e deitar fora o acessório, como os bagaços dos fatos. Tem-se aí uma auto-referência ao método de composição do autor Graciliano Ramos, descrito por um de seus personagens. Antonio Candido em seu ensaio Os bichos do subterrâneo nos fornece uma boa dimensão do tratamento lingüístico reservado a esse romance. Acompanhando a natureza do personagem, tudo em S. Bernardo é seco, bruto e cortante. Talvez não haja em nossa literatura outro livro tão reduzido ao essencial, capaz de exprimir tanta coisa em resumo tão estrito. Por isso é inesgotável o seu fascínio, pois poucos darão, quanto ele, semelhante idéia de perfeição, de ajuste ideal entre os elementos que compõem um romance. (CANDIDO, 2006: 98).
O filme São Bernardo de Hirszman também tem uma linguagem seca e é, entre outros motivos, na longa duração dos planos e nas relações entre estes estabelecida na montagem que notamos também a redução ao essencial dos dados. A película foi rodada na cidade de Viçosa, em Alagoas (onde Graciliano Ramos viveu por vários anos e onde escreveu algumas de suas obras), em 1971, mas seu lançamento deu-se somente em 1973, após amargar um ano e sete meses para a efetivação de sua distribuição, sendo que um ano deste atraso deveu-se à interdição da obra para o levantamento e julgamento do processo de falência da produtora Saga Filmes; os outros sete meses de retenção deram-se no trâmite das questões judiciais que requisitavam a liberdade de expressão do autor cinematográfico negada pelo regime de censura ditatorial. São Bernardo tornou-se, na época, um incômodo contraponto às propostas culturais do Estado, pois sob a capa de uma homenagem aos 80 anos de nascimento de Graciliano Ramos, abrigava um ataque ao sistema econômico (o Milagre Econômico do governo do General Médici) que, naquele período da ditadura militar (os Anos de Chumbo, de 1969 até 1973), era louvado com uma espécie de alienação capitalista. Por opção do diretor e produtor Leon Hirszman a trama foi rodada na mesma seqüência narrativa da evolução do romance – já que a equipe de produção havia planejado a reforma da casa da fazenda concomitantemente com a evolução e a capitalização dela pelo seu novo dono Paulo Honório e a decupagem fotográfica de Hirszman e de Lauro Escorel (diretor de fotografia) optou pelo uso de grandes e longos planos gerais e de conjunto. É nas relações entre a câmera com pouca movimentação em planos abertos e longos acentuando a re-significação dos espaços dentro e fora do quadro, em conjunto com a utilização da voz (a off, a over e a in) do narrador que faz-se a estilística do filme. A utilização dessa qualidade de planos, nas cenas dialogadas, faz a ação dramática progredir psicologicamente dentro das seqüências, pois propicia os ritmos meditativos, distende o tempo para a assimilação dos quadros e, principalmente, melhora a assimilação pelo espectador dos fluxos dos monólogos do protagonista. Pela economia na utilização do plano/contra-plano e da câmera na mão, escolhas feitas pelo diretor-roteirista, confere-se ao filme de Hirszman uma organicidade coerente com a opção de retratar o drama existencial de Paulo Honório. Além disso, como veremos, os recursos empregados acabaram por refletir uma preocupação em se detectar e exibir estados de choque entre personagens-limite da realidade
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 100
social. Ainda, a movimentação dentro das cenas é dada pelo trabalho entre a imagem e o som, assim, em planos em que a imagem permanece fixa e a tensão fica suspensa é o som que se ‘movimenta’: com o enquadramento fixo são os personagens envolvidos na cena que se aproximam, se afastam, são eles - os atores - que movimentam o som e controlam o tempo-espaço diegético. Parte do filme tem a câmera imóvel, parte do filme tem a câmera em movimento, mas a imagem não se move no sentido em que o movimento é um ornamento que já vive por si. Para mim a canção do filme está em outro grau, o que me interessa é cantar o livro, como um intérprete canta a música de outro. (HIRSZMAN in Cinemateca Brasileira (org.), 536/239).
Há silêncios e emudecimentos repentinos das vozes de quem está em quadro (mesmo que em plano-próximo) pela agudeza da autoridade julgadora da voz - tornada over - de Paulo Honório. Por vezes vemos alguém falar, mas só conseguimos ouvir a voz de Paulo Honório, o interagir vocal é substituído por um cala-boca autoritário do narrador. Paulo Honório concentra a narrativa não só com sua presença física, mas também com suas vozes, assim, o recurso clássico da narração em primeira pessoa - que tradicionalmente no cinema hollywoodiano reforça um possível processo de identificação personagem/espectador (ele se parece comigo) em S. Bernardo instaura o desequilíbrio na identificação do espectador (será que ele se parece comigo?). O modus operandi do fazendeiro fracassa com a esposa; se percebíamos que havia uma regularidade na sua forma de se unir a outra pessoa, na qual o poder econômico prevalecia e se impunha, tal não mais se observará perante a nova antagonista, pois Paulo Honório não consegue dominar Madalena, e com isso se exaspera. As vozes off, over e in não são aberturas para conhecermos intimamente o protagonista, ao contrário, elas servem para identificarmos o personagem em seu inerente despotismo. Sua voz é a voz portadora da verdade da história e tal recurso nos aciona indiretamente a dúvida, a desconfiança. Partindo-se então dessa constatação, a de que Paulo Honório é o narrador da história e que sua voz permeia todo o filme, temos o narrador como detentor do poder de selecionar tudo o que o cerca e que é apresentado ao espectador, o seu suposto interlocutor. Há ali uma decupagem a princípio mais sonora do que visual ou, melhor dizendo, uma preocupação bastante grande com as características sonoras frente às imagens visuais. Porém, como no romance, podemos constatar que o ponto de vista de Paulo Honório não nos informa de forma transparente suas próprias ações e muito menos as dos outros personagens, assim, tem-se que as narrações apresentadas por Paulo Honório são filtradas conforme sua pragmática reificadora e seu conjunto de normas e considerações. Queremos ressaltar também que os comentários do narrador sobre os fatos já decorridos em outra temporalidade são em voz over e sempre acabam por expor sua crise pessoal.3 Já fizemos notar que o narrador detém o poder de conduzir a inteligibilidade de sua história, entretanto, algumas imagens visuais aparecem e se revestem de uma autonomia inexplicável em relação a essas vozes. Grosso modo, em S. Bernardo há planos que 3
Se nos lembrarmos da cena em que Paulo Honório conversa com o espectro de Madalena, tal crise também se transforma em alucinação.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 101
parecem querer surgir diante do narrador despótico e se exibirem per si num vetor humanístico mais amplo e profundo. Em seu estudo sobre o filme, S. Bernardo: mosaico de vozes (mostruário dos diversos usos da voz no cinema), 4 Fernando Morais da Costa nos explica que há a quebra do paradigma da sincronia sonora clássica. Ele analisa três seqüências da obra em que se travam diálogos entre Luís Padilha e Paulo Honório e entre Madalena e Paulo Honório com os usos da voz off, over e in. Acreditamos que para o desenvolvimento de nossa análise sobre os estranhamentos narrativos ali presentes, nos será mais útil mencionar como exemplo sua abordagem para a voz over de Paulo Honório, em um plano no qual vemos seu rosto em quadro. Citamos então o texto de Fernando Costa. O deslocamento entre som e imagem se dá na seguinte medida: ouvimos a voz de quem estamos vendo, mas não naquele momento. A voz está em um tempo da história e a imagem de quem fala está em outro. A boca fechada do personagem cuja voz ouvimos é um artífice do estranhamento. Ainda assim, esse é um deslocamento relativo, na medida em que a voz e a imagem pertencem a um mesmo personagem. (COSTA, 2003: 349).
Ora, se é de um grande flashback/crise que se origina a trama (o processo de desabafo ou expiação de Paulo) é do deslocamento junto à banda sonora da diegese presente que se instala a instância narrativa do passado e que se constitui, assim, uma narrativa audiovisual que imprime para nós o ponto de vista de Paulo Honório numa síntese de tempos diferentes. A idéia de tal simbiose se desenvolve, portanto, quando Hirszman usa o discurso de Paulo Honório para ancorar e desancorar suas imagens. As memórias visuais do flashback são assim em grande parte responsáveis pela interpretação de Hirszman sobre Graciliano Ramos. O interessante a ser observado são os aspectos relacionados com as operações particulares da memória e do tempo da narração e a busca de um sentido geral, social à obra. Ao lembrarmos que as obras de arte são índices do que ocorre na sociedade e que o filme de Hirszman relê o romance de Graciliano, faz uso dele, ao mesmo tempo em que o atualiza numa outra linguagem, a do cinema, sugere-se que o modo construtivo da obra, (O filme) propõe um modo específico de relação com o espectador. Ao fazê-lo, e para fazê-lo, coloca-se em confronto com aquilo que um certo conceito de cinema privilegia como seu específico e, portanto, como sua norma. Se há algo em São Bernardo que não se respeita é a especificidade de gêneros ou “substâncias” artísticas. (XAVIER, 1974: 130).
Ismail Xavier comenta também um estranhamento causado pela inserção de imagens em tom documental na seqüência final do filme, nas quais temos planos fixos e longos de camponeses, de crianças parcamente vestidas e de idosos – são os supostos 4 COSTA, Fernando Morais - São Bernardo: mosaico de vozes (mostruário dos diversos usos da voz no cinema). In: CATANI, Afrânio Mendes et al. (Org.). Estudos Socine de Cinema, Ano IV. São Paulo: Panorama, 2003.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 102
moradores da fazenda de Paulo Honório - que se deixam mostrar durante o longo monólogo depreciativo final do narrador. […] ou seja, neste momento o filme não só está falando do passado e do presente como dois tempos pertencentes ao romance, mas está falando do passado e do presente como a relação entre 1971 e meados dos anos 1930, quando foi escrito o romance, então são quase 40 anos da história brasileira que estão sendo ali finalizados pelo filme, que está dizendo o seguinte: este texto pertence ao romance dos anos 30, está fazendo uma descrição e está relacionado com uma imagem do mesmo lugar em 1971. (XAVIER, PALESTRA, 2008).
Em S. Bernardo não somos admitidos na ação, somos colocados face a ela. A tela é uma superfície onde cada cena se dá, não como um movimento contínuo dentro de uma montagem interna da qual participamos. Assim, cada cena não serve simplesmente a outra, mas vive o seu momento até a saturação de sua natureza. Trabalhemos agora sobre o exemplo das notas de contos de réis da abertura do filme. Nessa cena nos são apresentadas, em plano próximo: sujas notas de 2, 5 e 10 contos de Réis numa suposta visão subjetiva de Paulo Honório em contra-luz. A visão das notas de contos de réis é um prenúncio; uma construção metafórica que resume a trama. As notas servem como molduras para a exibição dos créditos e, em outras duas cenas posteriores, se antecipam a momentos de violência física em que Paulo Honório espanca um devedor – o Dr. Sampaio. Podemos inferir que desse intróito de planos não diegéticos (que posteriormente tornar-se-ão diegéticos) intuímos os valores existenciais do protagonista. A trilha musical, que é uma versão paramelódica em tom fúnebre do canto de trabalho Rojão do eito arranjada por Caetano Veloso, completa o quadro descritivo sobre o protagonista. Os detalhes das faces das notas de contos de Réis são para Paulo Honório de extrema relevância, são mais relevantes do que até mesmo os detalhes do rosto de sua esposa; do qual o público passa a ter conhecimento - via comentário do narrador ao narrar o pedido de casamento - somente depois de vários planos após a sua aparição em cena.5 Portanto, a repetição das notas é o emblema da futura relação dele com a esposa: ou seja, das três graças femininas passa-se rapidamente aos números, ao valor das faces das notas sujas. Essa construção conota o grau de importância do dinheiro para o personagem principal e resume, de maneira exemplar, sua visão capitalista de mundo. Essa mostragem das notas é uma sutil adição ou antecipação de significações ao início da obra e não somente uma alteração do começo da trama em relação ao texto original do livro de Graciliano Ramos. Notamos que se estabelece uma nova função para a montagem nessa transcriação, em que ela não fica somente responsável pela execução sensório-motora de encadeamentos entre plano X e plano Y, respeitando raccords, mas sim fica responsável por cristalizar um virtual, o subentendido em S. Bernardo; por adicionar o contexto reificador logo no início do filme. Identificamos aqui, seguindo a conceituação de Maria de Fátima Augusto, o conceito deleuziano de cristalização da imagem-tempo. 5
Madalena só terá um close-up decorridos 49 min e 58 seg. do filme.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 103
Quebrado o sistema sensório-motor (da imagem-ação), a percepção entra em relação com outra imagem num curto-circuito, onde a imagem atual se duplica em imagem virtual, seu duplo imediato. Cria-se um outro tipo de imagem, são as imagens cristais, essas imagens bifaciais, mútuas no qual se efetua a troca entre o real e o imaginário, o passado e o presente, o atual e o virtual. […] No circuito cristalino, a imagem que se forma é a de um tempo indiscernível entre o ontem e o hoje, o acontecimento presente e o lembrado. (2004: 103).
As imagens das notas não são puramente geradoras de marco cronológico, no sentido de se querer apreender que Réis era o plural do nome das unidades monetárias de Portugal, do Brasil e de outros países lusófonos e que eram utilizadas desde o período colonial até o advento das moedas substitutas.6 O conto de Réis para Paulo Honório é, guardadas as óbvias diferenças narrativas, o moto contínuo inverso do que é o trenó rosebud em Cidadão Kane, de Orson Welles, pois, o dinheiro exibido já no prólogo do filme anuncia o que busca seu protagonista e a história por ele contada servirá de tentativa para se representar isso ao interlocutor.7 Enfim, estas imagens-tempo descortinam as camadas da memória, pois usam no presente (no tempo atual) a voz off do recitante, de onde se descobrem os lençóis do passado. Para Gilles Deleuze a imagem-cristal conduz a uma imagem-tempo direta, o cristal para ele revela o fundamento do tempo narrativo em dois jorros ou jatos de tempo dissimétricos que nos narram o presente que passa num jato e o passado que flui devagar em outro. Muitas vezes já se afirmou que a profundidade interiorizava a montagem na cena, na mise-en-scène, mas isso é verdade apenas parcialmente. Sem dúvida o plano-seqüência é um lençol de passado, com suas nebulosas e seus pontos brilhantes que vão alimentar a imagem-lembrança e determinar o que ela conserva de um antigo presente. Mas a montagem subsiste como tal sob três outros aspectos: a relação dos planos-seqüência ou dos lençóis de passado com os planos curtos de presentes que passam; a relação dos lençóis entre si, uns com os outros (como dizia Noel Burch, quanto mais longo um plano é, mais importante é saber onde e como terminá-lo); a relação dos lençóis com o atual presente contraído que os evoca. […] E é em relação à morte, como ponto fixo, que todos os lençóis de passado coexistem – a infância, a juventude, o adulto e o velho. (2007: 136).
Se já na seqüência de abertura com as notas de Réis se evoca um dos pontos brilhantes, o estopim narrativo que vai iluminar as imagens-lembranças do protagonista (Paulo Honório sempre é refém de sua ânsia primordial por acúmulo de capital), por sua vez, no decorrer do filme a montagem de Escorel e Hirszman subsiste em explorar longos
6 No Brasil esta moeda foi substituída pelo Cruzeiro em 1942, na razão de 1 cruzeiro por mil-réis então circulantes. 7 A morte será invocada via monólogo narrativizado (e não pelo discurso radiofônico) e, em outra oposição a Cidadão Kane, serão os flashbacks a interrogar o próprio culpado sobre a morte da esposa Madalena e não testemunhas.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 104
planos-seqüência, aqui por nós interpretados como os lençóis do passado, com o uso da profundidade de campo e da câmera fixa numa espécie de interiorização, a qual por vezes paralisa o fluxo temporal do protagonista e o faz lançar considerações às discussões suscitadas por planos curtos da camada de tempo presente. As relações das camadas de lençóis entre si, aqui nos longos planos-seqüências uns com os outros, se dão no diálogo do presente contraído ante o passado distendido e não superado de Paulo Honório. Disto supomos que o tempo em S. Bernardo não está mais subordinado ao movimento das imagens, mas o movimento ao tempo das imagens; Hirszman busca sempre adensar ao máximo o potencial dramático do plano antes de efetuar um corte. É desse uso consciente das camadas de memória no nível da saturação narrativa que se cristalizam suas imagens-tempo, acreditamos nós. O suicídio de Madalena dentro da obra, a sua decisão por um gesto mortal libertário é o explosivo marco cronológico da máxima saturação narrativa sofrida pelo narrador. Paulo Honório, preso em sua premissa de acúmulo de capital, fica chocado com tal morte (ele não se afligira antes com o assassinato de Mendonça ou com as mortes banais das crianças e dos funcionários de sua fazenda): o ato da esposa é à sua revelia e o atinge de súbito. O suicídio da cônjuge do protagonista reveste-se de um tom de sacrifício; Madalena torna-se a partir de seu óbito uma mártir humanista em São Bernardo. Assim, os lençóis de passado e presente convergem para e divergem deste marco que, de fato, desencadeia o início da auto-análise de Paulo Honório. Portanto, e por fim, depreendemos que muito certamente os méritos do filme S. Bernardo residem nesses diálogos das relações narrativas entre os planos longos transcriados e as camadas da memória evocadas.
À guisa de conclusão Com este trabalho tentamos concatenar alguns dos fatores que determinam um cinema ficcional diferenciado, um cinema de poesia que trata da vida em sociedade e de sua problemática. Esse artigo é, portanto, a concretização de um desejo de mergulhar nas formas de cinema ficcionais que tratam de acompanhar personagens perfeitamente verossímeis que se defrontam com situações detentoras de uma abordagem universal, fundamentadas em problemas de fundo social. Neste sentido, o filme São Bernardo é, de fato – a exemplo do romance do qual se originou - essencial dentro da cinematografia brasileira.
Referências Bibliográficas AUGUSTO, Maria de Fátima. A montagem cinematográfica e a lógica das imagens. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: FUMEC, 2004. CAMPOS, Haroldo de. Da transcriação: poética e semiótica da operação tradutora. In: OLIVEIRA, Ana Claúdia de; SANTAELLA, Lucia (Orgs.). Cadernos PUC 28 - Semiótica e Literatura. São Paulo: EDUC, 1987. CÂNDIDO, Antônio. Ficção e confissão: ensaios sobre Graciliano Ramos. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 105
______ .Tese e antítese. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006. COSTA, Fernando Morais. São Bernardo: mosaico de vozes (mostruário dos diversos usos da voz no cinema). In: CATANI, Afrânio Mendes et al. (Org.). Estudos Socine de Cinema, Ano IV. São Paulo: Panorama, 2003. COUTINHO, Carlos Nelson. Uma análise estrutural dos romances de Graciliano Ramos. In: Revista Civilização Brasileira - Nr. 5/6 – Ano I – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. ______. Graciliano Ramos. In: Literatura e Humanismo: ensaios de crítica marxista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. DELEUZE, Gilles. Cinema II: A imagem-tempo. Revisão filosófica de Renato Janine Ribeiro. Tradução: Eloisa de Araujo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 2007. ______. Cinéma 2: L’ image-temps. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985. LAFETÁ, João Luís. O mundo à revelia. In Ramos, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1996. MACKSEN, Luiz. Leon Hirszman e São Bernardo. In: Filme e Cultura no 20 – vol. 6, 1974. MONZANI, Josette Maria Alves de Souza. Gênese de Deus e o Diabo na terra do sol. 1a. edição. São Paulo: Annablume; FAPESP; Salvador: Fundação Gregório de Mattos; UFBA, 2006. RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 2003. XAVIER, Ismail. A celebração de Graciliano. In: Filme Cultura, no. 44, abr/ago. Rio de Janeiro, 1984. ______. Em torno de São Bernardo. In: Argumento, ano 1 – no. 3. São Paulo, 1974. ______. O olhar e a voz: a narração multifocal no cinema e a cifra da História em São Bernardo. In: Literatura e Sociedade, vol.2. São Paulo: EdUSP, 1997. ______. Projeção da cópia restaurada de São Bernardo e debate com Ismail Xavier, Lauro Escorel, Othon Bastos e Sergio Rizzo - Cine Bombril, São Paulo, 2008.
*
José Eduardo Bozicanin é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som da UFSCar. E-mail: <zebozi@gmail.com>.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 106
Título do filme
Prenúncio das motivações do protagonista?
Paulo Honório e Madalena: a esposa e antagonista.
Um coronel em plena decadência
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 107
Itamar Assumpção POR QUE NÃO PENSARAM NELE ANTES
?!
ARMANDO PRAZERES*
P
orque nunca esteve nas grandes mídias, nunca fez média para tal lance de dados marcados. Fez música, e das mais inventivas. E nunca lamentou um ai, embora quisesse1 e merecesse estar e cantar em qualquer poleiro2. Por isso este canto para ele, aquele que na obra e na vida semeou um canteiro de orquídeas selvagens (não apenas em sentido figurado, pois tinha paixão por essa flor) em forma de canções nunca dantes cultivadas nos jardins da espinhosa música popular brasileira. Naquela mesa da marginália tropicalista faltava ele. Agora a saudade dele está doendo não só em mim, mas no que há de mais urgente, febril e belo do cancioneiro popular. Socorro, Itamar! Foi você quem disse que porcaria na cultura tanto bate até que fura onde era Ataulfo Tropicália Monsueto Done Ivone Lara campo em flor ficou tiririca pura.3
Pois é, a cultura musical virou uma peneira. Desce, Itamar, caboclo da mata, vem fazer zum zum zum nessa Aruanda desvairada.4 Vem remendar os furos com sua 1
Segundo o músico Luiz Tatit, era desejo declarado de Itamar popularizar seu trabalho através dos meios de comunicação, como rádio e televisão (Revista E, Sesc São Paulo, junho de 2009, n. 12, ano 15, p. 11.). 2 De fato, Itamar em início de carreira, em Londrina-PR, cantou em cima de um poleiro cênico, no show Na Boca do Bode, em 1973. A música foi Dos cruces, de Carmelo Larrea, gravada em 1972 por Milton Nascimento no LP Clube da Esquina (EMI-830429-2), e mais tarde por Ney Matogrosso, no disco Pescador de pérolas, em 1987 (Columbia/Sony Music-746.072/2-464397). Posteriormente, em 2004, Ney gravaria em um mesmo disco (Vagabundo, Universal Music-6024981751-3) duas canções de Itamar: Transpiração (pareceria com Alzira Espíndola) e Finalmente (parceria com Alzira e Paulo Salles). 3 Cultura Lira Paulistana, canção em homenagem a cena cultural da qual Itamar fez parte quando chegou em São Paulo, no final dos anos 1970. Tratava-se de um teatro (o Lira Paulistana) na rua Teodoro Sampaio, onde se apresentavam artistas cujas propostas musicais guardavam afinidades e que não encontravam espaço nas rádios e televisões comerciais. Essa canção abre o disco Pretobrás – Por que eu não pensei nisso antes?! (Atração-ATR 31057), gravado em 1998. 4 Aludo aqui a uma das primeiras composições de Itamar, defendida no IV Festival Universitário de
língua-agulha, navalha na língua, afiada e pontiaguda e certeira e sedenta por um bordado tecido com linha e lã da fina flor de um novelo novo. O que teceste permanece no ovo, intocável, sem quase ninguém se dar conta da intrincada, e (e)terna, urdidura de sua trama musical. Desce Itamar, jorra em nossos ouvidos o seu mar furioso de canções ritmicamente onduladas, versos revoltos (nunca revoltados), arrebentando nas pedras do nosso coração. Água mole em pedra dura… “A maresia são os dentes do (seu) mar”.5 Natural de Tietê, interior paulista, o Nego Dito – personagem criado em seu primeiro disco, Beleléu - dizia gostar de verdade de São Paulo, pois nos feriados ficava era mesmo na cidade, curtindo a feia fumaça que cobre a luz das estrelas.6 A grandeza dessa paixão, ele foi projetando nas letras de sua usina cáustica, chamando o ouvinte para ver o que é bom para tosse, “venha até São Paulo dance e pule o rock and rush”:7 o gosto pela diversidade (e por que não “devassidade”) de Sampa, o avesso do avesso do ambiente urbano, até mesmo, acredite, uma centelha de afeto que, procurando, se acha em alguma esquina. Quando não explícito na letra, implícito na melodia-motor-urbano, portadora de uma sonoridade identificativa de seu estilo polifônico, balanceado, macunaímico, sem um caráter fabricado, mas com a cara à tapa a quem lhe negasse espaço para inscrever suas idéias. “Ouçamos”: Eis aqui o bicho de 7 cabeças Eis aqui um sim, eis aqui um não Eis aqui São Paulo metrópole intensa Eis aqui minha cabeça e o meu coração.8
Ainda assim, Itamar quase não sai nos jornais, não é celebrado no aniversário da cidade, ouve-se poucos tributos na celebração de sua vida e de sua morte, não rende teses nem nome de rua, não virou monumento em praça pública. Mesmo passados seis anos de sua permanência vertiginosa e produtiva por essa cidade, a quem ele dedicou, sem temor, Música Popular, em Londrina, em 1971. A organização do festival criou, a partir da impressionante performance do artista, a categoria Melhor Apresentação Total, premiando a atuação de Itamar. Cf. no livro Na boca do bode, p. 32, de Fabio Henriques Giorgio (ver referências bibliográficas). 5 Verso da canção Maresia, de Sueli Costa e Abel Silva, gravada pela doce e afiada voz de Terezinha de Jesus, no disco Vento nordeste, em 1979 (CBS), cantora, como Itamar, desconhecida do grande público. 6 Convoco a Sampa de Caetano, que por sua vez, para homenagear a cidade, invocou a Ronda de Paulo Vanzolini. Em uma das raras gravações em vídeo, Itamar dizia que Sampa era a canção perfeita para afinar o violão. 7 Versos da música Venha até São Paulo, gravada no disco I da trilogia Bicho de sete cabeças (Baratos Afins-BACD054), em 1993, na qual Itamar forma uma banda composta por oito mulheres, denominada Orquídeas do Brasil, para acompanhá-lo. Nessa faixa, assim como nos três volumes da trilogia, Itamar convida um artista para dividir uma canção. Aqui a convidada foi Rita Lee. Rita, por sua vez, grava em 2000 Aviso aos meliantes, parceria de Itamar com Roberto de Carvalho (Universal-73145425202). Vale ressaltar, os três volumes de Bicho de sete cabeças são lançados no mesmo ano, atitude rara, senão inédita, no cenário musical basileiro. 8 Versos da canção que encerra o último disco da trilogia Bicho de sete cabeças (Baratos Afins-BACD056).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 109
o estágio mais ousado de sua veia criativa. Diga-se logo: Itamar Assumpção (1949-2003) não se fez aqui, mas lapidou-se aqui. De Tietê, foi morar no Paraná, primeiramente em Paranavaí, depois mudou-se para Arapongas, transitando sempre pelos festivais dessa cidade e de Londrina, onde conheceu o parceiro e amigo Arrigo Barnabé e Domingos Pelegrini, entre vários parceiros e amigos. Só no final dos anos 1970 muda-se para São Paulo, morando definitivamente (será que algo é definitivo na vida e na obra desse artista?) no bairro da Penha. Ali, no cotidiano da zona leste, compôs, cantou, dançou, amou sua Zena, criou suas filhas Serena e Anelis, cultivou suas orquídeas. Tudo sem os auspícios da indústria, da TV, dos jornais, da burocracia dos promotores de cultura. O que fez ele pra ser (s)alvo e seguir produzindo, compondo, gravando, cantando, mandando tudo às favas? É um mistério intrigante que nem Clarice (Lispector – a senhora dor no peito) com seus mistérios descortinaria. Por isso essa minha invocação à sua vinda, à sua vida-poética, tentativa de reler e escutar sua obra, auscutar seus impulsos geradores de uma carreira solitária, e inacreditavelmente fecunda, na previsível sopa de letrinhas da música brasileira atual. Estava Dito, e redito, de cima a baixo em sua obra. Foi engolido, mas não digerido, pelos ouvidos de mercador de um mercado industrial hoje doente das pernas. Não fez apelos, não fez concessões, não cantou no programa de domingo, raramente toca nas poucas FMs dedicadas à música popular brasileira. Seus discos não são reeditados (muito menos pirateados). Nas lojas, apenas alguns álbuns esparsos, que já viraram objeto de colecionador. Com isso, que memória nos sobra de Itamar Assumpção? A do maldito, do rebelde, do questionador da cultura brasileira, do inquieto compositor, do artista difícil. É, mas até para isso, para guardar os clichês, é necessário um espólio documental, uma permanência material do artista nas mãos e ouvidos públicos. E quando, um dia, esse público tiver acesso à real existência e importância desse artista, constatará o elevado poeta (mesmo que ele rejeite esse tratamento) e músico e letrista e cantor (cantava muito) e performer que foi Itamar Assumpção. Filho de pai de santo e neto de uma zeladora de um grupo escolar de Tietê, com quem Itamar conviveu até os catorze anos, ele ainda hoje é fonte de uma sonoridade que alimentou e alimenta muitos outros compositores e intérpretes, principalmente os que correm riscos e não abrem mão da inventividade criadora. Basta escutar Ná Ozzetti, Zélia Duncan, Suzana Salles, Luiz Tatit, Alzira Espíndola, entre outros, para perceber conversas musicais travadas, cada um do seu jeito, com Itamar. Refazer a rede, deixada em retalhos de múltiplas nuances poéticas e texturas melódicas ao longo de mais de trinta anos de produção intensa, dispersos na linha do tempo. Neste canto, apenas tento evocar seu nome e sua arte para ecoar nas esquinas, becos e botecos da cidade e, quem sabe um dia, do país, por onde ela andou traduzindo-se em música. Realinhar sua obra e sua vida para serem lidas, ouvidas e sentidas pelo espectador afoito e anônimo, que nada ou pouco acha de informação nos ambientes virtuais, audiovisuais ou impressos. Uma memória-vida de Itamar Assumpção é o que reivindico neste breve e, sem nenhum favor, apaixonado texto-canto. Saber os sabores do homem e suas feições humanas, o poeta e suas perseguições estéticas, o artista e sua postura frente ao seu contexto, sua obra e suas temáticas proeminentes.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 110
Interessa-me, nessa medida, apreciar as retículas flamejantes que pulsam do seu labor poético-musical, retículas estas que não o fizeram sentar no trono dos eleitos da famigerada MPB, nem travar pactos concordantes ao imediatismo superficial da indústria, mas que o mantém aceso na emoção do ouvinte, através da “dor elegante”9 que escorre de suas canções. Se isso vai dar repercussão? Não custa nada sonhar, pois em cada milágrimas sai um M I
L
A
G
R
E10
9 Refiro-me aqui a parceria de Paulo Leminski com IA, cujos versos cantavam: “Um homem com uma dor é muito mais elegante/Caminha assim de lado/Como se chegando atrasado/Andasse mais adiante”. Canção gravada com participação de Zélia Duncan, uma das mais destemidas divulgadoras da obra de Itamar, no disco Pretobrás (Atração-ATR 31057), em 1998. 10 Faço aqui, nesta livre diagramação, referência ao subtítulo de um disco e a duas canções de IA, acrescidas por mim de alguns conectivos para dar coesão entre elas: Isso vai dar repercussão (subtítulo do disco Vasconcelos e Assumpção), Custa nada sonhar (parceria com Paulo Leminski) e Milágrimas (c/ Alice Ruiz). A diagramação sugere visualmente a tentativa de fazer soar minimamente o caráter musical inusitado, e por vezes visual, de suas canções, como por exemplo, Tanta água (disco Bicho de Sete Cabeças Vol. II), cuja diagramação da letra recria visualmente o cair da chuva.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 111
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. São Paulo: Perspectiva, 1993. CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 1992. ______. Ruptura dos Gêneros na Literatura Latino-Americana. São Paulo: Perspectiva, Col. Elos, 1977. CARVALHO, Hermínio Belo de. “Agora (E pra Sempre)”. Texto contido no disco Ataulfo Alves por Itamar Assumpção – Pra sempre agora, Paradoxx Music, 1995. CHAGAS, Luiz, TARANTINO, Mônica (org.). Pretobrás – Por que eu não pensei nisso antes? O livro de canções e histórias de Itamar Assumpção, vols. I e II. São Paulo, Ediouro, 2006. GIORGIO, Fabio Henriques. Na Boca do Bode – Entidades musicais em trânsito. Londrina, O Autor, 2005. LEMINSKI, Paulo. “Por Itamares Nunca Dantes Navegados”. Texto contido no disco Itamar Assumpção – Intercontinental! Quem diria! Era só o que faltava!!!. Continental, 1988. PALUMBO, Patrícia. Vozes do Brasil. São Paulo: DBA Artes Gráficas, 2002. SOUZA, Tárik de. “Itamar na Cadência de Ataulfo Alves”. Texto contido no disco Ataulfo Alves por Itamar Assumpção – Pra sempre agora, Paradoxx Music, 1995. ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção e leitura. São Paulo, Cosac & Naif, 2007. REVISTA E, Sesc São Paulo, junho de 2009, n.12, ano 15, p. 10-14 (entrevista com o músico e compositor Luiz Tatit). REVISTA MPB – Edição Independente, ano I, Número Especial, Rio, dezembro de 1982.
DISCOGRAFIA DO ARTISTA Às Próprias Custas S/A. Selo Às Próprias Custas s/A – 1982 Baratos Afins – 1989 (LP) Ataulfo Alves por Itamar Assumpção – Pra sempre agora Paradoxx Music – 1995 (CD) Obi Music – 2002 (CD) Beleléu, Leléu, Eu – Itamar Assumpção e Banda Isca de Polícia Selo Lira Paulistana – 1981 (LP) Baratos Afins – 1989 (LP) Baratos Afins – 1999(CD) Atração Fonográfica – 2000 (CD) Bicho de 7 Cabeças vol. I – Itamar Assumpção e as Orquídeas do Brasil Baratos Afins – 1993 (em 3 LPs) Baratos Afins – 1994 (em dois CDs) Baratos Afins – 2003 (em 3 CDs) Bicho de 7 Cabeças vol. II - Itamar Assumpção e as Orquídeas do Brasil (Idem)
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 112
Bicho de 7 Cabeças vol. III - Itamar Assumpção e as Orquídeas do Brasil (Idem) Itamar Assumpção – Intercontinental! Quem diria! Era só o que faltava!!! Continental – 1988 (LP e K7) Messidor Musik GMBH, Alemanha – 1988 (LP e CD) Atração Fonográfica – 2000 (CD) Pretobrás – Por que eu não pensei nisso antes… Atração Fonográfica – 1998 (CD) Atração Fonográfica – 2004 (CD) Sampa Midnight – Isso não vai ficar assim Selo Mifune Produções – 1985 (LP) Baratos Afins – 1989 (LP) Messidor Musik GMBH, Alemanha – 1990 (LP e CD) Baratos Afins – 1998 (CD) Vasconcelos e Assumpção - Isso vai dar repercussão Elo Music – 2004 (CD)
*
Armando Prazeres é graduado em Jornalismo pela UFRN-RN, Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e Doutorando por essa mesma instituição, onde pesquisa a obra do cantor e compositor Itamar Assumpção, sob a orientação da Profa. Dra. Jerusa Pires Ferreira. Atua há sete anos como professor dos cursos de Rádio e TV e Jornalismo da Universidade São Judas Tadeu-SP. E-mail: <buai@ig.com.br>.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 113
AS ILUSÕES DA IDENTIDADE1
Religiões e tecnologias médicas: soluções mágicas contemporâneas. Uma análise a partir de Spinoza, Nietzsche e Winnicott. ANDRÉ MARTINS*
Resumo: Trata-se de analisar a busca por soluções mágicas – espirituais ou medicamentosas – para problemas psíquicos, como ligada à dificuldade em abrir mão da identidade oriunda dos valores dominantes na sociedade atual. Em uma abordagem filosófico-psicanalítica, utilizaremos como referenciais a psicanálise de Winnicott, a crítica nietzschiana e a teoria dos afetos de Spinoza.1 PALAVRAS-CHAVE: RELIGIÃO, BIOTECNOLOGIAS, FILOSOFIA
P
ropomos neste trabalho considerar, a partir de uma compreensão fundamental da teoria dos afetos de Spinoza e de alguns pontos da teoria psicanalítica de Winnicott, com o apoio ainda da crítica nietzschiana à cultura, alguns aspectos imaginários e geradores de afetos passivos presentes na contemporaneidade. O primeiro deles diz respeito à religião. Evidentemente, a crença religiosa não é específica dos tempos atuais, porém, ela continua vigendo com toda a força, embora criticada de forma socialmente mais hegemônica desde o início da modernidade. O segundo objeto de nossa análise será a biotecnologia médica, os medicamentos e em particular os psicofármacos, no que constituem objetos de consumo e de propaganda. Tanto a religião quanto os fármacos se apresentam em nossos dias como soluções mágicas e milagrosas aos males individuais, supostamente capazes de desfazer angústias sem desemaranhar suas causas. Como veremos, estas soluções mascaram a origem afetiva interna e interrelacional das dificuldades psíquicas encontradas por todo ser humano – portanto por cada um de nós – em sua inserção no ambiente onde vive e que o constitui. Spinoza, filósofo do século XVII, holandês de origem portuguesa, classificara, em sua Ética, nossos afetos em ativos e passivos.2 Um afeto, diz ele, é uma afecção do corpo 1
Texto inédito escrito a partir de conferência proferida no ciclo “Novas identidades, a vida em transformação: conhecimento, sabedoria, felicidade”, sob curadoria de Jurandir Freire Costa, no Espaço Cultural CPFL, em Campinas, 2005. 2 E III, def. 1 a 3. Para a referência à Ética de Spinoza, utilizaremos E, seguido do número romano que indica a parte do livro. As traduções deste livro de Spinoza são nossas, a partir da edição bilíngüe latimfrancês de B. Pautrat, Paris: Seuil, 1988.
e sua idéia,3 isto é, um sentimento visto, no entanto, como dizendo respeito concomitantemente a nosso corpo e a nossa mente. Quando um afeto resulta de nossa natureza, isto é, quando somos “causa adequada” – causa cujo efeito (no caso o afeto) somente pode ser concebido por ela –, define Spinoza, estamos agindo, e o afeto em questão é, por conseguinte, um afeto ativo, ou uma ação. Quando somos “causa inadequada” ou parcial do afeto, estamos padecendo, e o afeto em questão é um afeto passivo, ou paixão. “A força e o crescimento de uma paixão”, escreve, “assim como sua perseverança em existir, não se definem pela potência pela qual nos esforçamos de perseverar na existência, mas pela potência de uma causa exterior, comparada à nossa potência”.4 Em outras palavras, a perseverança de um afeto passivo em nós não é determinada por nossa potência, mas por nossa relativa impotência diante da força persuasiva de uma causa externa. Um afeto passivo é assim um afeto, que tem efeito sobre nosso corpo e nossa mente, cuja causa é inadequada a nós, isto é, do qual nós somos causa apenas parcial. Isso porque somos sempre de algum modo causa do que sentimos, no sentido de que a causa externa, para que tenha efeito em nós, deve ter algum eco, fazer algum sentido para nós, ainda que parcial e confusamente. Esse efeito passivo, esta aceitação de uma causa externa, inadequada, é, digamos, permitido por nós pelo fato de que, quando desejável por outras pessoas, o julgamos um bem, ou pelo fato de que, como explica Spinoza,5 buscamos o que julgamos ser um mal menor a fim de evitar um mal maior cuja possibilidade supomos como iminente. Ou seja, nos afetamos passivamente porque desejamos o que os outros desejam, ou bem supondo que o objeto em questão será bom para nós também, ou bem desejando tal objeto pelo prazer reativo de tê-lo conquistado enquanto outros não o conseguiram. E também quando acreditamos que embora a causa externa nos seja prejudicial, aceitá-la estaria evitando um mal maior, no lugar do qual aquela causa estaria, como um mal menor. O que há em comum nestes três motivos de aceitação de causas externas – acreditar que o desejo do outro é bom para nós, tirar prazer de uma competição com o outro, e acreditar que se trata de um mal menor – é o fato de que em todos três, psicanaliticamente falando, trata-se de obter ganhos secundários, compensatórios ou substitutivos. Ganhos ou prazeres que estão no lugar do que Spinoza chama de uma “satisfação de si”
Spinoza
3 Idem. 4 E IV, prop. 5. 5 E III, prop. 39, esc.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 115
(acquiescentia in se ipso) obtida quando nos afetamos ativamente, sendo causa adequada de nossos afetos. Afetarmo-nos ativamente, ou sermos causa adequada de nossos afetos, não quer dizer que não estamos interagindo com o ambiente, mas sim que estamos sendo capazes de transformar o que nos chega à nossa maneira. Um afeto ativo é, portanto, aquele cujas causas conhecemos e compreendemos. Assim, um afeto passivo pode ser transmutado em ativo quando compreendemos suas causas, de modo que esta compreensão constitui na verdade uma reapropriação do afeto, dele retirando explicações imaginárias que nos dávamos para amenizar a confusão que ele provocava. Como se sabe, Freud6 considerava a religião uma ilusão no sentido de que ela se colocaria no lugar de um Pai protetor, benevolente e ameaçador, fazendo com que os homens tornassem seu desamparo tolerável, o que teria um efeito maléfico pois os levaria a desacreditar nos poderes da cultura em resolver os problemas humanos, levando os homens assim ao comodismo e à inação, e até mesmo, escreve Freud, a uma atrofia da inteligência. Como um ópio que entorpeceria o homem e o faria aceitar suas neuroses, ao invés de tentar resolvê-las. Antes de Freud, Nietzsche e, muito antes, Spinoza foram também severos críticos da religião. Nietzsche critica a religião por seu caráter moral e ressentido, por sua doutrina contrária à realidade da natureza humana e depreciadora da vida em geral. Já em 1878, por exemplo, no terceiro livro de Humano, demasiado humano, denominado ‘A vida religiosa’, Nietzsche denuncia que o homem religioso acredita em um “inimigo interno” a fim de tornar a vida mais suportável, produzindo-o enquanto tal e cultivando-o: sua sensualidade, sua vaidade, seu desejo de honras e dominação. Sabe-se que a imaginação sensual é moderada, e mesmo quase suprimida, pela regularidade das relações sexuais; e que ao contrário, a abstinência ou a irregularidade destas relações a desencadeiam e a excitam. A imaginação de muitos santos cristãos era obscena a um ponto extraordinário; graças à teoria segundo a qual os apetites eram verdadeiros demônios (…) eles não se sentiam mais responsáveis por ele.7
Lhes era preciso, descreve Nietzsche, “para povoar a solidão e o deserto espiritual de suas vidas, um inimigo sempre vivo”, invencível pois que oriundo da natureza humana, de modo que combatê-lo lhes fazia aparecer para os outros como seres louváveis e sobrenaturais: “É o procedimento da religião e destes metafísicos que pretendem que o homem seja mau e pecador por natureza, tornando-lhe a natureza suspeita e fazendo-o assim pior (…) pois que lhe é impossível de sua vestimenta de natureza”. Deste modo, prossegue, o homem “se sente oprimido por um tal fardo de pecados, que forças sobrenaturais parecem necessárias para retirar-lhe este fardo: e assim se produz esta necessidade de redenção (…), que responde a um estado de pecado, de modo algum natural, mas adquirido
6 Particularmente em O futuro de uma ilusão. 7 Humano, demasiado humano, §141. As traduções de Nietzsche são nossas, a partir da de H. Albert para o francês, publicada em Oeuvres, Paris: Robert Laffont, 1993.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 116
pela educação”, pela moral. “A intenção não é que ele se torne mais moral, mas que ele se sinta o mais pecador possível”,8 para que a moral se lhe pareça mais e mais necessária. Diversas são as passagens em que Nietzsche desenvolve sua crítica à religião. No terceiro livro de Para além de bem e mal, intitulado “O ser religioso”, afirma que “a religião e a significação religiosa da vida (…) reconfortam, tiram partido do sofrimento, e chegam a santificá-lo e a justificá-lo”,9 “elas dão razão a todos aqueles que sofrem da vida como de uma doença, e gostariam de apresentar como falso todo sentimento outro da vida e torná-lo impossível”,10 cultivando um “ódio contra a terra” em nome de um além, pregando que se deve “renunciar ao mundo, castigar seus sentidos”, a fim de “aceder a uma humanidade superior”. A crítica que faz Spinoza à religião é também extensa, e toma a forma de uma crítica à superstição. No Apêndice da parte I de sua Ética, Spinoza mostra que os homens, pelo simples fato de tirar algum proveito das coisas da natureza, partilham do preconceito de que elas existem para lhe servir, que foram, portanto, criadas por Deus para servir ao homem, e que, por sua vez, Deus criara o homem para lhe servir. Projetam, assim, em Deus a imagem de um déspota, vaidoso e mesquinho, que pune e premia, e a quem devem agradar, portanto, a fim de receber em troca sua proteção. “E, embora a experiência mostrasse cada dia por uma infinidade de exemplos que as vantagens e os inconvenientes acometem indistintamente tanto os devotos quanto os ímpios, os homens não se desfizeram desse preconceito”.11 Tudo o que não compreendemos, o que achamos injusto ou cruel, explicamos pela “vontade de Deus, este asilo da ignorância”.12 O que há em comum nas críticas spinozista, nietzschiana e freudiana à religião é o fato de que esta difundiria preconceitos e superstições. Spinoza e Nietzsche acrescentam a isso seu caráter moral: a superstição serve como meio de convencimento e imposição moral. Nietzsche enfatiza que a moral deprecia a vida; e analogamente, Spinoza observa que a crítica moral à natureza humana tal qual ela é, revela na verdade um ódio ao homem. Em suma, a religião consola o homem face a seus males e dores, porém o faz ao preço de renegar a existência e a vida, em prol de uma idealização – platônica, observa Nietzsche – do homem e do mundo, inexistente e inalcançável. Isso fica mais claro quando se pensa a religião como preconizadora, tal como Sócrates, de uma vida melhor após a morte, valorizadora do sofrimento como sinônimo de virtude da alma, de desapego da carne, da matéria, do mundo, dos sentidos, valorizadora da abnegação e negação de si, do serviço e do sacrifício. Na contemporaneidade, contudo, a religião tem apresentado com freqüência uma característica nova em relação à crença religiosa de outros tempos: o fato de por vezes assumir uma proposta de não mais de considerar a vida como lugar de sofrimento e expiação, mas de prazer e realização, como veremos mais adiante. Além disso, podemos também considerar o sentimento religioso independentemente das religiões instituídas. O próprio Nietzsche propõe, em O nascimento da tragédia, que a arte trágica permite religarmo-nos ao Uno-primordial, às forças vitais dionisíacas, 8 9 10 11 12
Idem. Para além de bem e mal, §61. Para além de bem e mal, §62. E I, ap. Idem.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 117
como em um retorno ao ventre materno, reencontrando a pujança da vida mesmo em meio às dores da vida individuada, apolínea,13 proporcionando assim um Amor fati, amor à vida e à existência, à efetividade da vida tal qual ela é, tal qual se dá. Spinoza, por sua vez, após criticar duramente o Deus antropomórfico criado à imagem e semelhança dos homens, define Deus como a Natureza, enquanto Substância única que nos constitui, a nós e a todas as coisas. Quando nos afetamos e agimos a partir de Deus e em consonância com ele, posto que dele somos modificações, nos afetamos e agimos em consonância conosco mesmos. Assim, o que Spinoza chama “amor intelectual de Deus”14 corresponde à compreensão afetiva, ao conhecimento intuitivo, de nosso pertencimento a esta mesma substância única que constitui diferencialmente todas as coisas. Este amor à univocidade do mundo nos preenche de felicidade, de afetos ativos. Amor ao real e, por conseguinte, à vida, amor originário oriundo de um conhecimento intuitivo de que somos apenas modificações desta mesma substância da qual todos os outros seres também são somente modificações, ou modos de ser. Freud, por sua vez (em Mal estar na cultura), também distingue a religião enquanto reconforto ilusório do que seu amigo Romain Rolland considerava a verdadeira fonte da religiosidade, um “sentimento oceânico”, um sentimento inclusivo, sem separação entre o eu e o mundo, como um vínculo indissolúvel entre o indivíduo e o mundo, um sentimento de ser uno com o mundo, oriundo da relação do bebê com a mãe, que Freud chamara de “narcisismo ilimitado”.15 Winnicott, psicanalista do século XX que criara o que podemos chamar de um novo paradigma para a psicanálise, desenvolve e redescobre esta relação do bebê com o ambiente, a partir da relação do bebê com a mãe, porém não mais como um narcisismo, mas como estruturante de uma base de confiança na relação com o mundo e, portanto, de confiança em si mesmo. É somente quando há este sentimento de acolhimento do ambiente a nossos gestos espontâneos, que, livres para ser e para agir com espontaneidade, aceitamos a sociedade e o mundo, pois lidamos com os objetos de forma criativa, reapropriando-nos das coisas e do mundo. O oposto disso ocorre quando o bebê, e depois a criança, o jovem, o adulto, sente o ambiente como ausente ou invasivo, de modo que deve, para sua sobrevivência, defender-se e calcular seus gestos, em detrimento de sua espontaneidade. Quando se desenvolve aquele sentimento inclusivo de comunhão com o ambiente e com a vida, pode-se transmitir a idéia de deus, diz Winnicott, da sociedade ou da família da criança. Porém, se este sentimento não se desenvolvera, Deus se torna “na melhor das hipóteses um truque de pedagogo”, e na pior das hipóteses “uma peça de evidência para a criança” de que seus pais carecem de confiança em si mesmos, e têm medo do desconhecido.16 Assim como Spinoza e como Nietzsche, Winnicott também relembra o fato de que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Acrescenta, contudo, que não somente o criou como o cria: “o homem continua a criar e recriar Deus como um lugar para colocar o que é bom nele mesmo”, de modo a preservar o que o homem tem de bom, em uma 13 O nascimento da tragédia, §16 e 17. 14 E V, passim. 15 Traduzimos os termos a partir da tradução dirigida por J. Laplanche, ‘Malaise dans la culture’, in Oeuvres completes, Psychanalyse, v. XVIII, Paris: PUF, 1994. 16 ‘Moral e educação’, 1963, O ambiente e os processos de maturação, trad. Irineo Ortiz, Porto Alegre: ArtMed, 1983, p.88.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 118
instância independente de si mesmo e portanto protegida de sua destrutividade.17 Se em sua experiência real da vida a criança não desenvolveu este sentimento de zelo para com o outro, que Winnicott chama de concern, este Deus ao invés de lhe significar a vida em geral como acolhedora malgrado as dificuldades que possam advir, passa a representar uma bondade idealizada que não existe no mundo, e a ocupar um lugar de perfeição ideal que deprecia a vida real. E mais do que isso, “ao negar ao indivíduo em desenvolvimento a criação do que quer que esteja ligado ao conceito de Deus”, “ficando a criança limitada a aceitar ou rejeitar esta entidade basicamente estranha a ela, o conceito importado de Deus”, a religião “esvazia o indivíduo de um importante aspecto da criatividade”.18 Em resumo, é somente a partir de uma experiência originária de univocidade (coexistência de um sentimento de pertencimento e de individuação) com um ambiente favorável a seu desenvolvimento e à sua espontaneidade, que a criança poderá projetar uma idéia de Deus, como uma instância em aberto, livre para ser continuamente recriada, canalizando o sentimento de uma Vida acolhedora, de uma força vital inesgotável, tal como a entendem Spinoza e Nietzsche. O que menos importa é se a chamamos Deus ou não. Isso difere de um Deus pronto, criado e recriado por cada um de nós livremente, mas à imagem e semelhança do homem como um Pai idealizado e todo poderoso, correspondendo a uma doutrina específica e seus dogmas e crenças, como se existisse efetivamente, enquanto entidade antropomórfica. Voltemos à análise da contemporaneidade: a idéia de um Deus que quer a felicidade e o prazer dos homens se confunde ainda com um Deus antropomórfico, talvez não mais como tendo propriamente uma forma humana, mas como tendo, por exemplo, uma bondade humana. Um Deus que “deseja” o melhor para cada um de nós nesta vida, ainda confunde esta mensagem com: esta vida, sem o que seria aquilo que há de melhor, ainda está aquém do ideal, ainda é sofrimento. Não era mais para ser, mas ainda é por contraste entre o ideal e o real. Em termos spinozistas, o Deus externo – seja ele capaz de premiar e de punir, seja ele só bom – funciona para nossos afetos como uma causa externa, parcial, pois que encontra em nós uma resposta, imaginária e confusa, a nossos medos e inseguranças. Por outro lado, Deus enquanto força vital que nos constitui, enquanto significando a vida em geral ou o real como lugar acolhedor que inclui “tragicamente” (no sentido nietzschiano do termo) tanto prazer quanto dor, isto é, enquanto o real no que ele tem de bom e de ruim, nesta concepção, o que seja o divino pode ser vivenciado como causa interna, adequada, que nos leva à aprovação da vida e da existência, aumentando nossa potência, de agir, de ser, de pensar. E chegamos aqui a um ponto importante de nossas considerações. Se é verdade que este sentimento da univocidade nos traz força e potência, também é verdade que até mesmo esse Deus que se confunde com o real pode por vezes, para nosso psiquismo, acarretar um efeito ruim: quando acontece de ele substituir ou tornar negligenciável para nós a compreensão de nossos afetos. Mais precisamente: quando acontece de nos sentirmos mal, entristecidos, enfraquecidos, desvitalizados, enfermos física ou psiquicamente, o sentimento do apoio divino, por mais que seja reconfortante ou fortalecedor, seja esta divindade concebida como antropomórfica ou não, como energia humana, energia 17 Ibidem, p.89. 18 Ibidem, p.90.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 119
cósmica, ou simplesmente a vida ou o real, por vezes nos leva a negligenciar o fato de que, efetivamente, nossos afetos estão passivos naquele momento, que não estamos conseguindo sermos causa adequada de nós mesmos. O reconforto proporcionado pelo sentimento religioso, seja ele de que ordem for, não resolve as causas afetivas que nos levaram a reagir de maneira a nos enfraquecermos naquele dado momento da vida. As causas afetivas não são causadoras únicas ou muito menos diretas de nossas dificuldades psíquicas. Não se trata, como a psicanálise um dia parece ter acreditado, de uma causalidade “intra-psíquica” de sentimentos extra-psíquicos. O que ocorre é que nosso modo de nos afetar, nossos afetos tais quais se dão, nossa maneira de reagir afetivamente influenciará o efeito de determinadas situações ambientais sobre nós. Certo, há casos em que nossos afetos estão a tal ponto confusos, ou que nossa relação arcaica com a mãe ambiente fora de tal forma invasiva ou ausente, que nossas relações com os objetos externos em grande parte será determinada por uma projeção de insatisfações internas, por deslocamento e condensação, como em um laboratório de expiação prática de nossas dificuldades iniciais. Em um caso ou em outro, isto é, seja no caso em que nos sentimos seguros e confiantes em relação à vida, seja no caso em que esta confiança no ambiente está comprometida, o sentimento religioso, seja este por sua vez mais ou menos saudável, ou, ao contrário, mais ou menos desesperado, pode contribuir para que esqueçamos de entender nosso funcionamento afetivo, tanto em geral quanto em situações atuais e singulares da vida. É neste sentido que o sentimento religioso pode se tornar um no fim das contas cômodo expediente para o psiquismo, como uma maneira de colocar fora de si e da situação na qual estamos inseridos, com nossas forças e dificuldades afetivas e psíquicas – no mundo dito ‘espiritual’, que seja no pecado ou no mau-olhado, pelos desígnios de Deus ou pelas conjunções cósmicas – a causa de nosso desconforto, atual ou de sempre. Assume assim a característica de uma solução mágica. Uma varinha de condão, uma vela, um “trabalho”, uma reza, oração, mantra, pedido com fé, pensamento positivo, mentalização, devoção, favor a Deus ou aos deuses, bom comportamento, atenção aos dogmas ou ao culto – e como num passe de mágica esquecemos que se sentimos um afeto passivo, a causa externa que o está gerando, nos distanciando de nós mesmos, nos dando um sentimento de um self falso, irreal, vazio, é porque somos causa parcial deste sentimento, isto é, como vimos, que nossa compreensão do mundo e de nós mesmos não está na situação presente sendo capaz de nos fazer ativos e potentes, que não estamos podendo criar e recriar suficientemente nosso ambiente – afetivo, relacional, familiar, profissional – à nossa maneira. Esquecemos nossa parte, os deslocamentos e condensações que devem estar inconscientemente operando em nossas reações, nossas frustrações, concessões para além da conta, nossa dificuldade em perceber o que queremos, em descobrir e sentir o que nos realiza e expande, para manter tudo como está, porém com um reconforto maior, analgesiados, temporariamente anestesiados, entretidos. Por outro lado, a aceitação passiva de uma solução mágica é também a aceitação de uma causa externa, inadequada a nós, parcial. Parece aumentar nossa potência de agir, e efetivamente a aumenta relativamente ou transitivamente, porém a diminui de uma forma mais abrangente, e impede de compreendermos suas causas internas, mais integrais, mais dependentes somente de nós, tanto de nossa maneira de melhor nos afetarmos diante das vicissitudes da vida, quanto de nossa capacidade de melhor selecionarmos nossos encontros com pessoas, situações e ocasiões de aumento de nossa potência de agir. E se
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 120
aceitamos, isso se deve certamente ao fato de que acreditamos, de forma mais ou menos inconsciente, que estamos tendo um mal menor no lugar de um mal maior que estamos evitando. Não se trata apenas ou exatamente de um comodismo; afinal todo comodismo envolve não apenas um lado de prazer como uma perda de movimento, dinamização, expansão e resolução de problemas evidente. O comodismo não se justifica pelo pouco de prazer que traz; ele somente se justifica psiquicamente pelo que, na fantasia daquele que se acomoda, evita, poupa, protege. E ele protege, ou parece proteger, do risco de um mal maior, que seria o fracasso, o insucesso na empreitada de se mudar algo já afinal de contas familiar, o medo de que o novo seja pior que o já conhecido, que se perca o pouco que se tem e nada se ganhe no lugar, ou que compense a perda. Um tempo presente sem criação, sem conquista, é também um tempo sob controle, seguro. O preço do imobilismo, contudo, pode ser o da estagnação de nossa mais própria capacidade criativa de novas formas de estar nas coisas, de investir em nós mesmos, nos outros e nos objetos. Notemos ainda que quando dizemos criação, movimento, conquista, não se trata de criar, mover-se e conquistar dentro do que a sociedade nos oferece como formas de prêtà-porter, mas de um outro sentido, embora estes sentidos distintos possam eventualmente coincidir. Pois criar, mover-se e conquistar o que a sociedade apresenta como pronto é, também e mais uma vez, optar pelo mal menor. O afeto ativo, sermos causa adequada de nossas ações, implica, ao contrário, em interagirmos com o mundo criando o que nos expande e realiza nesta interação. As aventuras e conquistas previstas pela sociedade têm na realidade o papel de fetiches que, no relativamente falso mundo do como-se (é como se estivéssemos felizes, é como se nos amassemos, é como se fossemos aventureiros, é como se tivéssemos saúde, e assim por diante) substituem um sentimento efetivo de expansão, se estar vivo, ativo, criativo, bem, afirmando e aprovando a vida com suas dores e prazeres. Winnicott pode nos ajudar a entender melhor o x da questão. Nos processos precoces do desenvolvimento emocional do bebê, não há ainda por parte deste uma percepção da separação entre mãe e bebê, e portanto o bebê somente existe integrado ao ambiente, ou, como diz Winnicott, à mãe-ambiente. Nestas fases iniciais, “ele faz um movimento espontâneo e o meio ambiente é descoberto sem que haja uma perda do sentido de self [de si-mesmo]”.19 “O ambiente é constantemente descoberto e redescoberto por causa da motilidade”.20 Neste caso, cada experiência no interior do psiquismo “enfatiza o fato de o novo indivíduo estar se desenvolvendo a partir do centro e o contato com o ambiente é uma experiência do indivíduo”.21 Gradativamente o bebê forma um sentimento de self, como vivo, verdadeiro, pois seus gestos espontâneos puderam existir e recriar os objetos do mundo ao descobri-los. A criatividade tem aqui o sentido da recriação e da reapropriação singular de objetos e experiências, de acordo com a espontaneidade, realização e expansão ativa do indivíduo. Trata-se de um afeto ativo, se o dissermos em termos spinozistas, a partir das afecções resultantes da interação com o ambiente que nos constituiu e continua a constituir através de nossas relações. O oposto do desenvolvimento desta capacidade criativa ocorre quando o ambiente é invasivo, de modo que “em vez de uma série de experiências individuais, o que há é uma 19 ‘Psicose e cuidados maternos’ (1952), in Da pediatria à psicanálise, trad. J.Russo, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993, p.379. 20 Ibidem, ‘Agressão e sua relação com o desenvolvimento emocional’, p.365. 21 Idem.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 121
série de reações a invasões”.22 O verdadeiro self da pessoa fica então escondido sob um self que se forma a partir de reações e defesas, pela submissão aos dados oferecidos pelo ambiente que se impõe como verdadeiro, restando ao self adaptar-se a ele. “O falso self pode ser convenientemente sintônico com a sociedade”,23 e esta aparência de sucesso protege o self verdadeiro que, caso contrário, estaria exposto às agressões do ambiente. Temos assim um exemplo de opção inconsciente por um ‘mal menor’, em um estágio arcaico e fundamental do desenvolvimento emocional do indivíduo. Como dizíamos anteriormente, a criatividade e o entretenimento ligados às ofertas sociais organizadas para este fim não necessariamente permitem a expressão desta criatividade essencial do indivíduo; por vezes, muito pelo contrário, podem servir de defesa organizada contra a dificuldade de expressão e realização individual. Chegamos aqui ao segundo ponto de nossa análise da contemporaneidade. Dentre as defesas organizadas socialmente contra o vazio existencial provocado por um processo de maturação em que os indivíduos não encontraram condições ambientais suficientes para a expressão de seus gestos espontâneos, está a própria ciência, sua divulgação pela mídia, e em especial a medicina em seu aspecto dito científico, a biotecnologia e seus objetos de consumo, apresentados em nome da saúde orgânica, inclusive psíquica. Nietzsche já observara que a ciência, que historicamente afastou a crença em Deus e na religião predominantes na Idade Média, dando origem à modernidade, apenas ocupou o mesmo lugar que antes era ocupado pela religião: mantiveram-se a mesma crença, o mesmo modelo moral, a mesma vontade de verdade, e a mesma depreciação da vida. No lugar da fé em Deus, a “fé na ciência”: é ela agora quem diz a verdade sobre a realidade. “Trata-se de saber se, para que essa disciplina [científica] possa começar, um convicção não é indispensável, uma convicção tão imperiosa e tão absoluta que força todas as outras convicções a se sacrificar por ela. Vê-se que a ciência, ela também, repousa sobre uma fé, e que não há ciência ‘incondicional’”.24 A fé na verdade como absolutamente necessária implica que todo o resto tenha um mero “valor de segunda ordem”.25 “A fé na ciência se formou malgrado a demonstração constante da inutilidade e do perigo que residem na ‘vontade de verdade’, na ‘vontade a todo preço’” que apenas se justifica “no terreno da moral”. Busca-se a verdade do mundo, não no mundo, onde verdade e aparência coexistem, mas numa abstração que tem como meta suposta melhorar as coisas, corrigir a existência. A verdade “afirma assim um outro mundo, que não o da vida, da natureza e da história”, negando pois “este mundo, nosso mundo”, de modo que “é ainda e sempre sobre uma crença metafísica que repousa nossa fé na ciência”.26 “A ciência repousa sobre as mesmas bases do ideal ascético: ambos supõem um certo empobrecimento da energia vital”.27 Historicamente, o Deus medieval e a crença nos valores absolutos foram desbancados pela ciência, isto é, pela convicção de que a razão humana pode chegar à verdade mais eficazmente que os livros sagrados da religião. Porém, para tal, a razão deve seguir métodos formais de redução da complexidade da vida e das coisas a uma dimensão abs22 23 24 25 26 27
Idem. Idem. Gaia Ciência, V, §344. Idem. Idem. Genealogia da moral, III, §25.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 122
trata universal que propicie o controle de variáveis, permitindo assim a previsão de comportamentos fenomênicos futuros e deste modo um certo domínio da natureza para que ela sirva a fins civilizatórios. A redução operada pela ciência transforma-se, porém, em um reducionismo a partir do momento em que acredita que o resultado desta operação corresponde à verdade ou à essência do objeto real que fora reduzido. A verdade passa da realidade para a formalização científica – ou antes, cientificista, se quisermos diferenciar a ciência enquanto pesquisa e a ideologia segundo a qual os resultados obtidos pela ciência têm um valor maior que as expressões artísticas ou outras, ou sobretudo, um valor maior que a própria realidade, em toda a sua complexidade e irredutível riqueza. Em outras palavras, assim como a verdade da Igreja se sobrepunha aos indivíduos na Idade Média, na Modernidade a eles se sobrepõe a verdade da ciência. Trata-se igualmente de um moralismo, no sentido de que se nos diz o que vale, e que esse valor maior não está na imanência da vida, mas ao contrário, se impõe a essa imanência para legislar sobre ela, ditar-lhe regras de conduta em nome da verdade, metafisicamente, portanto, tanto quanto o fizera outrora a Igreja. Valores que se impõem de fora, como verdadeiros, malgrado a singularidade de cada um de nós em nossas relações com o mundo e a vida em geral: operação metafísica e, como vimos, geradora de falso-self, pois que submete o indivíduo a valores previamente estabelecidos. Este cientificismo torna-se ainda mais explícito quando associado à mídia, tal como ocorre na contemporaneidade – o que evidencia seu objetivo de instituir e propagar valores comuns para todos os indivíduos da sociedade. A depreciação da vida pela ciência, e sua intenção de melhorá-la “corrigindo-a”, por sua vez, torna-se ainda mais presente no que diz respeito não somente à tecnologia, mas, sobretudo às biotecnologias, em particular quando aplicadas à medicina. Pois é justamente nas biotecnologias ligadas à saúde orgânica, sobretudo mental, pela via das tecnologias médicas e farmacológicas, com seus produtos comerciais divulgados pela mídia, que encontramos da maneira mais direta e ilustrativa as defesas organizadas socialmente contra o risco de viver. Os exemplos de propaganda indireta de tecnologias médicas e farmacológicas na mídia são abundantes, geralmente apresentadas como última novidade da pesquisa científica que trará, ainda mais que as precedentes, um bem-estar absoluto para as pessoas. A meta, apresentada como alcançável, é a do combate e mesmo do fim de todos os males da existência, tendo como horizonte o combate à própria morte. O ideal que atravessa essas propagandas em forma de reportagens pode talvez ser descrito algo como: quer-se não mais correr riscos, não arriscar mais a saúde, não correr o risco de adoecer, evitar o risco que viver implica, porém, paradoxalmente num certo sentido, busca-se a perpetuação do indivíduo e da vida considerada como permanência no tempo. No entanto, esse combate se faz pelo combate à doença ou à sua prevenção cirúrgica ou medicamentosa. Não se divulga na mídia a prevenção ligada ao reforço da potência intrínseca ao corpo, ao seu fortalecimento, afinal, para isso não é preciso tecnologia nem fármacos. O reforço da natureza não engaja os milagres da civilização. E, sobretudo, fortificar o indivíduo em sua natureza seria prevenir efetivamente enfermidades, degenerativas e outras. Enquanto que o que se busca no consumo dos medicamentos milagrosos divulgados pela mídia parece ser antes a manutenção das causas desses males. Mudar para nada mudar. Atacar o sintoma para calar sua causa. Paliar e remediar, para afastar soluções que engajem a necessidade de se questionar valores e modos de vida.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 123
Nietzsche
As matérias de revistas de notícias trazem, sempre em matéria de capa, as últimas novidades médicas do mercado como capazes de operar milagres, mudar a vida das pessoas, sem que as pessoas nada precisem fazer além de consumir seus produtos. Visa-se permitir que elas levem um modo de vida defensivo sem mais se preocupar com as conseqüências de uma vida nada ou pouco saudável. Podemos destarte comer todos os alimentos não nutritivos oferecidos pela indústria sem preocupações, pois agora existem medicamentos e intervenções milagrosas para problemas do coração, da digestão, obesidade, e para todas as doenças graves, de modo que ninguém precisará mais se preocupar em evitá-las. Ademais, seremos transportados para o hospital em um lindo passeio de helicóptero. A bonança médica não se restringe, contudo, à extinção das doenças físicas, estendendose às doenças psíquicas, ou melhor, estendendo-se ao psiquismo, cujas dificuldades são todas devidamente reduzidas ao orgânico, classificadas em sintomas, por sua vez traduzidos e nomeados como ‘doenças’. Nas reportagens, quadros de ‘listas de sintomas’ permitem ao leitor um acesso rápido a seu próprio diagnóstico. Sobre um destes quadros de características comportamentais, diz o texto: ‘Elaborada pelo médico tal, esta lista é um instrumento importante de diagnóstico’. Um determinismo genético é apresentado como causa absoluta de todos os males, apenas ‘moldada por fatores sócio-culturais’. Noutra reportagem, uma mulher esbelta nas nuvens sobre um grande comprimido, como sobre um tapete mágico, estampa um sorriso de felicidade suprema, obtida pelo uso de antidepressivos. A matéria apresenta um quadro imenso sob o título ‘A guerra contra a depressão e a ansiedade’, com uma lista de ‘transtornos psíquicos’, seus sintomas e os remédios disponíveis no mercado. ‘Síndrome do pânico, fobias, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, stress pós-traumático, depressão, transtorno bipolar’. O texto fala de ‘portadores de depressão’, como se se tratasse de um vírus, ou de um defeito de fabricação. Comenta também sobre os efeitos colaterais dos medicamentos, porém colocados por conta de um diagnóstico errado ou de uma inadequação do paciente àquela droga – jamais o contrário, uma inadequação da droga à pessoa. Assim, ou melhoramos com o medicamento, ou devemos trocar de medicamento – falhas não há do lado da ciência. O universal não falha, apenas o particular, que insiste teimosamente em não se adequar a ele. Spinoza28 observa que um universal, para que seja universal, deve estar presente em todos os particulares do universo em questão. Caso contrário está-se inventando que algo que não é universal o seria, com o fim de impor aos particulares algo que não lhes é adequado. Uma imposição do mundo inteligível sobre o mundo sensível. Nietzsche acrescenta uma imposição, como todas, moral, supondo-se que a verdade precisa ser
28 E II, 40, esc. 2.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 124
imposta – o que significa dizer contraditoriamente que a verdade é causa externa, afinal, caso fosse causa adequada não necessitaria ser imposta. O lugar crescente ocupado na mídia pela propaganda dos antidepressivos, apresentando-os como capazes de alterar quimicamente um estado de depressão ou angústia transformando-o em estado de felicidade e bem estar – e isso apresentado como ‘cientificamente comprovado’ para uma porcentagem significativa dos casos estudados – oferece às pessoas um ideal de ego inequívoco: ser feliz é possível, e para isso basta tomar um remédio. Como uma dor de cabeça; toma-se um remedinho e pronto. A psiquiatria se banaliza e atinge o consumo de massa. Dificuldades psíquicas são traduzidas como ‘transtornos’, considerados como distúrbios de origem orgânica, que comodamente não requerem nenhum questionamento. Inversamente, algo da ordem dos afetos sempre dá trabalho, exige que se coloque em questão, recriar-se, refazer-se. Tal como vimos no que diz respeito à religião, as soluções medicamentosas são tomadas como igualmente mágicas, no sentido de que também colocam fora o que deve ser mudado, mesmo que este ‘fora’ seja apresentado como se situando no orgânico. Um passe ou um medicamento. Nada que questione. Nada que faça ver, entender e conhecer nossos próprios afetos, que exija que nos engajemos em uma compreensão de nossas raivas, ódios e amores, sempre amalgamados, de modo a entendermos que é impossível ser somente bons, ou somente maus, ou somente amar sem desgostar aqui e ali, e que ter raiva não é incompatível com amar. Para entender isso que Spinoza chamava de “flutuações da alma”, é preciso sair das idealizações, abrir mão dos ganhos secundários obtidos no padecimento padronizado oferecido pela sociedade e pela mídia, abrir mão do falso self que securiza pois que é familiar e conhecido, para poder se conhecer, descobrir o que se está fazendo e sentindo que está impedindo nossa criatividade e espontaneidade. Medicamentos podem ser úteis, não há dúvida. Porém, são apresentados como bens de consumo carregados de valores simbólicos. Se os outros têm direito às novidades da biotecnologia, por que eu não teria? Quem está falando de se tratar? Ou melhor, de compreender, de mudar? O que as soluções medicamentosas oferecem através de uma sociabilização da hipocondria, é um anteparo socialmente legitimado e aceito para proteger as pessoas contra seus sentimentos e dores, e negativamente contra suas aspirações. O lado ‘físico’ dos males da existência individual aparece como complementar ao lado ‘espiritual’, e nem um nem outro contemplam o aspecto psíquico e afetivo, relacional e pessoal. O individualismo contemporâneo paradoxalmente não dá espaço ao indivíduo, apenas oferece defesas socialmente partilhadas contra a insatisfação própria a indivíduos que não criam, que não se expressam, que não se expandem, que não se realizam. Só penso em mim e, portanto, não quero compreender minhas dificuldades afetivas, minha rigidez, minhas defesas, pois isso traz um grande incômodo. Meu hedonismo é um hedonismo do comodismo e da imobilidade: quero o prazer de consumir fetiches de prazer, oferecido como consolo comum a todos da sociedade com a qual partilho minha existência. Falsos prazeres comuns, falsas soluções comuns, para problemas singulares e reais, tornados, por um passe de mágica, universais, comuns. Hedonismo comportado e depressão.
Winnicott
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 125
Gregarismo ao mesmo tempo hedonista e depressivo. Até que a mídia diga como devemos mudar. O prazer singular não é hedonista; é simplesmente singular, criativo no sentido winnicottiano. O ‘espiritual’ e o ‘científico’ se reencontram neste ponto psíquico fundamental: ambos funcionam como anteparo à assunção, conhecimento e elaboração dos afetos. Mostram-se igualmente soluções mágicas, cômodas, oportunas, pois que nada solucionam, senão a casquinha de sintomas, como se estes fossem o problema. E sob um certo ângulo são: se não se quer enfrentar a vida, correr riscos, expandir-se, então melhor é anular os sintomas que indicam, impertinentes, esse mal de vivre. Os sintomas, de sinal de saúde, pois que denunciam que não estamos conseguindo criar e recriar, passam a ser os vilões da história, e nossas varinhas de condão os atacarão, em um ataque que nada ataca, visando uma mudança que pouca coisa muda. Remédios, exames, orações, para remediar: e assim se conquista o pertencimento na coletividade do consumo, mecanismo socialmente organizado, disponibilizado gregariamente para todos, a fim de que ninguém se sinta só ao defender-se de si mesmo. Seria talvez injusto, embora não incorreto, dizer que se trata de uma defesa organizada contra a vida. Mais uma vez Winnicott nos auxilia a entender o mecanismo do que em psicanálise se nomeia ‘defesa maníaca’.29 A defesa maníaca consiste em uma defesa criada pelo psiquismo do indivíduo a fim de protegê-lo contra os afetos passivos e destrutivos introjetados desde a primeira infância. Trata-se de uma proteção que o falso self oferece ao verdadeiro self a fim de preservá-lo das invasões ambientais, mas que, contudo, o impede de expressar-se. Preservo a mim mesmo, mas ao preço de expressar-me menos. Arrisco menos, e conservo-me mais. Sobrevivo mais, porém vivo menos minha própria vida, minhas próprias realizações, expansões, expresso menos minha própria criatividade, espontaneidade, vivacidade e vitalidade. Preservo-me do ambiente, porque paradoxalmente me submeto a ele; e preservo-me dele paradoxalmente me submetendo a ele – porque o recrio muito pouco a meu modo. Submeto-me ao ambiente tal qual ele se me apresenta, porque não aprendi que é normal amar e ter raiva, isto é, que somente amamos de forma saudável e não idealizada quando somos capazes de aceitar que é inevitável que também sintamos raiva de quem ou do que amamos; jamais se gosta ou se desgosta totalmente, e crer que isso seria possível implica em uma idealização, irreal portanto, que exige um grande esforço para que possamos denegar e esconder de nós mesmos o sentimento que se quer renegar. Ele se torna um segredo interno, que corrói por dentro: como posso amar alguém que também odeio? Como posso odiar alguém que também amo? Proíbe-se assim de amar porque esse amor seria um falso amor; mas essa proibição permanece em segredo, pois se deve amar aos outros, sobretudo aqueles que nos amam. A ambivalência de amor e ódio é um resultado direto de um ambiente primário invasivo ou ausente, pois que este dificulta que o bebê integre como uma só mãe aquela que o satisfaz, que é portanto boa e por isso amada, e aquela que frustra, e que é portanto má e por isso odiada. A essa não integração corresponde uma não integração interna: as pulsões vivenciadas como destrutivas – oriundas da fome, sede, dores – não são suficientemente integradas ao self, permanecendo associadas a perseguições externas, ambientais, dissociadas de si, projetadas no ambiente e nos outros.
29 ‘A defesa maníaca’ (1935), in Da pediatria à psicanálise, op.cit., p.247
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 126
As defesas maníacas são assim manipulações psíquicas onipotentes, e inconscientes, da realidade externa a fim de se fugir, na realidade externa, da realidade interna vivenciada como falsa e perseguidora, angustiante. As fantasias onipotentes são assim “uma defesa contra a aceitação” da realidade interna conflituosa; “tentativas de salvar o bom do mau” internos, projetando-se o mal no mundo fora, preservando-se tanto quanto se pode o bom no que ele puder sobreviver. A defesa maníaca é assim “uma fuga para a realidade externa”, a fim de se “tolerar a ansiedade depressiva”. Todo sintoma neurótico estrutura-se como uma defesa maníaca, “contra idéias depressivas de uma ‘morte dentro’”.30 Utiliza-se a realidade para tranqüilizar as pessoas acerca de suas angústias, inseguranças e afetos ambivalentes. Um certo grau de defesa maníaca é muito comum: deixar o rádio ou a televisão ligados interminavelmente, apreciar o barulho constante de uma metrópole, impor-se disciplinas draconianas, buscar um prazer hedonista. A sociedade oferece um grande leque de defesas maníacas a seus indivíduos. O pensamento único e a crença em Verdades, sejam elas espirituais ou ditas científicas, são particularmente nocivas, no sentido de que tendem a enrijecer essas defesas psíquicas em detrimento de um maior conhecimento afetivo e imanente de si. Também os reality shows são formas coletivas de “controle onipotente de personagens que representam objetos internos”. Ao invés de elaborá-los e resolvê-los, projeta-se tais objetos em personagens externos que se prestam a isso. “Na defesa maníaca”, afirma Winnicott, “a relação com o objeto externo é utilizada na tentativa de diminuir a tensão na realidade interna”. O problema é que esta tentativa é sempre de algum modo frustrada, pois “é uma característica da defesa maníaca o fato de o indivíduo ser incapaz de acreditar completamente na vivacidade que nega a inércia moral”, no resultado aparentemente positivo do dispositivo defensivo em anular as angústias internas, devido ao fato de que tais defesas não o fazem “acreditar na própria capacidade de amar o objeto, pois fazer o bem só é real quando a destruição é reconhecida”.31 Amor fati. A defesa defende, mas não convence. Protejo-me contra o mundo, mas não o amo por isso, pois não consigo aceitar que também o detesto; pois não consigo aceitar que em mim coexistem amor e ódio, gostar e desgostar. Não suportar os afetos de raiva internos faz com que também os afetos bons sejam negados, gerando um sentimento de vazio existencial e enfraquecendo a capacidade de criação. A denegação dos afetos negativos se origina da submissão ao ambiente invasivo: é ele que está certo, é ele que me dirá a Verdade a qual devo seguir; meu gesto espontâneo não é, portanto, correto ou verdadeiro; bons são os outros, e para que eu também seja, devo submeter-me às causas externas, e ocultar até de mim mesmo minha realidade interna, indigna, pecadora, geneticamente falha. É contra meu pecado original, seja ele religioso ou genético, que devo lutar, com os instrumentos que o mundo externo, que sabe das coisas, me oferece. Medicamentos e movimentos espirituais contemporâneos preconizam a felicidade; mas isso nada ou pouco muda, pois essa felicidade, ideal de ego e não ideal de self, é-nos externa, e como tal se deve alcançar. A defesa maníaca é “organizada em função das ansiedades que pertencem à depressão, que é, por sua vez, a disposição interna que resulta da coexistência de amor, 30 Idem. 31 Idem.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 127
voracidade e ódio nas relações entre objetos internos”, explica Winnicott. Desejamos nos sentir “alegres, exultantes, ocupados, excitados, bem humorados, ‘cheios de vida’”, mas se o somos para ocultar a depressão, esses sentimentos no fundo não nos convencem, não ultrapassam um nível comportamental superficial. “É justamente quando estamos utilizando a defesa maníaca que há menos probabilidade de sentirmos que estamos nos defendendo contra a depressão”.32 As soluções mágicas medicamentosas ou espirituais defendem contra a depressão e a angústia, resultantes de afetos passivos, oriundos da submissão a causas externas. Mas não transformam os afetos passivos em ativos, não nos tornam causa adequada de nossas ações, não transmutam reações em ações. Os resultados positivos de bem-estar proporcionados pelas defesas religiosas e medicamentosas, defesas maníacas oferecidas pela sociedade, não são recriações, não se operam a partir de causas internas, vêm de fora. Trazem conforto, reconforto, apaziguam que bom. Mas não ensinam a lidar melhor com os próprios afetos, que geraram e geram a depressividade que se conseguiu por ora apartar. Formamos nosso psiquismo e nosso eu por identificações múltiplas e concomitantes. Cristalizar o resultado destas identificações em uma identidade cultural, solidária às defesas organizadas gregariamente, pode contribuir efetivamente para uma fixidez de tipo falso self, proporcionando, decerto, segurança diante do devir e da vida, porém gerando também, como efeito colateral, neuroses e defesas. Se nossas identidades protegem nosso self das ameaças externas, vimos que esta proteção se faz por deslocamento contra, na verdade, as ameaças internas, internalizadas e introjetadas ao longo de nossas interações psíquicas arcaicas. Nossas diferentes identificações, inversamente, nos permitem nos associarmos por afinidades, empatia, enriquecimento, sem que as diferenças sejam afastadas. São as identificações que nos permitem ao mesmo tempo nos diferenciar e nos sentirmos próximos de todos os seres, todos modos de ser da mesma natureza, e partilharmos com eles um mesmo espaço de criações singulares. Espaço que Winnicott chamara ‘transicional’, ao mesmo tempo comum e singular, partilhado entre eu e o outro, unívoca e diferencialmente. As ilusões da identidade consistem em tentarmos fixar nosso ser imanente e em devir, em uma imagem. Como na televisão, onde dores e dificuldades parecem ser, tal como aparece na propaganda, resolvidas pela ciência médica ou, naquilo que escapa ao método ‘científico’, pela fé. Qual varinha de condão preferimos: a da magia religiosa, ou a da magia da ciência anunciada nas revistas? Ora, mas como viver neste mundo sem partilhar das formas coletivas de sofrimento e de expiação desse sofrimento, de prazeres controlados? Recriando ativamente nossas relações, buscando a compreensão de nossos afetos, tornando-nos causa adequada de afetos então ativos, recuperando nossa espontaneidade. À medida que aceitamos nossos medos indizíveis, do colapso e do vazio, menos eles assombrarão nossos pensamentos inconscientes, pois que começamos, enfim, a nos amar sem nos sentirmos na obrigação de nos idealizarmos para nós mesmos. À medida que nosso self falso se desfaz, as defesas maníacas se tornam menos necessárias e mesmo desnecessárias, de modo que aquelas propostas pelo sofrimento e expiação coletivos não nos seduzem mais. Deixam de ser um mal menor, para aparecerem como uma fuga coletiva da realidade afetiva e relacional, isto é, como um mal 32 Idem.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 128
suficientemente grande, face à riqueza de nossas próprias descobertas e caminhos de criação no mundo. Amando enfim a nós próprios podemos amar aos outros e ao mundo, aceitando-nos e aceitando-os com nossas e suas qualidades e defeitos. Amor fati e amor Dei, um sentimento de univocidade que se coaduna enfim com o trabalho contínuo de conhecimento de nossos afetos atuais e de nossas relações afetivas, assim como, por conseguinte, com um movimento sempre renovado de criação e descoberta de nós mesmos.
*
André Martins é filósofo e psicanalista; professor adjunto IV da UFRJ, Departamento de Medicina Preventiva (Faculdade de Medicina) e Departamento de Filosofia (IFCS), Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Doutor em Filosofia pela Université de Nice e Doutor em Teoria Psicanalítica pela UFRJ; Pós-Doutorado Sênior em Filosofia pela Université de Provence; coordenador do Grupo de Pesquisas Spinoza & Nietzsche (SpiN), apoiado pelo CNPq.
CICLO DE PRÁTICAS CULTURAIS POPULARES E EDUCAÇÃO SIMONE GIBRAN NOGUEIRA* PETRONILHA BEATRIZ GONÇALVES E SILVA**
Resumo: O presente trabalho visa descrever e divulgar experiências inovadoras que estão sendo realizadas na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) por meio do projeto de extensão ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’, que se insere no contexto atual do Programa de Ações Afirmativas e do Fórum Interinstitucional em Defesa das Ações Afirmativas no Ensino Superior, implantado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB/UFSCar) em parceria com o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia (CEAO/UFBA) e a Ford Foundation. Para tanto, será apresentada breve contextualização do projeto, apresentação dos grupos de cultura popular e comunidades étnico-raciais de estudantes envolvidos, objetivos, metodologia, principais resultados alcançados e, por fim, considerações finais sobre a importância social e acadêmica da continuidade das atividades do projeto.
Introdução Desde os anos de 1980, a UFSCar acolhe grupos de cultura popular da cidade de São Carlos e com eles desenvolve projetos. Estudantes desta universidade, por exemplo, em parceira com o Movimento Negro da cidade, fundaram o Grupo de Cultura Afro da UFSCar, e diferentes grupos de capoeira, compostos por universitários e cidadãos sãocarlenses, já desenvolveram trabalhos nessa instituição. Além disso, desde 1995, essa universidade recebe estudantes Africanos e Latino-Americanos pelo Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) e, em 2006, implantou o Programa de Ações Afirmativas, no qual há a reserva de vagas para egressos da escola pública, entre eles, negros e indígenas. Com vistas a acompanhar este programa, bem como, implantar outras experiências de políticas de reserva de vagas e cotas o Fórum Interinstitucional em Defesa das Ações Afirmativas no Ensino Superior foi criado pelo NEAB/UFSCar1 e seus parceiros. Este Fórum é uma aliança entre várias instituições e busca dar articulação e sustentação aos programas de ação afirmativa adotados por universidades brasileiras. A proposta é estabelecer uma rede de diálogos e ações entre as universidades participantes, estabelecendo 1
O NEAB/UFSCar é coordenado pelo Prof. Dr. Valter Roberto Silvério.
termos de compromisso e convênio entre elas. A rede visa a criação de uma agenda comum dessas universidades, na qual estejam presentes o debate sobre os modelos de acesso e permanência dos estudantes; formas de acompanhamento e avaliação das políticas; ações de combate ao racismo institucional; ações de comunicação com a sociedade civil, entre outros aspectos. Neste quadro, com vistas à realização de ações que visem reconhecimento e valorização da multiculturalidade do patrimônio artístico cultural brasileiro e dos direitos humanos, o Programa de Ações Afirmativas/UFSCar e o NEAB/UFSCar, numa parceira inovadora com os grupos de cultura popular da comunidade sãocarlense e com as comunidades de estudantes africanos e indígenas, presentes na UFSCar, construíram e realizaram o projeto de extensão ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’.
Figura I – Logotipo do Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação.
Em 2008, este projeto foi financiado pelo NEAB/UFSCar e, em 2009, recebeu recursos do Edital PROEXT Cultural, lançado pelo Ministério da Educação (MEC) em parceira com o Ministério da Cultura (MINC), e foi formalizado como projeto de extensão da UFSCar. Buscou-se com este projeto reunir diferentes manisfestações culturais presentes nessa Universidade, mas que, com freqüência, passam despercebidas quando não menosprezadas pela comunidade universitária. Estas atividades de valor cultural, educacional, social e político para os grupos de cultura popular e para estudantes africanos e indígenas promovem fortalecimento de seus participantes no interior das instituições de ensino e fortalecem a identidade e o pertencimento étnico-racial desses estudantes, ao valorizar manifestações próprias de cada grupo e promover a reflexão, a problematização, o aprofundamento das discussões sobre as situações adversas que enfrentam no cotidiano da vida universitária, o combate ao racismo institucional no ensino superior e os intercâmbios culturais com a sociedade, caso das escolas públicas e de centros culturais. Tais atividades, embora não formalizadas no universo acadêmico, têm proporcionado produção científica como a pesquisa de NOGUEIRA (2008).
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 131
Os participantes do projeto Os participantes do ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’, formal ou informalmente, costumam manter intercâmbio. São eles o grupo de capoeira angola CECA-Academia João Pequeno de Pastinha (CECA-AJJP), o grupo de práticas e pesquisas em danças brasileiras Girafulô, a Comunidade Acadêmica Africana de São Carlos (CAASCAR) e a comunidade dos estudantes indígenas da UFSCar. Desde 1992, o grupo de capoeira angola CECA-AJPP, sob a coordenação do mestre ‘Pé de Chumbo’, desenvolve suas atividades junto a estudantes de graduação e pósgraduação de diferentes cursos dessa universidade. Já contribuiu para a formação acadêmica e cidadã de muitos alunos, assim como produziu eventos culturais, algumas vezes apoiados com recursos da instituição – como, em 1995, para a realização da I Oficina de Capoiera Angola do Estado de São Paulo. Estas experiências apoiaram a produção de pesquisas, monografias, mestrados e doutorados sobre Capoeira Angola, entre eles, os estudos de Câmara (2004), Simões (2006) e o de Nogueira, (2007) acima mencionado. Ainda, em 2008, o projeto de extensão intitulado ‘Fortalecendo a Capoeira Angola num intercambio universidade escola’ estabeleceu parceira entre o CECA-AJPP, o NEAB/ UFSCar e a ONG Teia, que é um Ponto de Cultura – Teia das Culturas – projeto financiado pelo Ministério da Cultura. Nesta parceira, o projeto de extensão contou com um bolsista que contribuiu para o desenvolvimento das atividades iniciadas pelo projeto Teia das Culturas que tinha como objetivos oferecer condições para a implementação da Lei 10639/2003 e do Parecer CNE/ CP 003 (BRASIL, 2004)2 junto à Escola Municipal de Ensino Básico Athur Natalino Deriggi, coordenadores pedagógicos, professores e alunos, por meio de atividades geradas a partir das culturas da Capoeira Angola, do Côco e do Hip Hop. Além desta experiência de parceira, outras ações significativas acontecem desde que o convênio PEC-G foi estabelecido, reunindo estudantes africanos da UFSCar e da Universidade de São Paulo (USP), da cidade de São Carlos. Hoje, a comunidade africana em São Carlos tem mais de 50 pessoas e, devido a esta expressiva quantidade, elas começaram a se organizar coletivamente a partir de 2005 fundando a associação intitulada CAASCAR. Com estes estudantes, o NEAB/UFSCar tem anualmente realizado, desde 2005, a Semana Acadêmica e Cultural Africana durante o mês de maio, para comemorar a organização da União Africana. Neste evento, realizam-se reuniões de caráter científico, debates sobre a integração de estudantes africanos na sociedade e universidades brasileiras, além de apresentações culturais. Estas atividades tem contado com parceria do Grupo Gestor/UFSCar, do Gremio Recreativo Familiar Flor de Maio e do Centro de Cultura Afro-Brasileira Odette dos Santos, e vem se constituindo como importante evento interdisciplinar que discute e encaminha questões sobre a relação Brasil e continente africano. Decorrente destas ações, congregando participação em diferentes anos, está a publicação do livro Redes de Conhecimentos. Novos horizontes para cooperação Brasil e África (BOLAMA, 2007), com objetivos de promover a capacidade institucional e a integração internacional no domínio do ensino superior através de redes de conhecimentos científicos e de apoiar 2 A Lei 10639/2003 e o Parecer CNE/CP 003/2004 orientam diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 132
um sistema de ensino superior de qualidade, que seja eficiente e relevante face às necessidades do mundo globalizado, em conformidade com as prioridades de desenvolvimento socioeconômico desses países. Já o grupo de práticas e pesquisa em danças brasileiras Girafulô se instalou em São Carlos em agosto de 2006 e, desde então, iniciou sua participação na UFSCar. É composto por estudantes de graduação e pós-graduação e pessoas da comunidade sãocarlense que buscam na dança uma forma de expressão, luta ou comprometimento com diferentes comunidades sociais. Por esta razão, entre outros objetivos, seu campo de trabalho está na pesquisa de repertórios de práticas brasileiras tradiconais. O grupo busca ligar o conhecimento popular com expressões e informações acadêmicas. Nesse sentido, cabe destacar processos de criação próprios do dançar, cantar, compor, pesquisar e interagir com formas lúdicas, criativas e autênticas que estão presentes na dança e nas brincadeiras da cultura popular brasileira. Outro grupo que participa do projeto é constituido pelos estudantes indígenas cuja comunidade começou a ser formada em 2008, por ocasião da reserva de vagas do Programa de Ações Afirmativas/UFSCar. Atualmente, pertencem eles às etnias indígenas: Xucurú do Ororubá, Terena, Manchineri, Pankararú, Guarani, Piratapúia, Suruí, Tupiniquim, Kalapalo, Xavante, Caiapó e Baniwa. Vieram eles, segundo afirmam, em busca de conhecimentos da sociedade não-índia com a perspectiva de no futuro poderem auxiliar no desenvolvimento sustentável de seus povos e da nação brasileira, bem como combater o preconceito e as desigualdades sociais existentes nas aldeias e no país. Reunir grupos com visões de mundo e raízes culturais tão diferentes não tem sido uma tarefa simples, mas o engajamento de todos está criando atividades inovadoras diante da diversidade étnico-racial da comunidade universitária em questão. Desta forma, pela primeira vez, descendentes de indígenas, africanos e asiáticos constroem propostas de reconhecimento e valorização de povos historicamentemente marginalizados em nossa sociedade e dos conhecimentos que produzem. Para que a transformação - que a presença de tal projeto sugere junto à vida universitária, aconteça, é de suma relevância a união dos diferentes grupos e comunidades culturais no sentido de fortalecer a diversidade, o patrimônio cultural e a multiculturalidade. Seguem aqui os objetivos que orientam as ações do ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’ e a formas de trabalho ora utilizadas.
Objetivos A oportunidade desses grupos de juntos planejarem, executarem e buscarem resultados está sendo muito valiosa para que uns conheçam os outros e valorizem seus modos de ser e pensar. Como veremos a seguir, são ambiciosos os objetivos que esta proposta inter-étnicoracial e multidisciplinar vem buscando alcançar. São eles: t 1SPNPWFS EJÈMPHPT DPN WJTUBT Ë DPOTUSVÎÍP EF DPOIFDJNFOUPT UBOUP BDBEÐNJcos quanto culturais em estabelecimentos de ensino de diferentes níveis, em centros culturais e em outros espaços de convívio da cidade de São Carlos.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 133
t
t
t
t
As atividades se desenvolvem a partir da visĂŁo de mundo, da convivĂŞncia, da solidariedade, da construção e da compreensĂŁo dos grupos em atividades, por meio da troca de idĂŠias, de oficinas, de apresentaçþes, de exposiçþes, de mostras de filmes e documentĂĄrios etc; 0 DPOKVOUP EBT BUJWJEBEFT SFBMJ[BEBT CVTDB DPOUSJCVJS QBSB RVF B JNQMFNFOUBção da Lei 10.639/2003, da Lei 11.645/20083 e do Parecer CNE/CP 003 (BRASIL, 2004) na UFSCar e em escolas pĂşblicas da cidade de SĂŁo Carlos se efetivem, atingindo o objetivo de valorização desses segmentos que formam grande parte da população brasileira: povos indĂgenas, descendentes de africanos e africanos. 1FOTB TF RVF EFTUB GPSNB FTUF QSPKFUP FTUĂ&#x2C6; DPOUSJCVJOEP UBNCĂ?N DPN P 1SPgrama de Açþes Afirmativas/UFSCar, na medida em que busca valorizar o modo prĂłprio de ser dos estudantes por meio da divulgação, promoção e valorização de prĂĄticas culturais tradicionais dos alunos que ingressaram pelo sistema de vagas e pelo convĂŞnio PEC-G; "PT PCKFUJWPT BOUFSJPSNFOUF BQPOUBEPT KVOUF TF B QSFPDVQBĂ&#x17D;Ă?P EF GBWPSFDFS B produção cientĂfica que valorize a construção de diĂĄlogos entre saberes populares e saberes acadĂŞmicos, jĂĄ que os alunos estĂŁo presentes em diversos cursos da UFSCar; "JOEB GPSUBMFDFS JEFOUJEBEFT Ă?UOJDP SBDJBJT F B BVUP FTUJNB EPT FTUVEBOUFT VOJversitĂĄrios, e daqueles de escolas pĂşblicas da cidade de SĂŁo Carlos, envolvidos no projeto, por meio de prĂĄticas sociais prĂłprias de culturas tradicionais populares.
Formas de trabalho O â&#x20AC;&#x2DC;Ciclo de PrĂĄticas Culturais Populares e Educaçãoâ&#x20AC;&#x2122; foi concebido em 2008 e seu projeto piloto foi realizado no segundo semestre daquele mesmo ano. Naquele momento, as atividades foram construĂdas coletivamente pelos grupos de cultura popular e comunidades ĂŠtnico-raciais de estudantes, tendo como base a proposta de construção de conhecimentos por meio do diĂĄlogo entre saberes tradicionais populares e saberes acadĂŞmicos. Ă&#x2030; importante ressaltar que os objetivos do projeto serviram como diretrizes que orientaram tal construção coletiva das propostas e que os grupos e comunidades tiveram autonomia para decidir sobre o tipo de atividades a serem realizadas, quem convidar, quando e como realizĂĄ-las etc. As açþes do projeto piloto foram efetivadas somente no campus da UFSCar em SĂŁo Carlos, durante os meses de agosto e outubro e foram elas: exibição e discussĂŁo de filmes e documentĂĄrios; debates sobre a relação entre coletivos culturais, comunidades sĂŁocarlenses e universidade; exposição de artesanato e oficina cultural de pintura corporal indĂgena; apresentaçþes de congada e de capoeira angola. Em 2009, o â&#x20AC;&#x2DC;Ciclo de PrĂĄticas Culturais Populares e Educaçãoâ&#x20AC;&#x2122; foi contemplado com o edital PROEXT Cultura, lançado pelo MinistĂŠrio da Educação em parceria com o MinistĂŠrio da Cultura. Com os recursos deste edital, nĂŁo sĂł deu-se continuidade ao trabalho como foi possĂvel ampliĂĄ-lo e aprofundĂĄ-lo, tendo sido estendidas açþes para o campus da UFSCar em Sorocaba e para a comunidade de SĂŁo Carlos. Nesse sentido, a extensĂŁo 3
A Lei 11.645/2008 torna obrigatĂłrio ensino de histĂłria e cultura indĂgena.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 134
universitária do trabalho foi expressiva, tendo sido intensificada não só a presença da universidade na comunidade como da comunidade na universidade. Cada grupo de cultura popular, CECA-AJPP e Girafulô, e cada comunidade de estudantes, africanos e indígenas, realizou ações continuadas como reuniões mensais para sua própria organização, para apoio aos estudantes que deles participavam e para a valorização da produção de conhecimentos. Assim, foram feitos também eventos que marcaram sua presença nos campi da UFSCar e nas cidades onde estes se encontram. Para divulgar os trabalhos foram feitas parcerias com a rádio UFSCar, o CineUFSCar, o Centro de Cultura Afro-Brasileira Odette dos Santos e com a ONG Teia. Os resultados atingidos foram bastante significativos e algumas das ações e resultados mais expressivos de cada coletivo serão relatados a seguir e, se considerados em conjunto, representam enorme contribuição para a formação acadêmica, cultural e política, tanto da comunidade universitária como dos cidadãos de São Carlos, Sorocaba e região.
O que resultou dessa experiência? Sem dúvida, a possibilidade de trabalhar juntos, de poder desenvolver objetivos próprios, articulando-os com os de outros grupos, de contar com os recursos financeiros necessários, de um lado criou condições necessárias para a realização das atividades, de outro, fortaleceu a ação de cada grupo; além de haver permitido o exercício de intercâmbio, em relações de igualdade, entre os diferentes grupos e seus objetivos próprios.
A experiência da CAASCAR A Comunidade Acadêmica Africana de São Carlos (CAASCAR) estabeleceu vínculos com a comunidade dos estudantes africanos no campus da UFSCar em Sorocaba. Esta iniciativa incentivou os mesmos a realizar atividades acadêmico-culturais em parceria com entidades da comunidade local, integrando-se desta forma ao ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’.
Figura II – Foto de reunião dos estudantes africanos.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 135
Um dos resultados mais significativos deste projeto de extensão em Sorocaba foi a integração efetiva da única estudante africana daquele campus, em 2008, à vida universitária. Segundo relatos da Assistente Social, ela apresentava dificuldades de relacionamento com colegas, andava quase sempre sozinha e não conversava muito, o que era motivo de preocupação para os responsáveis pelo Programa de Ações Afirmativas. Em 2009, com o ingresso de mais três africanos naquele campus e através do contato estabelecido com estudantes da CAASCAR e da possibilidade de mostrar manifestações de sua cultura crioula, ela sentiu-se reconhecida e valorizada. Coordenou a oficina de tranças africanas, ajudou a articular a apresentação do coral de mulheres negras de Sorocaba, realizou palestra sobre seu país de origem e ajudou na promoção de uma exposição de fotos e roupas africanas. O evento foi um sucesso no campus UFSCar Sorocaba. Tudo isso fez a aluna solitária se tornar sorridente e entrosada com os colegas brasileiros e, nas palavras da Assitente Social, se tornou a aluna mais “popular” do campus. Como se vê, esta estudante e todos os demais alunos africanos puderam se expressar por meio de atividades culturais criadas e desenvolvidas por eles próprios, divulgar como são seus países, suas culturas e, assim, quebrar estereótipos negativos sobre o continente africano e contribuir para que seus colegas brasileiros passassem a conhece-los e respeitá-los pelo que são. Neste caso, houve não apenas extensão da universidade à comunidade, mas uma oportunidade de extensão de conhecimentos e vivências africanas no contexto universitário brasileiro. Em São Carlos, a CAASCAR realizou a V Semana Acadêmica e Cultural Africana, com atividades na UFSCar e na USP, em forma de palestras, exibição de documentário, sarau literário e festa africana, conforme ilustram as Figuras III e IIIa. Cabe especial destaque para a conferência de abertura proferida pelo professor Mario Biaguê, Guienense, Doutorando em Engenharia Elétrica na Poli USP que, em sua infância e juventude, conviveu com Amílcar Cabral, importante líder da Descolonização Africana, cujo pensamento foi tema da apresentação.
Figuras III e IIIa – Cartaz da Semana Acadêmica e Cultural Africana e Palestra sobre vida e obra de Amílcar Cabral.
No segundo semestre de 2009, a CAASCAR pôs em prática um projeto que há muito vinha amadurecendo, qual seja o de levar informações sobre países africanos a escolas de Educação Básica. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Carlos foi organizado um cronograma de palestras e atividades em e com escolas públicas deste
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 136
município. Nestas oportunidades, os estudantes africanos fizeram apresentações sobre seus países de origem por meio de palestras. Tais atividades foram importantes não só para divulgar características geográficas, sociais, econômicas e manifestações culturais próprias de seus países, numa tentativa de quebra de preconceitos existentes contra o continente africano, como contribuíram para implementar a Lei 10.639/2003 na Rede Municipal de Ensino de São Carlos.
A experiência do CECA - AJPP O Centro Esportivo de Capoeira Angola – Academia João Pequeno de Pastinha (CECA-AJPP), por sua vez, desenvolveu também diversas atividades, sendo por elas responsáveis o capoeirista Jurubeba4 e a capoeirista Simone.5 Quando, em 2008, o referido grupo realizou sua programação em São Carlos, foi tomada a decisão de que no ano seguinte seu trabalho se estenderia a Sorocaba, o que efetivamente aconteceu. No campus de Sorocaba, o evento ocorreu como parte das atividades de extensão da Universidade Aberta, ocasião em que a universidade abre suas portas para receber alunos secundaristas e apresentar-lhes suas principais produções. Esta foi uma parceira importante, uma vez que a participação integrada de um grupo popular a uma atividade própria da comunidade universitária enriqueceu a todos os participantes, de dentro e de fora desta comunidade. Abaixo fotos do treino e da roda de capoeira realizados em Sorocaba.
Figura IV e IVa – Treino e Roda de Capoeira Angola com mestre ‘Pé de Chumbo’ na UFSCar Sorocaba.
A Experiência da Comunidade dos Estudantes Indígenas A comunidade dos estudantes indígenas também tratou de conectar atividades nos dois campi. Em Sorocaba, foram realizadas atividades de oficina de cultura Guarani e
4 Dr. Antonio Riul Jr., professor do Departamento de Física do campus UFSCar em Sorocaba. É professor-mestrando de capoeira angola no grupo CECA-AJPP. 5 Simone Gibran Nogueira, psicóloga social, mestre em Educação, pesquisadora do NEAB/UFSCar e trenel do grupo CECA-AJPP.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 137
exposição de artesanatos indígenas de diferentes etnias. Em São Carlos, foram exibidos documentários e realizados uma oficina de cultura Guarani e um Seminário de Pesquisas. O ano de 2009 é o segundo ano de ingresso de estudantes indígenas na UFSCar. Atualmente, eles são um pouco mais de 20 alunos distribuídos em cursos de diferentes áreas de conhecimento. Apesar de ser um número ainda pequeno de estudantes, se comparado ao corpo discente da UFSCar, sua presença tem sido marcante. Em outubro de 2008, sete desses estudantes foram contemplados com a Bolsa de Assistência a Estudantes e Incentivo à Pesquisa (BAIP) e com este recurso eles desenvolveram estudos que privilegiaram a construção de diálogos entre saberes tradicionais indígenas e a academia. Alguns dos temas de suas pesquisa foram a importância da dança Terena, o poder de cura das plantas medicinais, a história dos povos indígenas nas escolas (não-indígenas) e as diretrizes da legislação quanto ao uso dos conhecimentos tradicionais indígenas. Estes estudos foram apresentados em um Seminário de Pesquisas organizado pelos próprios estudantes indígenas. Esta foi uma significativa atividade que realizaram, demonstrando o quanto pode ser enriquecedora sua presença não só para a comunidade universitária como para as comunidades de São Carlos e Sorocaba. Abaixo fotos de dois alunos enquanto apresentavam resultados de suas investigações.
Figura V e Va – apresentação dos estudantes indígenas no Seminário de Pesquisas.
Se, de um lado, este trabalho no primeiro semestre foi tão relevante, de outro cabe mencionar que, no segundo semestre, talvez em virtude da pressão das atividades acadêmicas propriamente ditas, o grupo não conseguiu se organizar conforme havia previamente planejado. Os indígenas dizem que esta nova situação incomoda, gera até mesmo angústia, e eles sabem que, para superar essa dificuldade, é preciso fazer face à diversidade de pontos de vista das diferentes etnias, às diferentes condições de vida entre os estudantes, e às exigências da vida universitária. Para os objetivos do ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’ este fato vem sendo avaliado como uma dificuldade a ser superada. Trata-se de uma dificuldade que advém, entre outros aspectos, do fato de serem oriundos de culturas comunitaristas e, na universidade, serem levados a assumir padrões de comportamento extremamente individualistas, o que pode, inclusive, gerar disfunção psicossocial. Há que se considerar ser dois anos pouco tempo para se estruturar uma organização social estudantil, então, temse mais um desafio para todos os envolvidos no ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’: esse de apoiar a continuidade das ações dos estudantes indígenas.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 138
A experiência do Girafulô O grupo de práticas e pesquisa em danças brasileiras Girafulô se fez presente no quadro de atividades do ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’ em diferentes espaços da cidade de São Carlos, na UFSCar, na ONG Teia e no Centro de Cultura AfroBrasileira Odette dos Santos. Uma das ações significativas realizadas por esse coletivo foi a fundação do Grupo de Estudos sobre Cultura Popular que passou a se reunir mensalmente e contou com um quadro interdisciplinar formado por psicólogos, sociólogos, educadores físicos, dançarinos, músicos, historiadores, pedadogos, estudantes de graduação e de pós-graduação. Na foto a seguir está registrada uma das reuniões do Grupo de Estudo sobre Cultura Popular e a Oficina de Jongo que foram realizados na ONG Teia.
Figura VI e VIa – Grupo de Estudos sobre Cultura Popular e Oficina de Jongo na ONG Teia.
Os resultados das reflexões produzidas por esse grupo de estudos ao longo de 2009 estão sendo elaborados em forma de artigo, com vistas à divulgação do trabalho que está sendo feito. Esta iniciativa é significativa, pois demonstra que o ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’, enquanto projeto de extensão, também desenvolve ações de produção e difusão de conhecimento.
Á Guisa de Conclusão Como se vê, os resultados do ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’ abrangem atividades de extensão da universidade à comunidade e da comunidade à universidade, de ensino e de pesquisa. Atividades articuladas interdisciplinarmente com o objetivo do reconhecimento, da valorização e difusão da memória histórico-social do patrimônio cultural dos povos Indígenas, Afro-brasileiros e Africanos. Para tanto, construíram-se e avaliaram-se idéias; promoveram-se diálogos e ações entre saberes e modos de fazer - formas de expressão e celebrações, tudo o que constitui o mais genuíno patrimônio cultural brasileiro. Desta forma, o ‘Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação’ permitiu o acesso a diferentes formas de expressão, promoveu e estimulou o uso sustentável desse patrimônio para as gerações futuras e para a melhoria das condições de vida de seus produtores e detentores, conforme aponta o Plano Nacional de Cultura.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 139
O êxito dos dois Ciclos efetivados incentiva a que se dê prosseguimento a tal conjunto de atividades que promove excelência acadêmica com compromisso social.
Referências Bibliográficas BRASIL. Presidência da República; Casa Civil Lei 11.645, de 10 março de 2008, que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Parecer CNE/CP 003/2004 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas Escolas. Brasília, 2004. BOLAMA, Nico António. Redes de Conhecimentos. Novos horizontes para a cooperação Brasil e África. São Carlos: Pedro & João Editores, 2007. CÂMARA, E. Capoeira Angola: uma contribuição à prática do professor no reconhecimento e valorização da comunidade afro-descendente. Dissertação de mestrado, Programa de pós-graduação em Educação, Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, 2004. NOGUEIRA, Simone Gibran. Processos Educativos da Capoeira Angola e Construção do Pertencimento Étnico-Racial. Dissertação de Mestrado. UFSCar: São Carlos, 2007. SIMÕES, Rosa Maria Araújo. Da inversão à re-inversão do olhar: ritual e performance na capoeira angola. Doutorado em Ciências Sociais. São Carlos: UFSCar 2006.
*
Simone Gibran Nogueira, Psicóloga Social, Capoeirista, Mestre em Educação, Pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar e Coordenadora do Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação.
** Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Professora Titular de Ensino-Aprendizagem - Relações ÉtnicoRaciais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), pesquisadora do Núcleo de Estudos AfroBrasileiros/UFSCar e Coordenadora do Grupo Gestor do Programa de Ações Afirmativas da UFSCar e Coordenadora do Ciclo de Práticas Culturais Populares e Educação.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 140
POEMAS E CONTOS
ZARATUSTRA E NIETZSCHE MARCELO VARGAS*
Maldito anão da gravidade, acocorado no meu ombro, enforcando-me o pescoço, por que insistes em profanar as graças animadas por Dionísio? Em macular a serenidade das virtudes inspiradas por Apolo? Não vês que, assim, me fazes desperdiçar o tempo, sem alegria, e ainda afogas em melodrama de lágrimas os afagos de Afrodite, roubando-me toda energia? Caia fora, verme, deixe-me ser, sentir, gozar em plenitude minha condição perigosa de funâmbulo no abismo; Deixe-me atravessá-lo trôpego, arriscando-me, de um lado para o outro, sem o lastro traiçoeiro da tua verve mediócre e medrosa; Vai-te, maldito! Let me be.
*
Marcelo Vargas é professor do Departamento de Ciências Sociais, Programas de Pós-Graduação em Ciência Política e em Sociologia, da Universidade Federal de São Carlos.
LIÇÃO DE POESIA IRENE ZANETTE DE CASTAÑEDA*
O
s pequenos estavam ansiosos. Pela primeira vez, ouviam falar de poesia. Acotuvelavam-se deliciosamente. Curiosidade. Duas eram as convidadas a falar sobre o tema. Uma devoradora de teorias. A outra admiradora e vivenciadora das belezas da vida. Aquela, especialista em termos eruditos no mais alto estilo, bem dotada de belas teorias disse aos pequenos: “A palavra poesia vem do grego: poiesis e significa ação de fazer, criar alguma coisa. Inicialmente ligava-se à idéia de mimesis…”. Leu poemas de vários poetas famosos. Analisou-os com a mais perfeita didática. Utilizou-se de instrumentos da mais alta tecnologia para ilustrar belos poemas. Magníficos autores. Os pequenos ficaram estupefatos com o alto nível da jovem mestra. A lição fez seguidores fiéis. A outra, sem palavras, olhou para os pequenos. Sua ingenuidade teórica a assustava diante da sabedoria da colega. Precisava mostrar aos pequenos uma lição de poesia. Não pensou duas vezes. Olhou para os seus olhos sedentos e deixou seu coração falar. Suas palavras começaram a ser enunciadas lentamente. Tão suaves! Pareciam estar voando, pairando na natureza. Pareciam vidas em ebulição silenciosa. Há milhares de anos, na Idade do Ouro, o planeta era pura poesia. O universo planetário se dourava todos os dias. Primeiro, a Aurora vinha de mansinho anunciando o Sol. Ele chegava com todo seu esplendor e poder. Esbanjava seus raios quentes. O orvalho derretia-se na presença do grande iluminador. Sua conversa com a natureza terrena era um desenho amistoso. Mandava seus fios de ouro inclinados, translúcidos e saudáveis para enverdecer a Terra desejosa de sua presença, todos os dias. Aquecia os homens e animais no frio. Era bom, saudável e todos gostavam de vê-lo de senti-lo na pele. Mostravase um deus na sua plenitude. Decidia sobre a vida e a morte na hora certa. Ele brilhava. Vencia as geleiras temidas. Afastava a neve no primeiro raio. Tudo era harmonia na terra. A vida chegava. A vida se ia. A vida renascia. Era Perséfone visitando a mãe Terra, numa eterna primavera. Tudo no seu tempo certo. O homem era integrante dessa natureza Despertava com a claridade solar. Levantava-se, fazia seu destino com seus pés e suas mãos. Olhava para a natureza e tudo era poesia. O pinheiro ainda estava de pé. Dava sombra à terra fresca e úmida. Dava húmus e a conservava fértil. O pontiagudo e altivo oferecia
sombra aos passantes. Em qualquer lugar nascia uma planta. Uma árvore. Uma vida. A vegetação dominava a terra inteira. As árvores estavam ora verdes, ora floridas e perfumadas. Abraçavam-se. Entoavam hinos de amor sem saudade. Nasciam. Eram verdes. Davam flores e frutos sem o trabalho do homem. Nada de canavial. Só florestas. Muitas florestas. Elas escondiam tesouros de vida incalculáveis. E eram doces os frutos da Terra! Sem química. Sem preço. Sem genoma. Morangos. Amoras. Araçás. Alimentavam os pássaros das alturas e os bichos rasteiros. Havia alimento para todos. O homem comia bem. Vivia bem. Era feliz. As abelhas contentes em círculos recolhiam o néctar para fazerem o mel. O néctar também era dos homens. Adoçava a boca e a vida dos homens. A primavera era eterna. Vivia-se a primavera na alma. No coração. Ela enfeitava o universo com suas flores coloridas e suas borboletas azuis. Verdes. Amarelas. O retorno era benfazejo. Recebiam-se graciosamente as benesses do alimento saudável. Nas árvores, os pássaros cantavam a melodia da liberdade. O mel dourado da azinheira adoçava a boca de todos os amores. Não havia fome. Não havia sede. O rio corria mansamente, limpidamente, matando a sede de todos os seres vivos. Os peixes dançavam sob a sinfonia das águas. Saíam com doçura das profundezas e vinham dizer bom-dia ao SOL. O dia nascia devagar. O dia andava devagar. Impunha-se suavemente. Espreguiçava-se devagar a natureza inteira. Não havia leis. A paz era docemente venerada. Balançava-se o ramo verde na oliveira. Não se cortava o pinheiro para fazer árvore de natal. Não se transportavam madeiras para o outro lado do rio. O homem não conhecia a ganância e o lucro fácil. A honestidade acompanhava a Boa Fé. De mãos dadas caminhavam espalhando o doce encanto da harmonia. Castigo? Medo? A segurança seguia o homem num laço amigo. Guerra? Capacetes? Espadas? Soldados? Não havia sangue correndo em vão para mostrar o poder da força bruta. Para mostrar o poder militar. Para mostrar o poder político. Para mostrar o poder econômico. O sangue era o vigor de corpos fortes. A beleza do corpo era natural. Futuro? Globalização? Tecnologia? Ah! Ah! Ah! Riam os deuses de todos os povos. Um dia os homens ocuparão o lugar dos deuses. O caos será instalado. Até onde irá a irreverência humana? A insensibilidade humana? O fim do humano do homem? Ficará frio. Virará máquina. Ah, mas isso é só futuro. A tranqüilidade reinava plena na Idade do ouro. Não era necessário o seguro de vida para fingir assegurar a vida. O homem não temia a morte. Tudo era natural. A terra era imune ao arado, símbolo da primeira revolução tecnológica, com suas lâminas envenenadas, cortantes e ferinas. O arado não fazia a terra chorar. O céu também não chorava. Não se vingava com tempestades. Não se vingava com furacões. O sol não se vingava com seus raios cegos e ultra-violetas. O mar não se vingava com maremotos. Os rios não se vingam com enchentes malfazejas. Com a água envenenada. Iodada. A terra também não se vingava com terremotos. Não se vingava com vulcões. Não se vingava com a esterilidade. Com a seca onde a terra fora cultivada. E o homem não tinha medo. Medo? Nenhum medo. O homem sentia-se bem. Era feliz. Amava. A natureza humana se pautava somente pelo amor. Ele sempre renascia. Crescia nos corações. Como era doce o amor! Não havia paixão. Sentimento passageiro. Puro tremor sedento da carne. O amor era tudo. Tudo. Era um abraço terno e forte. Um afago na cabeça tranqüila. Uma carícia nas mãos sempre dadas. Era eterno. Sublime. Leal. Fiel. Generoso. Os homens se amavam ternamente. Viviam em eternos abraços. Os pais amavam os filhos. Os filhos amavam os pais. O respeito ao outro era natural. Cada instante era abençoado pelo amor, o encanto do mundo. E o homem sabia cantar uma canção de amor. E era bela. Ele sentia o perfume das coisas. Em nome do amor, os Zéfiros suaves
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 144
acariciavam a pele dos amantes e dos amados. Os ventos violentos estavam trancados nas cavernas do futuro. O mundo era carregado de sentido. A vida era carregada de sentido. O homem sentia-se vivo, e a existência não era passageira. Tudo era útil e agradável. A liberdade fazia ninho seguro. Os sonhos eram tímidos. Sem complexos. O homem e a natureza rezavam a mesma oração. Interagiam pacificamente. Enfim, esse mundo era visto pelo olhar de um deus e compreendido pela mente dos mortais. Assim terminou a segunda lição de poesia. Os pequenos não aplaudiram. Abraçaram fervorosamente a mocinha ingênua.
* Irene Zanette de Castañeda é professora de Literatura da UFSCar. E-mail: <irene@power.ufscar.br>.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 145
Veludo ADALBERTO TRIPICCHIO*
—
B
altazar, não esqueça de levar o Shake para passear. Ora, isso Baltazar já sabia. Toda manhã levava o Shakespeare passear. Aliás, desde filhote, era ele quem o levava para o treinador. Shake era um macho pastor-alemão capa preta belíssimo. E de natureza dócil. Apesar de seu tamanho e força, não serviria para cão-de-guarda. Até os estranhos recebia amigavelmente. Agora adulto cuidava dos dois filhos pequenos de Elizabeth, a patroa, melhor que a própria babá. Baltazar pensava de como Shake iria tratar seus próprios filhotes. Teria que arranjarlhe uma bela esposa. Costumavam passear sempre numa mesma praça arborizada, cheia de crianças, de jovens que subiam e desciam as árvores. Lá estavam os amigos de Shake. Cães de todas as raças. Com os pequeninos cãesde-madame, Shake era cuidadoso no trato, pai de todos. Às vezes trazia algum deles, pegando pela nuca com a boca, sem machucar. Isto, quando algum deles corria algum risco com um cão maior e bravo, ou então, perto das ruas movimentadas, que margeavam a praça. Baltazar amava esse cão. Desde que ele chegou, com dois meses de idade, à casa dos patrões.
*** Certa manhã, durante o passeio, Shake sumiu. Baltazar andou por todos os cantos, esquadrinhando as ruas. Estavam longe das praias. — Onde ele foi parar, meu Deus?
Passada uma hora, que pareceram muitas, Shake saiu de um beco, próximo a uma casa em construção, onde havia montes de areia, pedras e tijolos. Parecia muito alegre, agitado. Foi um alívio Baltazar ver Shake. Não tanto pelos patrões, mas pelo amor que Shake lhe despertava. Observando melhor o beco de onde Shake tinha saído, saiu em seguida uma cachorrinha, sem raça definida, um mix de pequinês, com fox paulistinha, com cocker, sei lá. Ela estava no cio como pôde perceber pelos machos que a seguiam, e, que Shake pôs a correr. Não deu outra: Baltazar acompanhou a prenhez a se desenvolver naquela cadelinha de rua. Ele sabia, melhor dizendo, tinha certeza, que eram filhotes de Shake que estavam ali se desenvolvendo. Baltazar chegou a dizer algo a sua patroa. Que Shake ia ser pai etc. Elizabeth não se interessou muito, pois eles não teriam pedigree.
*** Crianças freqüentavam aquela praça tão bonita e saudável no bairro de Ipanema. Algumas delas viram o parto da cadelinha. Eram filhotes muito grandes. Três deles. O primeiro nasceu bem. Os dois que saíram horas depois não resistiram. Juntamente com a mãe morreram. Uma das meninas que brincava sempre naquela praça, adotou-o. Mas, não era o bastante, era preciso que, também, sua família o adotasse. Já tinham dois cães-de-guarda Rottweiler, para a proteção da casa. Trazer um filhote era até uma temeridade para a segurança do cãozinho.
*** Tuquinha, a benfeitora do filhote, estava com cinco anos, tinha mais três irmãos. Dois rapazes, e a irmã Suzy. Em reunião do clã de Tuquinha chegou-se à conclusão inequívoca que o filhote da praça não podia ficar por ali. Pensaram em dá-lo de presente a algum conhecido. Mas…, um cão sem tradição de família canina, não seria fácil. Suzanne, a irmã mais velha, compadeceu-se da pequena Tuquinha, que estava desolada em se afastar do filhote - nem nome tinha -, aos prantos. Foi nesta circunstância, que ambas, no quarto de Tuquinha, ela mais Suzanne, resolveram batizá-lo. O belo exemplar tinha herdado o dorso de seu pai Shake. Felpudo, macio, brilhante e absolutamente preto. Traços de um legítimo capa-preta. No mais, coitadinho, tinha herança da mãe: manchas ao longo da pelagem, orelhas caídas. Chamaram-no Veludo.
***
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 147
Aqui surge Suzanne como personagem importante deste relato. Motivo: Suzanne, com pena de Tuquinha, e, também de Veludo, pensou rápido. Seu namorado Johnny, que morava só em um apartamento grande no Leblon, tinha uma funcionária diarista que cuidava da limpeza geral e das refeições de Johnny. Quem sabe ele não aceitaria um filhotinho tão cativante como aquele.
*** Suzanne era envolvente. Sabia que tinha um namorado de gênio difícil. Johnny era filho-único de mãe pós-divórcio, que não conseguiu refazer sua vida. Ao contrário de seu pai, que logo após da separação, casou-se com uma namorada que já tinha há dois anos. Johnny tinha duas meias-irmãs, com quem não tinha o menor contato. O pai de Johnny se tornou Diretor de Banco. Competente e influente, e carregado com toneladas de culpa pelo filho que ele via como um “abandonado”. Não hesitava em satisfazer-lhe as vontades. Foi assim que lhe deu um belíssimo apartamento no Leblon, muito melhor que o de sua mãe. Foi um presente pelos seus vinte e um anos.
*** Suzanne e Johnny se conheceram numa dessas casas noturnas que toca música techno, num volume ensurdecedor. Onde Ecstasy corre solto. Suzanne freqüentava esta casa. Ela era muito sensível a remédios. Com, uma pequena dose de Ecstasy, manifestou uma sede imensa que não passava nem com toda água do mundo. Todos sabiam que esse era um dos efeitos terríveis deste estimulante. Suzanne, que já havia tomado uns dez copos de água mineral, vendidos a preço de ouro - evidente que os donos da casa sabiam muito bem como arrancar dinheiro de seus freqüentadores e seus efeitos colaterais. A temperatura de Suzanne não baixava dos quase 40º graus de hipertermia - os seguranças da casa conheciam bem estes fenômenos e controlavam as crises - pânico geral. Johnny a levou a um Pronto Socorro. Antes de Suzanne perder a consciência, dançava a mil com Johnny, que, ao que parece, se afeiçoou a ela. Ao menos pelo seu visual. Suzanne era bonita. Atendia aos padrões de beleza de então. Magra, acima de tudo, alta, morena, olhos verdes, cintura fina e quadris largos, sem ser culote.
*** Suzanne era tudo que Johnny podia esperar de uma companheira. Johnny era mercadoria de uma fábrica de narcisismo ISO 9000. Com os pais separados, desde os seus três anos de idade. Sua mãe recebera uma gorda herança do avô de Johnny, e procurava atender-lhe todas as vontades do filho-único sem pai. Este pai, por sua vez, um vitorioso
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 148
nas finanças, dava tudo à sua atual família, e, especialmente, às suas duas filhas, e não hesitava em presentear Johnny em todos os seus desejos. Johnny, embora essencialmente bom e generoso, foi condicionado a ser um mimado, em que desejo e satisfação de desejo aconteciam simultaneamente.
*** Suzanne encontrou-se com seu namorado em uma churrascaria em Copacabana. Jantaram fartamente. Ambos eram bons garfos. E, sem deixar de manterem suas formas de academia. Ela criou coragem. — John, afeiçoei-me a um filhote de cachorro. Ele está em casa de meus pais, que já estão bem nutridos de cães. — E, daí? — Bem, eu não queria me afastar dele até que estivesse mais crescido, e doá-lo, ou deixar por conta de algum veterinário. — Sei. — Johnny, você poderia ficar com ele por uns dois meses? A Maria cuida deles. É só dar a ração. Nada mais. Deixe-o trancado na sua área de serviço. (Claro, não era só isso que Suzanne pretendia.) Johnny, que estava realmente interessado em Suzanne, concordou de imediato. Tudo resolvido. Veludo crescia, enquanto isso via-se o quê fazer.
*** A relação entre Johnny e Suzanne sempre transitou por altos e baixíssimos. Um dia, acabaram. E pronto. Todos os sonhos construídos juntos, na energética adolescência, ruíram. O rompimento era previsto. E agora: encontramos Johnny em seu apartamento luxuoso, uma funcionária doméstica, que a mãe indicou, e lhe fazia de tudo, e, um cão, que apesar de não lhe dar trabalho algum, lembrava-lhe a namorada perdida. Johnny, seu apartamento, seu celular, som 5.1, vídeos, funcionária e Veludo.
*** Apesar de Veludo não fazer nenhum ruído, de ser alimentado, às vezes dia sim dia não, de não ter seu espaço limpo, é fácil imaginar que no seu grau de consciência canina, tivesse a sensação que pior seria estar nas ruas. Brigas com outros cães, comida sempre incerta, serviço da Prefeitura a caçá-los vivos ou mortos. Ainda assim, era melhor estar ali naquele cantinho da área de serviço, onde Maria lhe cuidava, quando vinha.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 149
*** Johnny chegou à conclusão que dependia mais de Suzanne o quanto pensava. Pela sua história de vida: carências de mãe, sempre desesperada com as ações do marido; de pai, com a cabeça longe daquele ambiente familiar. Johnny teve seu desenvolvimento repleto de vazios. Suzanne era uma jovem que lhe compreendia e dava um suporte que ele nunca se deu conta do quanto lhe era importante. Aí surgiu aquela danada ambivalência onde se ama e se odeia ao mesmo tempo. Ele amava Suzanne, e a odiava por lhe ser dependente. Ótima brecha para elaborar um bode expiatório.
*** Veludo serviu sob medida a esse fim. Johnny começou a odiar o pobre cão, que nada tinha a ver com sua história. Ficava irritado por Maria ter de lhe cuidar. E quando Maria folgava, ficava igualmente irritado pela sua simples presença. Como Johnny poderia se deixar transtornar por um cachorro? Ele sempre teve tudo o que quis. Em outros termos, Veludo era a presença constante da ausência insuportável de Suzanne.
*** Johnny passou a dormir mal. Demorava a conciliar o sono. Enquanto isso a cabeça ia funcionando. — Preciso me ver livre desse maldito cão. Era o alvo que estava mais à mão. Maquinou, maquinou… Vou deixá-lo na Zona Norte. Ele não terá como atravessar o Túnel Rebouças. Certa manhã – Johnny não trabalhava – pôs uma corrente em Veludo. Levou-o até sua Cherokee, prendeu-o nela. Rumou para além do Maracanã. Enxotou-o a pontapés para fora do automóvel. E voltou. Estava livre daquele símbolo de sofrimento.
*** Três ou quatro dias depois, Johnny, que morava no térreo próximo à entrada de banhistas, ouve um roçar de unhas na porta de serviço de seu apartamento. Era Veludo feliz da vida de ter reencontrado seu dono e senhor. Fez-lhe a maior festa.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 150
Johnny reconheceu essa reação do animal, entretanto suas limitações emocionais não lhe permitiram ir além.
*** Johnny maquinou, maquinou… Enquanto maquinava, não pensava na ausência de Suzanne. Quando Johnny fez dezoito anos ganhou um pequeno barco com motor de popa Johnson. Aos vinte e um, o carro Honda esporte e uma corrente de ouro com cruz que passou a levar no pescoço. De repente, brota-lhe a idéia salvadora. — Coloco o cachorro em meu barco, vou para bem longe da costa, lanço-o ao mar.
*** Domingo, colocou a corrente em Veludo, que ficou excitadíssimo em passear com seu dono. Johnny o levou para o barco. Amarrou-o num canto, deu partida em seu motor. Pensou em algum lugar especial para jogar Veludo fora. Talvez na direção do Arpoador haja um choque de correntezas. Navegou por cerca de uma hora mar a dentro. Chegado ao ponto, diz-se: é aqui. Aproximou-se de Veludo. Notou que o cão estava diferente, em uma posição, misto de defesa e de tristeza. Johnny não ligou. Agarrou o cão, desamarrou-o e o lançou ao mar, em uma manobra que quase não caiu também na água.
*** Imediatamente, deu velocidade máxima em seu Johnson. Não olhou para trás. Em dado instante, no caminho de volta, se deu conta que havia deixado seu cordão de ouro sair-lhe do pescoço e cair ao mar. Ficou furioso. — Aquele cão ordinário. Além de me dar este trabalhão todo, ainda me fez perder minha corrente que ganhei de meu pai.
*** Os dias passavam. Um, dois, três… Johnny estava aliviado - claro havia se livrado de seu bode expiatório -. Curtia seu som em seu apartamento. Em dado momento, ouviu um ruído estranho na porta. Um raspar metálico. Algo indefinido.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 151
Pelo olho mágico, nada viu. Criou coragem, abriu a porta. Um cão, encharcado de água e óleo, ofegante, os olhos apagados para o infinito, trazia em sua boca, com baba sanguinolenta, a corrente de ouro de Johnny. Johnny não prestou atenção em Veludo. Só viu a cruz. Levou-a correndo ao lavabo para lavá-la. Estava perfeita. Vestiu-a.
*** Johnny se lembra do cão, volta para a porta. Lá estava Veludo, que não havia ultrapassado a soleira de entrada. Estava morto.
*** Hoje, passados os anos, Suzy e Johnny têm dois filhos adolescentes e três cães pastores, que ficam a correr pelo quintal, em torno da casa. Mas, nada basta para aliviar o peso que Johnny traz em sua vida.
***
*
Adalberto Tripicchio é filósofo e neuro-psiquiatra. E-mail: <tripicch@uol.com.br>.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 152
A carta ADALBERTO TRIPICCHIO*
M
ônica releu surpresa e assustada, a carta que recebera alguns minutos antes: — “Minha jovem senhora Há muito que sei de suas relações ilícitas com Ricardo Sales. Vi-a certa vez a entrar na casa de uma travessa da Av. Dr. Arnaldo, para os lados do Pacaembu. Informei-me acerca do morador e tudo descobri. Venho sufocando minha revolta por muitos motivos: ora, penso na dor que seu marido padeceria se tudo soubesse, ora no gênio violento que ele possui e na tragédia que surgiria, ora em sua filha Elisa, a Lili. E, em atenção exclusivamente a ele, resolvi calar-me. Entretanto, não posso mais suportar a farsa. Esse segredo terrível me oprime angustiosamente. O remorso, a cumplicidade do meu silêncio, tirou-me a paz de espírito. Achei agora a solução. Ao aproveitar os momentos de ausência de Leopoldo envio-lhe esta carta. Proponho-lhe que rompa, imediatamente, com Ricardo Sales, ou contarei tudo a Leopoldo, seu marido.” “X”
*** No papel azul, as letras datilografadas dançavam. Uma sensação de inconsciência: de perda de contato vital com a realidade a invadia. A vertigem giratória cada vez mais intensa. O desmaio era iminente. — D. Mônica! D. Mônica! A voz rouca da cozinheira tirou-lhe daquele estado crepuscular, restituindo-lhe a realidade dos fatos. Num segundo, recuperou a homeostase psíquica. Levantou-se rápida, ajeitou o cabelo, e naquele andar sensual e rítmico, que tantos ensaios lhe custara, dirigiu-se para a cozinha. Atendeu Madalena e voltou para o quarto. Já no domínio de todas suas emoções e o pensar lhe veio.
Então, alguém sabia. Mas quem? Como pudera descobrir? Durante estes dois anos tomara todas as precauções possíveis. Só encontrava Ricardo três vezes por semana, após as visitas que fazia à filha, aluna interna do Colégio Sion, no bairro de Higienópolis. Tomava sempre táxis diferentes para ir até à casa do amante. Tinha o cuidado de voltar de automóvel até as proximidades do Colégio, para só então, dirigir-se para casa. É verdade, que durante as férias de Elisa, tivera de diminuir os encontros amorosos, pois não poderia fazer compras todos os dias. Mas, nessa época tomara ainda mais cuidado. Entretanto, alguém sabia! Mas como, como pudera descobrir? Quem seria? Imaginou, como em um mapa mental, desfilar diante dos olhos, os amigos mais chegados. Seria Isabel? Isabel, desde os tempos de escola amava Leopoldo. Escondera de todos essa paixão, de todos, menos dela, Mônica, que sempre compreendera a ternura com que a amiga olhava para o rosto luminoso de Leopoldo. Mas, se fosse Isabel? Seria seu amor tão grande que permitisse o sacrifício de se calar? Ou desejaria, incendiada pelo despeito, ver morta a rival que lhe roubara o amado. Sim, poderia ser Isabel. Mas, e Carlos? O cunhado nunca aprovara o casamento. Lembrava-se perfeitamente de quando ele lhe dissera: - “Você é muito bonita Mônica, para fazer Léo feliz. Ele precisa de uma mulher mais feia e menos vaidosa, de uma mulher que possa viver sem o aplauso das mulheres e a cobiça dos homens”. Sim, Carlos jamais acreditara na felicidade daquele casamento. Entretanto, sem o saber, contribuíra, com a sua desconfiança para a felicidade do irmão, porque ela, Mônica, sim, a bela e inteligente Mônica, mantivera-se durante longos anos fiel a Leopoldo, exclusivamente porque Carlos ferira seu orgulho duvidando que ela pudesse fazer feliz o irmão. E não fora por orgulho que recusara as propostas de Edmundo. Sim, por orgulho, só por orgulho, pois certamente nunca amara Leopoldo. Não fosse a derrocada financeira de seu pai, o seu suicídio inesperado, e não precisaria nunca ter pensado em dinheiro. Leopoldo chegara no momento exato. Ainda, nem o cadáver do pai estivesse frio e rígido, e ela recebera a proposta. Enxuga as lágrimas, compusera um sorriso triste e agradecido, tudo estava pronto. Em verdade, não só não amara como muitas vezes odiara o marido. Não lhe podia suportar o ar de superioridade. Para ele, Mônica, sim, a bela e inteligente Mônica, era apenas uma jovem desamparada que precisava de proteção. E ele, o homem forte e protetor, devia agasalhá-Ia. Como Leopoldo era ridículo, crendo-se tão amado. Julgava-se insubstituível em seu coração, onde jamais estivera presente. É verdade, que com o passar dos anos já podia suportá-lo sem asco. Além disso, o nascimento de Elisa, a Lili, aproximara-se um pouco mais dele. Afinal, a menina era carne e sangue dos dois. Mas, assim mesmo, nunca o pudera amar. E lhe fora fiel tanto tempo. Durante anos intermináveis, quantas cobiças despertara. Tudo em vão. Ela continuava em juras falsas, ao assumir atitudes mentidas para que o marido pensasse que ela o amava, mas jamais o traíra. Edmundo fora o mais audaz dos admiradores. Debaixo do nariz de Leopoldo dirigira-lhe olhares provocantes. Três vezes chegara a falar-lhe. A agonia durara até aquele negócio duvidoso que Edmundo fizera, e Leopoldo desaprovara. Discutiram. Edmundo deixou de freqüentar a casa do amigo. Ainda assim, certa vez, quando a encontrara no Shopping Iguatemi, Edmundo voltara a insistir. Inutilmente. Mantivera-se fiel a Leopoldo e haveria de se manter até… até que encontrou Ricardo. Sempre com aquele sorriso cínico, aquele brilho de volúpia nos olhos, as unhas cuidadosamente polidas. E como lhe ficava bem a gola rolê, qual um suíço esquiando nos Alpes. E os sapatos brancos. Era, um amor! Ricardo sim, é que era um verdadeiro homem.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 154
Vivia para o prazer, para a paixão. Nada de orçamentos, de lutas políticas, de atitudes graves. Como Leopoldo sombreava diante dele. Entretanto, era certo que Leopoldo possuía boas qualidades, que Ricardo não possuía; era honesto, trabalhador e além disso, mais gentil. Mas Ricardo, embora nada disso o fosse, era um verdadeiro homem, o homem com quem sempre sonhara: libidinoso, másculo, ardente. Poderia parecer estranho, mas era por isso que o amava - por ser cínico, debochado e lascivo. Afinal, as mulheres amam por tantos motivos… Há dois anos que eram amantes e nunca percebera nele a menor frieza ou desinteresse. Como o desejava! Desde aquele seu primeiro gracejo – “Olá, pecado ambulante!” – ela o adorava. Desde aquele 14 de julho até hoje, vivera só para ele. Catorze de Julho! O destino tem coincidências interessantes. Parecia ver Leopoldo naquela noite, falando-lhe após um escorregão - “Caramba, querida, hoje é o dia das quedas! Caiu a Bastilha e caí eu. Quanta gente não deve ter caído hoje!” - Ele, o espirituoso Leopoldo, se soubesse que ela, também caíra naquela tarde. Ah! A vida era mesmo engraçada! E agora, tudo ruiria, porque alguém sabia, alguém! Tornou a olhar a carta. Teria sido homem ou mulher? Por vezes a carta era terna, por vezes ríspida. Certamente era alguém íntimo da casa. A familiaridade com que se referia ao marido - tratando-o por Leopoldo - permitia concluir isso. Era alguém, que, indubitavelmente, sabia quando ela estava só em casa, pois o mensageiro viera trazer-lhe a carta, duas horas depois que Leopoldo saíra. Felizmente ela própria recebera o mensageiro. E era alguém cuja caligrafia conhecia, pois a carta era datilografada. Seria homem? Seria mulher? Porque viera a carta em papel azul com flores vermelhas no alto das páginas? O papel era caracteristicamente feminino, mas teria “X” querido apenas despistar, ou se traíra involuntariamente, sendo de fato uma mulher? A carta extravasava ternura por Leopoldo. Mas todos, todos, menos ela, o amavam. Carlos, Isabel, o próprio Edmundo, Luísa… É mesmo, e Luísa? Seria ela? Luísa fora a verdadeira mãe de Leopoldo. Desde a morte de D. Georgina, assumira a direção da casa e fora de uma ternura verdadeiramente maternal para com Leopoldo e Carlos, seus dois irmãos menores. Suspeitava Luísa de alguma coisa? Provavelmente não; não sabia dissimular indignação. Ou saberia? Como podia pensar que não, quando ela própria fingia algo mais difícil, há mais tempo. Ah! Agora se lembrava. Certa vez, Luísa lhe falara na melancolia que o Cemitério do Araçá derramava por toda a redondeza que o cercava. E o cemitério ficava tão perto da casa de Ricardo… Que teria Luísa ido fazer ali? Era indubitável; Luísa poderia ter escrito a carta. Talvez, já a observasse desde os tempos de Edmundo, pois lhe confessara um dia, que achava o amigo do irmão, frio, calculista e suspeito. E Edmundo? Teria ele escrito a carta? Não sufocara seu despeito! Ou estimava Leopoldo de fato? Quem o poderia saber? E os outros, Josefina e Odete? E o Dr. Sousa Lima? Teria algum deles escrito a carta? Como saber? Felizmente amanhã encontraria Ricardo para saber, então, o que fazer. Uma dor de cabeça terrível a oprimia, uma fadiga imensa lhe entorpecia os braços e as pernas, um sentimento de ansiedade invadia-lhe o coração. Começava a cochilar, quando ouviu estridente, a buzina do carro de Leopoldo que chegava. Era o sinal com que anunciava a chegada todos os dias, aquele toque de buzina inconfundível e estridente. Mônica levantou-se rapidamente. Abriu a gaveta de roupas íntimas, colocou no meio delas a carta, desceu as escadas correndo, e no instante mesmo em que Leopoldo abriu a porta, atirou-se ao seu pescoço.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 155
Leopoldo deslizou-se com Mônica para uma poltrona da sala de visitas. Mônica tirou-lhe os sapatos e calçou-lhe os chinelos. — Como passou queridinho? Trabalhou muito? — Nem calcula Mônica. Hoje a Presidência esteve repleta durante todo o dia. — Quer dizer que não sentiu saudades da sua mulherzinha? — Muitas, querida. Não deixei de pensar um momento em você. Lembrei-me até que amanhã é dia de visita à Elisa e comprei este livro para que você lhe presenteie, coitadinha, sempre tão só. Se você concordasse gostaria de tirá-Ia do Colégio no fim deste ano. Sinto-lhe falta. E lembre-se que só a internei porque você achou melhor fazer assim. — Como você é bom, Leopoldo. Mas, olhe que já estou com ciúmes da Elisa. Antigamente sua preocupação era sua mulherzinha; hoje, é só Lili prá cá, Lili prá lá. — Não seja injusta, Mônica. Também trouxe um presente para você. Veja se gosta. — Como é lindo, querido. Você é mesmo um anjo. Mas, diga-me aqui um segredo, que mulher ajudou você a escolher este broche? — Nenhuma, meu amor. Você outro dia, falou-me que queria tanto um broche para usar com seu vestido verde e eu resolvi satisfazê-Ia. E as coisas, aqui em casa, como correram? — Bem… — Nenhuma visita? Nada? — Nada… E você, que novidade me conta? — Algumas, querida. Tenho de ir ao Rio de Janeiro em negócios da Empresa. Embarco daqui a alguns dias. — Olha, querido, sabe de uma coisa? — O que? — Já estou intrigada. Por que você vai tanto ao Rio? Será que não tem nenhuma amante por lá? Os homens, os homens, quem os conhece?
*** Ora, Mônica, deixe de bobagens. Você sabe o quanto eu a amo e que importância dou à felicidade no casamento. Acho que não há pena que possa punir o adultério. Não sei o que faria se não houvesse casado com você. A perspectiva de que minha mulher me pudesse trair, era algo que sempre me horrorizava. Ah! Haveria de retalhar-Ihe o corpo. Felizmente, querida, encontrei você e posso ficar tranqüilo. Parece até que Deus se compadeceu de meus receios. Bem, mas deixemos de coisas fúnebres. Tenho algo para contar. Hoje o Edmundo procurou-me duas vezes na Empresa. Eu saíra para comprar os presentes, e ele não me encontrou. Que será que ele quer? — Não sei, querido. Certamente, pedir perdão. — Bem, o Edmundo não é mau rapaz. Desviou-se um pouco naquele caso, mas é dono de um grande coração, cheio de escrúpulos e acima de tudo, um amigo sincero, seria até capaz de dar a camisa do corpo para um amigo, sem levar nada em troca. — É, você deve ter razão. — Ah! Outra novidade. Daqui a pouco, Luísa e Carlos estarão aqui. Virão jantar conosco.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 156
— O quê? — Por que você se espanta? — O que me espanta é a sua calma. Preciso ir já para a cozinha ajudar a pobre da Madalena. Mônica levantou-se e saiu. Leopoldo abriu o jornal e começou a ler. Os tipos garrafais alardeavam. “Assassinou a mulher e o amante”. Virou a página. No alto, outro cabeçalho gritante: “Morta com cinco facadas”. Fechou o jornal, irritado. Que diabo! Só violência e adultérios. Um mundo de psicopatas. O jantar transcorreu frio. Carlos e Luísa estavam reservados e taciturnos. A tristeza contagiou Mônica. Um receio enorme de que os dois soubessem foi-lhe invadindo. Só Leopoldo estava alegre. Ria como uma criança. Troçava do aborrecimento dos outros. — Que diabo! Será que o jantar está tão ruim assim, Carlos? — Não Léo, não é o jantar. — Que é então? — Bem, é um segredo… Mônica sentiu-se empalidecer. Levantou os olhos para Carlos. Carlos estava com um ar absorto estranho. Um brilho de aço luzia em seus olhos cinzentos. — Um segredo? Que segredo, ein! Luísa? — Não é nada, Léo. É um negócio que Carlos fez e em que não foi bem sucedido. Perdemos um bom dinheiro. Bem, mas deixemos de negócios. Mônica respirou aliviada. Resolveu intervir na conversa. — Tem se divertido muito, Luísa? — Um pouco, Mônica. Andei visitando uma amigas. Fui até o Parque Villa-Lobos. É um belo lugar. Estive também no MASP. E anteontem visitei a Lígia. — Lígia, que Lígia? — É verdade, você não a conhece… — É uma velha amiga de Luísa, que mora lá pelos lados do Cemitério do Araçá - esclareceu Leopoldo. De novo as suspeitas voltaram ao coração de Mônica. Que diabo! Quantas coincidências! Por que Luísa e Carlos estavam tristes? Teriam mesmo feito algum negócio mal sucedido? Ou tudo era mentira? Estariam em conluio contra ela? E por que Luísa fora logo naquela época visitar a maldita Lígia? E Edmundo? Que desejaria com Leopoldo? Deus, quanta confusão? Acabaria ficando louca entre tantas incertezas. Luísa era psicóloga pela PUC, e nas aulas de Psicopatologia já ouvira falar no Delírio Sensitivo-Paranóide de Auto-Referência, onde tudo era suspeito e lhe dizia respeito, estava perdendo a crítica do razoável e do intencionalmente dito com lucidez. O jantar animou-se um pouco mais. A conversa tomou vários rumos. Falaram dos escândalos do Governo, da vitória de Obama, da roubalheira das Empreiteiras, dos pedófilos da Igreja. Cerca de meia-noite, Carlos e Luísa retiraram-se e os dois foram dormir.
*** Mônica ainda dormia, quando Leopoldo saíra. Às dez horas, Madalena acordoua. Levantou-se preguiçosamente. Mirou-se no espelho. Achou-se bela e bem formada.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 157
Duas horas depois, já quase pronta, desceu para almoçar. Leopoldo almoçara na cidade mesmo. Mônica fez as refeições sozinha. Ardia de impaciência por ir ter com Ricardo. Queria mostrar-lhe a carta, pedir-lhe conselhos, fazer-lhe carinhos, beijá-Io, abraçá-lo, uma infinidade de coisas. — Madalena! Madalena! — Que há, D. Mônica? — Olhe Madalena, hoje é dia de visita a Lili. Vou sair e volto para jantar mais ou menos às 19 horas. — Está bem, patroa. Mônica saiu. Tomou um táxi e dirigiu-se para o Colégio Sion. Permaneceu cerca de hora e meia com a filha. Perto das 15:30 horas estava chegando à casa de Ricardo.
*** Abriu a porta da rua. Entrou de mansinho. Foi até o quarto do amante. Ricardo dormia ao sono solto. Há anos, desde que se amasiara com a viúva Seixas, só fazia isso: dormir. A viúva, morta há alguns anos, deixara-lhe toda sua fortuna, que ele dissipava tranqüilamente dormindo. Mônica aproximou-se pé-ante-pé e fez-lhe cócegas no bigode. Ricardo mexeu-se. Mônica enfiou seu dedo mínimo na orelha esquerda do amante. Ricardo acordou. Piscou algumas vezes e puxou Mônica para os seus braços. Beijou-a prolongadamente. Mônica debateu-se, conseguindo ficar livre. — Ricardo, você está amassando meu vestido. E depois, como vou explicar em casa? Além disso, aconteceu uma coisa horrível: recebi uma carta anônima. Ricardo lançou-lhe um olhar voluptuoso. Puxou-a novamente. Novamente Mônica soltou-se. — Ricardo, já lhe disse que não estou para brincadeiras. Além disso, a carta que recebi… Mônica estava à beira de uma crise de nervos. A tranqüilidade do amante aborreciaa. Ricardo perturbou-se, ergueu-se na cama. — Bem, que diz a carta? — Alguém sabe de tudo que há entre nós. Ricardo saltou da cama. Seu rosto refletia um espanto imenso. A máscara do cinismo caiu-lhe da face. Abriram-se os olhos, franziu o cenho. — Onde está a carta? Mônica entregou-a. Ricardo leu avidamente. — Quando você recebeu isto? — Ontem à tarde, quando Leopoldo saiu. — E quem a entregou? — Foi um menino, um mensageiro de cabelos loiros e olhos negros, bastante bonitinho. — Mônica, deixe de pilhérias. O caso é sério. Nossas vidas correm perigo e você ainda graceja. Mônica olhou-o com raiva. Ele então se preocupava com sua vida e não com seu amor. Que miserável!
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 158
— Mônica, você suspeita de alguém? Mônica disse-Ihe tudo que pensara. Descreveu minuciosamente o jantar em que Luísa e Carlos tomaram parte. Ricardo estava visivelmente horrorizado. Pôs-se a andar inquieto de um lado para outro. Fumava nervosamente. Afinal falou: — Mônica, que faremos? Meu amor, o que faremos? Mônica olhou-o irritada. Então, era ele quem perguntava o que deveriam fazer? Ele que deveria aconselhá-Ia, guiá-Ia, enfrentar sem nenhum temor o perigo… Uma idéia louca passou-lhe pelo cérebro. — Fujamos, Ricardo! Ricardo olhou-a demoradamente. Acalmara-se bastante. Mônica já antevia seu sorriso cheio de cinismo. Sim, pensou ela, Ricardo já saíra da surpresa do choque, já voltava a ser o mesmo Ricardo de sempre. É claro, ele não poderia mudar. Ricardo falou enfim. Sua voz grave e pausada caía como marteladas no ouvido de Mônica. — Vamos esperar um pouco mais, querida. Não posso fugir agora. Investi em um empreendimento que deverá dar-me um bom lucro. Esperemos um pouco. Mônica sorriu tristemente. Negócios, negócios. Até Ricardo se preocupava agora com eles? Deu alguns passos. Sentou-se na chaise-Iongue. Cruzou as pernas reclinou os seios provocantemente cerrou os olhos. — Que belos seios você tem, Mônica! Mônica sorriu. Gostava que Ricardo elogiasse suas mamas, que havia sido sempre seu maior enlevo. Quando Elisa nasceu custara muito a convencer Leopoldo que arranjasse uma ama de leite para o bebe. Tudo, tudo fazia por elas. Ricardo já o elogiara milhares de vezes. Mas como era bom ouvi-Io elogiar mais uma vez. Quando Mônica saiu, já escurecera. Tomou o carro e às 19:45h estava em casa.
*** A noite dessa terça-feira decorreu calma. Também a quarta acabou sem novidades. No dia seguinte, Leopoldo saiu, como de costume, bem cedo. Mônica levantou-se tarde. Almoçou, começou a vestir-se para ir visitar Elisa e depois ir ter com Ricardo. Estava inquieta e nervosa. Pensou em Ricardo. Como o amava! Verdade que ele a entristecera, não reagindo como ela esperava. Mas depois, os beijos, os carinhos, tudo contribuíra para recolocar o amante no pedestal. A campainha soou. Mônica foi atender. Abriu a porta. Um rapazinho sardento cumprimentou-a alegremente. — Carta para D. Mônica de Andrade. Mônica viu estendido nas mãos do menino, o retângulo de papel azul. Um brilho de satisfação encheu-lhe os olhos. Poderia descobrir agora, o autor das missivas! — Menino, quem lhe entregou esta carta? — Foi um mocinho moreno que eu não conheço. Mônica recuou, despeitada e abatida. Fechou a porta. Nem tinha mais coragem para abrir a carta. Mil pensamentos negros entorpeciam-lhe o raciocínio. Voltou a sen-
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 159
tir dor de cabeça. Afinal abriu o envelope, desdobrou o papel azul encimado pelas flores vermelhas, e leu em voz baixa: “Minha jovem senhora Como previra não receou minha ameaça. A pessoa a quem encarreguei de vigiá-la, descreveu-me todos os seus passos de terça-feira, de sua casa até à, de Ricardo. Aviso-a pela última vez, que se tornar a freqüentar a casa de seu amante, contarei imediatamente tudo a Leopoldo.” “X”
*** Mônica fechou a carta. Colocou-a no seio e preparou-se para sair. Com que então alguém a seguira. Ah! Bem se lembrava de ter visto dois carros verdes muito parecidos. Aquela observação, sem importância, pareceu-lhe então de suma gravidade. Era isso sim, no carro verde ia o seu vigia. Não eram dois os carros, mas apenas um; antes o vira perto de sua casa e mais tarde estacionado defronte à casa de Ricardo, do outro lado da rua. Como fora tola! Não eram dois os carros, mas um apenas. Ah! Mas descobriria seu perseguidor. Dirigiu-se a pé para o centro da cidade. Ao passar, os homens olhavam-na atrevidamente, arriscando propostas. Tomou um táxi. Visitou a filha e foi para a casa de Ricardo. Havia decidido em fugir com o amante. EIe não se recusaria a isto, diante daquela segunda carta. Na Av. Dr. Arnaldo desceu. Um carro passou logo após, lentamente. “Lá vai meu perseguidor”, pensou Mônica. Abriu a porta e dessa vez, Ricardo já a esperava. Mônica aninhou-se em seus braços. Mudamente, estendeu-Ihe a carta. Ricardo leu-a avidamente. Como da primeira vez, estava espantado e nervoso. — Mônica, precisamos evitar que seu marido saiba tudo. Não convém que nos arrisquemos tanto. Não nos vejamos por algum tempo. Mônica olhou-o surpresa. Depois encheu-se de raiva. — Ricardo, o que você está dizendo? Sem você não posso viver. Será possível que você tem medo de Leopoldo? — Querida, não confunda prudência com medo. Nestes dois dias pensei longamente sobre o caso e cheguei a essa resolução. É melhor para nós dois. Seu marido é violento, Mônica, e você é ainda muito moça. Esperemos alguns meses. Vou por algum tempo ao Rio Grande do Sul. Sigo amanhã, pois já concluí aquele negócio de que lhe falei. Quando voltar, eu a procuro. — Ricardo, você está com medo? — Está bem, se você acha que estou, estou. Mônica ficara dolorosamente decepcionada. Naquele instante Ricardo era para ela o mais ínfimo dos homens, menor ainda que o próprio Leopoldo. Arriscou a última cartada. — Fujamos, Ricardo, fujamos, meu amor! Ricardo olhou-a, com olhar oblíquo e dissimulado. Sorriu, depois com certo cinismo: — Impossível, Mônica, impossível. Mônica suplicou.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 160
— Mas, Ricardo devo enfrentar sozinha o risco? E se Leopoldo descobrir, que farei? — Não sei, Mônica. Depois daquela primeira carta, você não devia ter vindo mais aqui! Mônica olhou-o com os olhos cheios de lágrimas. Um desespero imenso tomava-a por inteira. Estava exasperada. Então, por aquele covarde, arriscara a vida e traíra o marido? Afinal não se conteve e explodiu. — Ricardo, você é um ser miserável covarde. Arrependo-me de ter pensado que você era meu ideal. Vou-me embora e nunca mais hei de vê-Io.
*** No caminho de volta para casa dá-se conta que sentia o mundo inteiro a observá-la. A humanidade tornara-se a figura e ela o fundo a refletir o julgamento de todos: esposa infiel, sem caráter, leviana, uma verdadeira meretriz. Bastava alguém do carro ao lado cruzar-lhe um olhar para sentir-se condenada à expiação eterna. Mônica se defendia dizendo-se: “Mas, tudo que fiz foi por amor.” “Estava disposta a me separar para começar vida nova com o homem dos meus sonhos.” Sem mais, entrou em um supermercado. Estacionou o carro. Andando sempre de cabeça baixa, óculos escuros, para não ler sua sentença de culpada no olhar de todos. Porém, também escuros o suficiente para olhar diretamente a luz de Javé, na sarsa ardente, a amaldiçoá-la com dez pragas. Dirigiu-se à seção onde sabia que havia raticida “chumbinho”. Comprou três frascos. Em casa, na copa, munida de uma garrafa de Coca-Cola gelada, deglutiu a mercadoria letal. Era o fim de uma existência malograda.
*** Quando, momentos antes, Mônica havia saído de sua casa, Ricardo sorrira. Estava livre enfim! Poderia agora ir ter com Liliane lá no Rio Grande do Sul. Liliane era tão sedutora, tão provocante! Iria escrever-lhe agora mesmo. Abriu a gaveta da secretária, tomou da caneta e começou a escrever. De repente parou, sorriu um sorrisozinho insolente e pervertido que lhe bailou nos lábios, com seu olhar machadiano, quando pensou que jamais pudera compreender o por quê preferira sempre aquele tipo de papel de carta - azul com rosas vermelhas…
***
*
Adalberto Tripicchio é filósofo e neuro-psiquiatra. E-mail: <tripicch@uol.com.br>.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 161
Arte Moderna ADALBERTO TRIPICCHIO*
Ele era Pedro. Ela era Zilfa. Eram casados. Eram pintores. Eram modernos.
A
mesma afinidade pela pintura moderna os ligara. Conheceram-se numa exposição de arte moderna. Casaram-se. E a casa deles, antes de ser um lar, era uma oficina de trabalho, uma exposição de pinturas surrealistas, cubistas etc. Quase não se viam paredes. Era só quadros. Nus, auto-retratos, naturezasmortas, paisagens, detalhes, mas, sobretudo, telas de sentido problemático, subjetivista, simbólico. Uma delas era do tamanho de uma grande janela. Tinha o fundo verde carregado e duas linhas se cruzando: uma vertical e outra horizontal. “Vida e Morte” era o nome. Foi Pedro quem a pintou. Esteve em exposição e vários críticos de peso falaram dela. Houve até polêmicas em torno da obra. Foi muito discutida. Os críticos dividiramse em dois grupos: os que aceitavam e consagravam “Vida e Morte” e os que a combatiam. Estes diziam que “Vida e Morte” não passava de alto charIatanismo e aqueles afirmavam que “Vida e Morte” era uma epopéia pictórica. Houve um entendido de arte que disse: “’Vida e Morte’ é a Pedra de Roseta da pintura moderna; é a chave da nova estética contemporânea”. Uns combatiam. Outros consagravam. E a tela ali está; orgulhosa de sua história. Há também um retrato de Pedro, pintado pela mulher. Olhos enormes e desiguais. Rosto triangular. Boca cônica. Testa sumida e a cabeça repuxada para cima - “símbolo de elevação intelectual” como explicou Zilfa. As cores eram fortes, cruas, separadas. E Zilfa também tem seu retrato, pintado pelo marido. É de corpo inteiro e no tamanho natural. Levou uma hora para fazê-lo. Zilfa aparece esguia, reta, uniforme como uma coluna, fazendo a cabeça as vezes de capitel. Cabeça grande como uma bola de praia. Os olhos quadrados, fechados. Boca grande, semi-aberta, mostrando dentes agudos, vermelhos, separados. No canto esquerdo da tela, um pequeno avião envolto em nuvens. É um símbolo. Símbolo da elevação de espírito. Numa das paredes da sala de jantar, um enorme quadro, tomando-a por extenso. Foi feito de colaboração pelo casal. Trabalharam nele durante quase dois meses. As cores são variadíssimas e à primeira vista nada se percebe. É tudo confusão. Mas, visto parte por parte, figura por figura, linha por linha, então ele se revela em toda sua plenitude. O fundo todo é amarelo vivo. Bem no centro, uma árvore
preta e azul, de folhas largas e grossas. À direita, no alto, quatro olhos enormes lançam chispas verdes, brancas e vermelhas. À esquerda, também no alto, um par de dentaduras postiças emitindo notas de música e pequenas lagartixas. Essas as figuras principais. Agora, espalhados por todo o quadro, milhares de objetos esparsos, sem ordem, confundindo-se, remontando-se, alguns de cabeça para baixo. Um relógio de parede. Um copo quebrado. Uma cabeça de cavalo. Uma mesa de perna quebrada. Um balde. Uma bomba de gasolina. Um telefone tocando. Uma garrafa tombada. Um cachorro azul. Um par de orelhas verdes. Um canhão cor-de-rosa. Um ramo de flores pretas e marrons. Um pedaço de corrente. Um violino derretendo-se. Duas mariposas com cabeça de homem. Uma taça de champanha transbordando cobras. Uma cara de máscara tendo no buraco dos olhos duas formigas roxas. Um tripé formado por muletas sustenta um presunto. Uma panela cheia de relógios-pulseiras e ossos de galinha. Um pé de porco pendurado numa orquídea. Uma âncora enorme serve de cabide a um “soutien” de mulher. Uma seringa de injeção cravada numa laranja. Uma cinta de mulher recheada com nabos, cenouras e berinjelas. E milhares de outros objetos se cruzam e se confundem, dando idéia de um cardume de peixes alvoroçados. Na moldura, uma placa e na placa um título: “AMOR”. Desde a saleta da entrada até a oficina de trabalho dos dois, tudo é pintura, tudo é arte. Estatuetas. “bibelots”, móveis, cortinas, tapetes, pintura das paredes, tudo, tudo obedece ao mesmo estilo pictórico ultramoderno, avançadíssimo no tempo e arrojado na concepção. Tudo é cubismo. Tudo é surrealismo. Tudo é modernismo. Até o cachorrinho - Júlio - tem feições cubistas. Parece que absorveu a atmosfera ambiente, sintonizando suas formas com o meio. Mimetizou-se. Desde a saleta da entrada até… tudo é arte, mas sobretudo pintura. Os quadros disputam lugares nas paredes, comprimem-se na ânsia de aparecer, de tomar um lugar ao sol. São centenas e centenas deles. E o casal não pára de produzir. Toda semana são dois ou três a mais. De modo que o espaço já está se tornando um verdadeiro problema. Vender não vendem, porque são artistas na verdadeira acepção do termo. Longe deles a idéia de venda. Produzem pelo gosto de produzir, para dar vazão a um sentimento estético, obedecendo unicamente a essa ânsia interior que todos os artistas sentem. Além disso, aqueles quadros são como filhos, são como criaturas vivas, semoventes, que eles criaram, e agora vivem do embevecimento de contemplá-los. Ficaria muito extenso descrever aqui todas essas produções. Que vá as mais interessantes. “A Mão do Homem” é assim: um arco-íris fortemente colorido, mergulha suas extremidades em dois baldes cheios d’água. Perto deste está “Velho Tema”: sobre um tablado está um sapato de homem sobre um de mulher. Atrás, uma asa de anjo. Atrás de tudo, uma buzina de automóveI. Um outro, representa sobre uma superfície cor de terra uma dentadura ao lado da parte terminal de um intestino grosso. Chama-se “Síntese”. Agora, este aqui que ganhou medalha de ouro na última exposição a que Pedro concorreu. Medalha de ouro. Críticas favoráveis, elogios, estudos, reproduções, cópias em todos os jornais, cumprimentos dos colegas, dos amigos, das altas autoridades. Foi um sucesso. Foi um acontecimento. Todos os jornais falaram dele e do autor, trazendo fotografias dos dois e longos artigos de fundo. A cidade inteira foi ver a obra genial. Os entendidos, os curiosos, os amadores de arte, os estetas, os artistas e os invejosos também. Durante todo o tempo que o quadro ficou exposto, a afluência de povo era enorme. Todos queriam ver. Houve até pedido, por parte de um cônsul, de reprodução para um
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 163
museu do estrangeiro. E Pedro concedeu. Houve também altas ofertas em dinheiro. Mas Pedro não vendeu. E como era o quadro? Era assim. A figura de corpo inteiro de um menino de um ano e meio, mais ou menos. Estava de pé olhando para a frente. Olhos grandes, parados, quadrados, roxos, tristes e melancólicos. A cabeça era grande como um aquário, contrastando com o corpo que era do tamanho de um palmo apenas. Uma das pernas era fina, destoando da outra que era excessivamente grossa, lembrando um tronco de bananeira. Um dos braços era curto e o outro comprido até o chão. As maçãs do rosto salientes e os lábios cortados ao meio. E essa figura de criança era colorida de verdes crus, vermelhos berrantes, amarelos, brancos, azuis, roxos, negros, cinzas. No lugar do umbigo um buraco apenas. E o nome do quadro era “Baby”. Conforme Pedro explicou em entrevista pelos jornais, ‘’’Baby’’ era o símbolo das infinitas possibilidades que o artista moderno encontra nesse novo setor da arte, onde é mil vezes mais livre do que na arte clássica. Assim, o modernismo tem um sentido libertador. O artista aparece mais, tendo mesmo oportunidade de fazer figurar sua personalidade nas linhas, nos desenhos, nos coloridos, nos planos. Tomando parte na obra como força viva e evidente. E a deformação? - inquiriu um jornalista. E Pedro respondeu: Aquele que não admite a deformação nas artes modernas é sinal de que ainda está preso ao velho conceito de arte, de beleza. É sinal de que ainda não chegou ao grau de perfeição necessário para entender e, sobretudo sentir uma obra da escola moderna. É sinal de que ainda não se desvencilhou da grilheta clássica. Essa deformação não é gratuita e nem acidental. Tem a sua forte razão de ser, razão essa que ficaria muito extenso expor aqui, pois é matéria para um tratado inteiro. Bem poucos os privilegiados, os capazes de ver, sentir e admirar um trabalho moderno, sem ter aquela irritação do leigo, do não iniciado. E existe uma beleza infinita na pintura moderna. Não a beleza no sentido clássico, mas no sentido novo, atual. Além disso, o que muitos julgam deformações, para o artista são interpretações, são expressões, são modos de exteriorizar sua arte, sua alma, sua força de criação. Isso que o povo chama de deformação, é apenas um dos inúmeros recursos que o artista moderno emprega para obter efeitos. E ninguém pode negar de boa fé que esses efeitos não são surpreendentes e profundamente dramáticos. A deformação que o leigo julga arbitrária e material tem para o artista um sentido subjetivista, abstrato. A pintura moderna é bem a interpretação inédita de um imenso mundo novo. Sim, um mundo novo: o mundo moral, intelectual, anímico. Isso que o povo tacha de deformação, é antes uma maneira de traduzir uma situação, um estado qualquer de alma, um conflito espiritual ou uma circunstância qualquer. Através de séculos e séculos o indivíduo recebeu impressões de beleza sempre no velho sentido clássico. De modo que seu aparelho receptor de emoções está condicionado a esse meio, só aceitando por isso sensações desse tipo. E instintivamente repele tudo que não obedece a esses moldes milenares. Sua somática é o resultado de milhares de gerações e civilizações. E assim, tudo que sai fora das linhas traçadas por essa somática é julgado imoral, aberrante, depravado. Como se nota, as causas da não aceitação dessa nova modalidade de arte tem suas raízes antes na formação individual do que na qualidade da arte moderna em si. E as cores?
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 164
São berrantes, são cruas, são fortes, são primárias, mas isso tudo não é arbitrário. Tem um poderoso motivo de ser. É uma nova interpretação cromática. Além disso, o pintor moderno não se subordina à natureza. É livre. Pinta uma árvore de azul ou um homem de verde, conforme a maneira como esteja sentindo no momento. E, pensando bem, uma árvore não tem de ser necessàriamente verde. Por quê? Porque é natural. Mas a pintura moderna não obedece a natureza. Para o pintor moderno, um homem pode ter a cabeça quadrada e os olhos triangulares, assim como um gato pode não ser um gato e sim um botão de rosa ou uma cadeira-de-balanço. É o surrealismo. É o simbolismo. É o cubismo. Uma revolução radical contra o que estava estabelecido, aceito e não discutido. E como tal, a arte moderna deixa-se levar às vezes por um certo exagero, mesmo porque toda forma de pensamento novo reveste-se de um certo calor extremista. Além disso, ela precisa ser assim, porque a tendência geral é de combater o que é novo e diferente. Mas a arte moderna não é uma revolucionária destruidora, inconsciente, vandálica. Destrói os velhos ídolos, as velhas crenças, mas constrói logo em seguida outros ídolos mais verdadeiros, mais tangíveis, mais humanos. O modernismo em geral surgiu para transformar o mundo, para melhorá-Io, para libertá-Io de todos os cIassicismos, academicismos rígidos, pragmáticos, que impedem o surto espontâneo do pensamento humano, a manifestação do gênio, a irrupção dos autênticos valores, quebrando todas as cadeias, abrindo todas as portas, franqueando todos os tabus de arte. E dia virá em que esse povo refratário a tudo que é moderno reconheça e consagre essa nova concepção de arte, formando com ela solução de continuidade, resolvendo seus problemas por meio dela. Sim essa arte moderna, além do sentido puro, tem o sentido utilitarista. E então surgirá um novo mundo, mais belo, mais humano e, sobretudo, mais inteligente. Será a redenção da Terra por essa arte que ora surge. A escultura falará ao povo, através de sua linguagem nova, pregando teorias até então incompreendidas. E assim a música, a arquitetura e demais artes. A pintura transmitirá ao povo, por meio das cores, das formas, das linhas arrojadas e das subintenções, o verdadeiro e único sentido do belo. O sentido de beleza que existe nessas figuras aparentemente monstruosas como “Baby” é sublime. “Baby” não é belo aos olhos dos leigos, mas é divinamente lindo aos olhos do artista. E por quê? Porque o artista é uma sentinela avançada no tempo. Antecipa-se ao rolar dos séculos. Vê os acontecimentos antes mesmo que a comunidade sequer os pressinta. Por isso, todo artista é um vanguardista e por ver antes dos outros, quase sempre é chamado de visionário, de maluco, de charlatão. Mas é antes de tudo um privilegiado, se se pode chamar privilégio ao ato de receber as pedradas dos fariseus. Sim, a maioria dos leigos em arte moderna é farisaica, não procura compreender e ataca sem direito. Mas o esplendor do modernismo deslumbrará um dia os olhos dessa massa descrente. Assim falou Pedro ao jornalista. E se fosse Zilfa a entrevistada, também falaria da mesma maneira. Pois os dois são modernistas ao grau máximo: na tangente do fanatismo. Apóiam incondicionalmente, irrestritamente, moralmente, materialmente tudo que tenha cunho moderno. Assinam revistas, jornais. Assistem a conferências. Promovem reuniões de arte. Visitam e tomam parte em todas as exposições. Compram quadros, objetos de arte. Ajudam o artista pobre. Aplaudem o artista do dia. Escrevem longos artigos de fundo sobre sua arte, expondo teorias avançadas, projetos arrojados e concepções ultramodernas. Uma vez por semana reúne em sua casa um grupo grande de amigos. Todos artistas. Todos modernos. Falam, conversam, discutem e às vezes até brigam. Assunto: arte
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 165
moderna. Mostram-se suas produções da semana, inclusive produções literárias, em prosa e verso. E numa dessas reuniões, um dos literatos presentes leu este trabalho surrealista, que, aliás teve de repetir doze vezes, tal foi o entusiasmo com que o receberam. Agradou cem por cento e o autor foi unanimemente aplaudido. O trabalho chama-se “Surrealismo”. E o seu autor explicou que o surrealismo não só é possível em pintura, escultura, como também em literatura e futuramente até em arquitetura. Ali estava uma prova irrefutável. Bem, vai aí a reprodução exata desse trabalho: “Foi naquela sexta-feira do começo do mundo! Um osso de pescoço descansa sobre uma pedra, com a perna cruzada e o olho na terra. Sai fumaça de um buraco distante, quadrado, preto. Alguém medita. Uma boca fala. A árvore range nos gonzos. As nuvens param para ouvir a conversa das areias verdes, que bailam no caracol de uma avestruz encantada. É tudo silêncio porque nada brilha. Existe no chão uma briga de anjos. Um relógio dança sobre a sombra de uma agulha. As nuvens riem do rabo de uma flor amarela. Um olho conversa com outro olho na fala imensa e melancólica de uma lata de salsicha. O ponteiro dos séculos fura a casca do ovo. O sapato azul voa com as asas negras emprestadas ao anjo. Alguém falou? Mentira. Vem para cá um rolo de barbante no molho de laranja. O calcanhar espreme os dentes. O rio grita. A gravata chora. A pena do ganso escreve uma porção de besteiras em cima do calo do soldado. Um gramado de pelos brancos diz: ‘Vai que está na hora. A cruz do mundo foi queimada nas águas do vulcão’. A cobra de vidro se mexe em cima de um fio de linha. Uma calça de mulher sorri para um violão sem orelhas. Vende-se um bom chaveiro. Tudo, tudo é ventania mansa. As línguas se torcem embaixo da cesta de seda. A barriga da perna está dormindo. Uma pelota se ota. Um coelho olha pelo buraco de um olho. Vem gente de fora. Vem gente de dentro. Vem gente de cima. A lingüiça conta uma história de onça. O capote do burro arreganha os pelos. Veja quem falou assim vermelhamente. Os cristais respondem com as barbatanas do tigre. Brilha, brilha, brilha. Em que pé estamos? Passa correndo uma montanha. Trepa no galho de uma casa. Uma risada gostosa rima com aquele retângulo de espuma. O verniz não pega. A mulher espreme a nuvem e bebe o caldo. Hoje tem espetáculo? Que cartola é essa? Tira o sapato e pisa nas costas. A mesa é torta. O mundo sonha. O telefone toca. O livro enlouquece. A lâmpada é verde. O dinheiro é verde. Tudo é verde. Veja corno está saindo fino, Lino, menino. Pavão que muge não soletra. Soletra? Penetra? Meleca? Desculpe senhorita. Ria, pirria. Uma perna foi de trem. Uma perna foi de trem. Bem, bem, bem. A corneta marcha sobre a cintura das velhas rezadoras. Nossa que troça! Veja coruja! Fuja pituja! O branco da vida está de braço com a parreira. Bonito! Sol! Água! Pinico! Pirolito! Senta em cima do rio e come a canoa do aviador. Mede com a régua a mentira que a janela está contando. Abra a mão. Abro a mão. Mão aberta. A testa tem uma mancha. A mancha é de peixe. Ora, deixe. Foi naquela sexta-feira do começo do mundo.” Esse trabalho foi aplaudido e reproduzido como obra-prima em todas as revistas modernas. Assim eram as reuniões do casal. E se alguém, nessas reuniões, cai na asneira de defender a arte clássica, pobre desse alguém. Chuvisca, chove, caem tempestades sobre a vítima! Chamam a vítima de louca, de ignorante, de falha de senso artístico e até de quinta-coluna. Mas isso só aconteceu uma vez, foi o caso de um jornalista ingênuo. Ele caiu na besteira de perguntar por que os artistas modernos quando pintam figuras de homens ilustres, o auto-retrato ou paren-
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 166
tes, não usam do processo cubista, surrealista ou supra-surrealista, isto é, deformações, linhas tortas e cores cruas. E se usam, é só em termos. Por que? Os presentes não responderam de pronto. Falaram todos durante mais de uma hora. Fizeram um levantamento censitário de todos os valores da equipe moderna. Falaram de artes e artistas, de homens e de obras, de idéias e de realizações. Citaram Monet e Manet, Cézanne e Gauguin, Van Gogh e Thomaz Benton, Picasso e Portinari, Dali e Marinetti. Referiram-se aos “crayon noir” de Van Gogh e ao seu suicídio. Vieram à baila todos eles. Vivos e mortos. Foi um desfile de nomes e de particularidades afetas a eles. Dum que brigava muito com a mulher, abandonou o emprego e fugiu para uma ilha do Pacífico. D’outro que tinha o costume de só pintar quando dentro de uma bacia com água. Falaram também daquele que pintava um quadro por dia, como galinha que põe um ovo por vinte e quatro horas. Falaram das divinas proporções e da quadratura do círculo, da reflexão da luz e da velocidade do som, das origens da grafite e de D. Quixote de La Mancha, das Pirâmides do Egito e das cores do arco-íris, da astrologia e da hortelã-pimenta, da metafísica e das minhocas de duas cores, da bomba atômica e da ilusão de ótica. Falaram de tudo, mas não responderam à pergunta do jornalista ingênuo. Foi um bombardeio em regra, sem trégua, sem piedade. Todos falaram. Todos citaram. Todos tiraram sua mordida das carnes daquele indiscreto. E ele ficou na mesma. Vencido, esfrangalhado, com a cabeça grávida de confusão, o jornalista bateu em retirada. E nunca mais apareceu no grupo. E quando o inimigo desapareceu na última curva do caminho, soou uma gargalhada geral! Uma autêntica gargalhada surrealista! Um mês depois, esta cena estava fixada num quadro. Fora idéia de Zilfa. Lá estavam na tela doze ou treze fígados de bocas abertas, gargalhando. Cada um de uma cor: um verde, outro roxo, outro amarelo etc. E Zilfa foi muito felicitada e aplaudida pelos colegas e pelos amigos do marido. Acharam que a idéia foi genial. E no centro desse círculo de fígados, uma interrogação tímida e transida. Era o indiscreto. O jornalista ingênuo. E Zilfa dera mesmo ao quadro o nome de “O Indiscreto”. Todos acharam muita graça e o episódio foi bisado. Sem o jornalista, é claro. E as reuniões continuaram. – O casal prosseguiu pintando. E o público falando bem ou mal deles. Mais mal do que bem. E nesse ambiente viviam perfeitamente bem, como peixe na água. E o casal pintava e a vida continuava. O sol saía e se punha. A lua brilhava e empalidecia. O tempo rolava sobre si mesmo…
*** Numa bela manhã, Zilfa sentiu ânsias de vômito. E no outro dia também. E no outro idem. Foi quando chegou à conclusão de uma possível gravidez. Comunicou ao marido. Foram ao médico. Confirmada gravidez de um mês. Exultaram. Pularam de alegria. Sentiram-se imensamente felizes. E já imaginaram a criança nascida, crescida, falando, brincando. Sonharam nesse dia e sonharam em todos os outros que se seguiram. Os dois queriam um hominho. Escolheram nomes. Compraram roupinhas. Encomendaram o bercinho. E os enjôos de Zilfa continuaram. E o tempo passou.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 167
Zilfa não suportava o cheiro de fumaça de cigarros. Pedro deixou de fumar. E os dois pensavam na criança, como se já fosse coisa real. Um menino gordinho, rosado, de covinhas no rosto e perninhas tortas. Parecia mentira que eles iam ter um filho. Parecia sonho. Parecia impossível. Mas a barriga de Zilfa, cada vez maior, foi afirmando mudamente a realidade. Zilfa não suportava também o cheiro de tinta fresca, de modo que não podia mais pintar. E teve de privar-se desse seu mister predileto. E sentiu sem querer um grãozinho de raiva daquele serzinho que se mexia dentro dela. Pedro agora trabalhava só. Zilfa não podia nem mesmo entrar no barracão, onde era a oficina de trabalho. Vinha-lhe imediatamente ânsia de vômito. Precisava ir embora. Uma vez resistiu contra o enjôo e insistiu em ficar no barracão. Foi a conta: veio tudo pra fora. Nesse dia, sentiu outra vez raiva do filho. Por fim acabou renunciando à pintura. Passava os dias lendo, tricoteando, vendo os quadros. E quando se aborrecia de ficar em casa, saía. Ia visitar as amigas, fazer compras e ver as exposições de arte na cidade. E permanecia horas no meio dos quadros, estudando-os, analisando as técnicas, comparando estilos, admirando detalhes. Por fim a barriga ficava pesando o dobro e ela tinha de ir embora. Mas voltava no dia seguinte, se deixara a análise de uma obra incompleta. À noite saíam os dois juntos. Faziam longos passeios a pé. O médico dissera que fazia bem. Conversavam então sobre arte e Pedro punha a mulher ao corrente do que estava fazendo: de um novo quadro que começara, do estilo dele, do tema, das cores empregadas. A mulher ouvia atenta, dava sugestões, reprovava detalhes, aplaudia a idéia ou elogiava a psique das cores. Mas, esse assunto de arte, aos poucos ia derivando para aquele outro assunto predominante que enchia os dois: o filho. E falavam dele como se já tivesse nascido. E concordavam os dois em que “ele” seria um grande artista. Um grande pintor. Seguiria a carreira dos pais, guiado por eles. Desde muito cedo haveriam de iniciá-Io na pintura. Os grandes prodígios mundiais começaram sempre cedo. Nada de perder tempo. Ensinariam a ele todos os segredos da arte. Fariam florir, no pequeno ser, o mais cedo possível, toda a herança de hereditariedade artística. Sim, porque nessa questão de arte, o principal está em saber aproveitar-se dos elementos naturais; o resto é tudo aprendizagem, treino, constância. O essencial é saber-se utilizar as boas qualidades somáticas. Nijinsky, por exemplo, era filho e neto de bailarinos. Foi o Deus da dança. Foi o produto cultivado de três gerações. Começou também muito cedo. Seus pais não o deixaram perder tempo. Assim seria o filho deles. E talvez até chegasse às mesmas alturas de Nijinsky. E por que não? Era apenas uma questão de cultivo. A semente era boa. Tudo dependia só deles. E eles haveriam de fazer tudo, tudo. Se fosse preciso mandariam o filho estudar no estrangeiro a pintura dos grandes mestres modernos. Hereditariedade mais cultivo ininterrupto daria fatalmente um gênio, um gigante da arte, uma dessas figuras humanas que se tornam legendárias, fabulosas. Dessas figuras humanas que a comunidade universal chega a duvidar que tenham realmente existido, tal a grandeza e a força que irradiam. Embora a obra desses personagens atestem sua existência, parece que eles não existiram, que é só imaginação dos povos, criação fantástica das raças humanas. Assim seria o filho deles. Uma montanha altíssima no campo raso da arte moderna. E por que não? Seria tão grande na sua obra que passaria para o plano metafísico das figuras de mitologia. O principal ele teria: o lastro hereditário. O resto seria uma questão de tirocínio. E isso não faltaria. Lá estariam eles dois para insistir nesse ponto. Assim, tinham a certeza que seu filho daria ao mundo criações maravilhosas em todos os ramos da pintura. E em ramos
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 168
ainda não explorados e de numerosíssimas possibilidades. O jogo das cores, a impressão emanada do colorido, do movimento, o efeito dramático, a fixação da alma das coisas, a exteriorização do pensamento e das paixões humanas. A psicologia aplicada em função das cores, do movimento, do ritmo e do jogo de vários planos superpostos ou consubstanciados, dando a ilusão onírica. Tudo isso ainda podia ser explorado largamente por um gênio da pintura moderna. Sim, porque a pintura moderna teve seu iniciador, seus mestres e discípulos, mas não tinha ainda seu expoente máximo, seu ponto culminante, sua maior amplitude. E quem sabe se essa glória toda não estava reservada ao pequenino ser que ora se remexia nas entranhas de Zilfa. E por que não? Nada é impossível neste mundo, desde que se deseje ardentemente. Ademais, aqui não se tratava de desejar, tratava-se de cultivar e aperfeiçoar intensivamente as qualidades herdadas, os pontos somáticos mais importantes. E não poupariam esforços ou sacrifícios na formação artística do futuro gênio. Era assim que os dois sonhavam. Sonhavam acordados e sonhavam dormindo.
*** Zilfa estava agora na fase final da gravidez. Ultimaram-se os preparativos. Deixaram tudo de mão e ficaram aguardando o grande dia. E por duas vezes Zilfa foi levada à Maternidade e por duas vezes teve de voltar. Ainda não era hora. Por fim, numa madrugada chuvosa, quando menos se esperava, Pedro teve de conduzir a mulher o mais depressa possível à Maternidade. Desta vez era verdade. Nove horas se passaram lentamente. Nove horas de angústia e medo, de esperança e aflição, de receio e fé. Zilfa gritou durante as nove horas. Seus gritos eram lancinantes, profundamente humanos, calando fundo no coração de Pedro. E ele compadeceu-se da esposa. Chegou a pensar que ela fosse morrer. E um estranho sentimento de culpa inundou sua alma. Sentiu remorsos. Sentiu-se o culpado de todo aquele sofrimento. Os gritos de Zilfa varavam a porta, percorriam os corredores e penetravam nos ouvidos de Pedro, que ficara sentado bem longe do quarto. Aqueles gritos de sofrimento eram como acusações violentas contra ele. Por fim, Pedro não ouviu mais os gritos. Não ouviu mais nada… Foram horas angustiosas aquelas. E a criança nasceu.
*** Quando Pedro entrou no quarto, Zilfa estava sorrindo de felicidade. Pedro ajoelhou-se junto ao leito e, comovido, beijou a mão da mulher. Chorou nesse instante. E Zilfa lhe disse carinhosa: “Não chore, meu bem”. A enfermeira já tinha levado a criança. Dali a pouquinho estaria de volta com ela. Era um hominho, como eles desejavam. E o casal ficou assim enternecido durante longos instantes, embevecidos num doce sentimento de ternura, de amizade, de solidariedade e
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 169
gratidão. E quando Pedro perguntou se ele era bonitinho. Zilfa não soube responder porque o tinham levado antes que ela visse. Voltariam logo com ele, já vestidinho. E ficaram esperando. Nadavam em felicidade. Trocaram muitos beijos. Muitas promessas foram feitas. Essa força estranha e boa da felicidade tinha fundido marido e mulher em uma só pessoa. Bastante tempo passou… Começaram a desejar ver a criança. E a criança não vinha. De certo tinham nascido muitas naquele dia e ainda não dera tempo de lavá-Ia, pesá-la. Mas passou muito tempo… Pedro aperta a campainha. Vem a enfermeira. E antes que Pedra diga qualquer coisa, ela faz-lhe um sinal que quer dizer: “Venha comigo”. E Pedro vai. Segue-a por aqueles corredores compridos, compridos…
*** Os dias correram. Os meses se passaram. O casal entra novamente na vida normal. Aos pincéis, às tintas, às telas? Não. A vida deles agora é normal apenas pela ausência de acontecimentos, mas profundamente anormal quanto ao estado de espírito do casal. Vivem agora nessa apatia de quem prefere não pensar em algo terrível que aconteceu. E, no entanto um pensamento único domina o cérebro dos dois - o filho. O filho foi para eles como uma pancada forte na cabeça, que os colheu na tepidez da felicidade. Estão agora em estado de choque moral. Não comentam o fato, evitam falar no filho, mas ele se acha presente em todos os lugares em que os dois estão. Aquela imagem está no ar, como coisa concreta. O filho está lá dentro do quarto, entregue aos cuidados de uma empregada. Nunca sai do quarto. E no entanto está sempre presente na imaginação dos pais, como um motivo fixo, permanente, imutável. Sempre o mesmo. Sempre a mesma imagem desfigurada, monstruosa… E quando ele chora de fome, aquele choro grosso chega aos ouvidos de Zilfa como um sinal de começo de torturas. E no seu cérebro duas forças lutam: o sentimento de mãe e a repugnância pela criança. E o choro grosso exige a sua presença. Zilfa caminha para o quarto. Como se caminhasse para uma sala de suplícios. E ele suga com sofreguidão selvagem aquele seio alvo. Como se fosse um caranguejo devorando um níveo botão de rosa. E aquelas mãos enormes agarram-se ao corpo de Zilfa. Ela estremece. Um frio gelado percorre seu corpo todo. Aquele contato é repugnante. Zilfa cerra os olhos, mas continua vendo os olhos dele olhando para os dela, com a insistência de quem deseja saber alguma coisa, de quem pede explicação por um fato que aconteceu, por um erro cometido. Sim, aqueles olhos esperam ansiosamente uma explicação. A um canto do quarto, a empregada, silenciosa e triste, sente infinita pena de Zilfa. Ela sabe o quanto sofre aquela mãe, em luta íntima com dois sentimentos diversos: o dever de alimentar o filho e o pavor que tem pelo pequeno monstro. Sim, aquilo não era uma criança. Era um ser repugnante, deformado, que causava mal-estar em quem o olhasse. Os olhos muito grandes, parados, tristes e melancólicos. A cabeça era grande como um aquário, contrastando com o corpo que era do tamanho de um palmo apenas.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 170
Uma das pernas era fina, destoando da outra que era excessivamente grossa, lembrando um tronco de bananeira. Um dos braços era curto e o outro comprido. As maçãs do rosto grotescamente salientes e os lábios cortados ao meio. Não tinha cor de gente. Era uma cor estranha e impressionante. Os pés chatos, faltando dedos. Era “Baby” sem tirar nem pôr. Aquele quadro de Pedro que ganhara medalha de ouro. A criança era uma autêntica pintura moderna. Havia deformação, havia exagero de formas, desproporção das linhas, grotesco e ridículo no todo. Parece que a Natureza quis ser coerente com os princípios artísticos do casal… E eles bem que o compreenderam isso. Mas não tinham coragem de dizer. Não tinham coragem de comentar a semelhança entre o quadro e a criança. Não trocavam palavra sobre o assunto, mas ele andava no ar, como coisa a ser solucionada. Evitavam falar no filho e quando falavam, só diziam “ele”. E quando os amigos os visitavam, eles não mostravam a criança. Tinham vergonha. Escondiam-no o mais que podiam. Desde que ele nasceu não houve mais alegria naquela casa. Acabaram-se as reuniões, os passeios e a pintura. Viviam agora os dois pensando naquilo, naquela coisa terrível que acontecera. Abandonaram os pincéis, as tintas, as telas e também o entusiasmo antigo. Não mais se pintou naquela casa. Sob aquele teto não mais se falou em pintura moderna. E tudo isso não foi combinado à viva voz: foi compreendido e executado tacitamente. Os quadros foram descendo aos poucos das paredes e foram se amontoando no barracão. E depois de um pequeno estágio, eram destruídos para dar lugar a outros, que tinham o mesmo fim. E assim foram sendo destruídos todos até o último. Os objetos de arte também tiveram idêntico fim. Agora, a única coisa que existia naquela casa, de “moderno”, era a criança, que aos poucos foi se transformando em menino. E o menino andava pela casa, chamava pela mãe, ia atrás dela, trepava em seu colo, com seu andar estropiado e a voz grossa e impressionante… Andava pela casa toda. Não parava mais fechado no quarto. Falava pouco e, quando o fazia, um arrepio percorria a nuca de Zilfa. Aquela voz soava como uma acusação sombria. O pai também temia a sua presença. Chegaram a desejar a morte dele. Mas, só intimamente, porque não tinham coragem de dizer isso em voz alta. Mas ele ia crescendo. E era um monstrengo sadio. Parecia feito para resistir a tudo, até mesmo ao desejo ardente que seus pais tinham que ele morresse. ZiIfa sofria. Pedro também. O remorso os perseguia dia e noite. E sonhavam com ele. E nos sonhos ele era mais monstruoso ainda que na realidade. Aparecia com cinco pernas, duas cabeças, vários olhos, gritando coisas terríveis contra os pais. E esforçavamse para arrancar aquele pesadelo da cabeça, representando a farsa da despreocupação. Mas sofriam. E o pior era que nenhum dos dois tinha coragem de desabafar um para o outro. Viviam naquele ambiente de suspensão, de angústia, de perigo iminente. Às vezes estavam os dois conversando na sala, quando ouviam os passos “dele” no assoalho. A conversa cessava. Qualquer coisa os inibia de falar na presença “dele”. E ele vinha capengando, ficava por ali ou sentava no chão e não tirava os olhos dos dois. Não dizia nada. Apenas olhava. E como fazia mal a eles aquele olhar! Sob um pretexto qualquer Zilfa retirava-se e trancava-se no quarto para chorar.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 171
Pedro não resistia ao olhar do filho. Aquele olhar triste, frio, duro, saindo daqueles olhos quase quadrados. Não tinha nada de criança. Tudo de monstro. Parecia um homem que não crescera. Não brincava. Não ria. Pedro tinha receio de ficar a sós com “ele”. E o monstrengo parece que percebia isso. Achegava-se ao pai e o tocava com sua mão grande e torta. Parecia sentir prazer no malestar e no medo do pai. No entanto, tudo isso era só impressão de Pedro e de Zilfa. Tudo isso derivava daquele sentimento de culpa que os martirizava. A criança era apenas um miserável ser deformado.
*** Um dia caiu doente. Chamaram o médico mais por desencargo de consciência que por amor ao filho. E o médico veio. Examinou demoradamente e não receitou Era um caso perdido. A custo marido e mulher reprimiram um bater apressado e alegre do coração. E o rosto deformado da criança recortava-se contra o fundo branco do travesseiro, salientando ainda mais a sua horrível feiura. Não abria mais os olhos. A respiração era difícil e aflita. Uma sororoca enchia o quarto de um som que causava mal-estar. Mas o casal velou pela madrugada a dentro o bruxoleio daquela vida miserável. Veio novo dia. Marido e mulher dormiam sentados, cansados. Foi quando “ele” abriu os olhos por uns instantes e passeou-os pelo quarto em busca de outros olhos. Mas não encontrou. Uma suave brisa entrou pela janela, foi o bastante para apagar aquela chama vacilante. Pela tarde daquele mesmo dia, um caixãozinho azul saiu daquela casa. Dentro dele ia a última obra moderna que o casal fizera de colaboração.
*
Adalberto Tripicchio é filósofo e neuro-psiquiatra. E-mail: <tripicch@uol.com.br>.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 172
Um fato difícil de esquecer ADALBERTO TRIPICCHIO*
E
ste relato soma sentimentos confusos, temores de como somos lançados em uma vida, qual barco à deriva, quando nenhum vento é favorável. Era novembro de 1975. Havia chegado há poucos meses do exterior, onde estava terminando créditos de minha pós-graduação em psiquiatria. Por essa época vivia entre Rio e São Paulo. Assim que me formei montei meu consultório em uma rua, travessa da Avenida Paulista. Era um terceiro prédio, só de consultórios e estava recém-pronto. Lembro-me só do número do meu, 518 da Rua Itapeva. Lá fiquei 23 anos, 4º andar. o No 3 , estava um professor de quem fui assistente por dez anos. Quinta à noite fazia Ponte Aérea de Electra para o Rio, e voltava domingo à noite. Arredondando, eram quatro dias em Sampa e sexta, sábado e domingo no Rio.
)( Desde meus tempos de Colegial fazia parte de uma banda de música. Estudei no Colégio Rio Branco, que pertence ao Rotary Club. O Colégio é também a sede social do Rotary. Construíram no penúltimo andar um bom teatro para a época. Por já lidar com música, shows, teatro fui Diretor Social do Grêmio os três anos do Colegial, o que me facilitava o uso do Teatro que, por sinal, ainda não estava totalmente pronto. Meu instrumento sempre foi o violão. Uma tradição de um dos ramos de minha família paterna. Fui amigo do saudoso Paulinho Nogueira, “o bom-senso do violão”, como dizia Jacob do Bandolim. Como Paulinho, eu dava aulas de violão. Tivemos a idéia de juntar alunos, que tocavam e cantavam, mais eu, Paulinho, um colega de turma, amigo até hoje, o Ricardo, que já nasceu tocando piano como poucos.
)( Assim, fizemos um primeiro show no Rio Branco, inaugurando o Teatro. Lá estavam, Toquinho, que estudava no Mackenzie, Kátia que cantava sempre acompanhada pelo Toquinho. Lembro-me de uma linda música de Oscar Castro Neves, com a qual os dois davam um show à parte - esta música foi gravada por Alaíde Costa, e não é o Onde está você -, lá estavam o Zelão grande violonista que tem um estúdio, Taiguara, Roberta Faro, Ivete, Luiz Roberto, o Ricardo com seu trio, Theo de Barros Filho. Não sei bem por meio de quem, lá estava o Chico, seu violão, com irmãs, geralmente três delas para fazerlhe coro. Eu montei um quarteto vocal de colegas, alunas de violão. Fazíamos sucesso com uma música de Carlos Lyra e Chico de Assis, o Subdesenvolvido. Isto tudo a partir de 1960.
)( Esse grupo de estudantes/artistas dividiu-se em três partes: uma que abandonou a música, e ficou somente com os estudos. Outra que abandonou os estudos e ficou somente com a arte - é bom lembrar que nessa altura o grupo já havia sido descoberto pelo especialista em música popular, com programas de rádio e TV, coluna na imprensa, e, acima de tudo, acesso às gravadoras, o Sr. Walter Silva, apelidado de Pica-Pau. A entrada nesta história de Pica-Pau é fundamental, pois foi ele que deu acesso à profissionalização dos companheiros que haviam abandonado os estudos. A terceira parte foi aquela em que cada qual ficou com um pé nos estudos e outro na música. Eu me formei em Medicina, o Ricardo, o Luiz Roberto em Engenharia. E vários outros que me escapam. Por essa época estava começando a Bossa Nova no Rio, que logo veio para São Paulo, nos Shows da Balança - nome que vinha da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, pois era seu pessoal que, todos o anos, organizava este grande show reunindo os profissionais do Rio e de Sampa.
)( O ponto que quero chegar é por que fui parar no Rio, já estando com consultório movimentado em São Paulo. Simples, todos os meus companheiros de música haviam se mudado para lá. E, depois de formado, segui em direção a eles.
)( Uns três meses antes de novembro de 1975 havíamos conhecido um diplomata amigo de Vinícius que morava no mesmo condomínio de Chico na Gávea. Era, como Viní-
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 174
cius, um homem inteligente, culto, engraçado, e tomava uísque conosco. O Júlio Cézar Borges. Sua esposa estava grávida, como a mulher de Chico, esta pela terceira vez. Aos sábados, depois que Chico descobriu um grupo que vinha em sua casa e preparava o que se quisesse: banquetes, churrascos, festas de todo tipo, Chico resolveu fazer feijoadas aos sábados, depois do seu futebol. Em setembro de 1975 nascem Luísa e a filha de Júlio, a pequena Juliana.
)( No Rio, para eu não deixar de estar em contato com a minha grande paixão, a psiquiatria - e é bom eu lembrar que fiquei uns vinte anos nessa vida de Ponte Aérea - fiz cursos com Nobre de Melo, em Niterói, com Leme Lopes, Carlos Chagas Filho, na Federal, e acabei atendendo clientes em Ipanema, em uma galeria, dividindo consultório com um neurocirurgião da equipe de Paulo Niemeyer. Aí eu conheci Luana.
)( Mulher com seus quarenta e poucos anos. Um tanto obesa e seios fartos. Pele parda e falante. Dizia-se muito religiosa, e freqüentava um terreiro de Candomblé em Jacarepaguá. Sua queixa, então, era de que seus guias espirituais não estavam lhe dando sossego. Mal conseguia dormir. Por sentir-se um tanto agitada e irritada, e já que sua madrinha do terreiro não estava curando o problema, resolveu ir “num médico dos nervos”. Perguntei-lhe quem a tinha indicado a mim. “Foi o Dr. Júlio Cezar, meu patrão”.
)( Mediquei Luana com tranqüilizantes. Antes, porém tentei levantar sua história de vida. Foi um trabalho difícil e sem resultados. Ela viera só, do interior da Bahia, quando jovem. Tinha amigos do terreiro, mas só os via lá nos rituais. Disse que gostava muito de criança. Que chegou a vir uns tempos para São Paulo, fazer, na Maternidade Leonor Mendes de Barros, um curso para ser atendente de recémnascidos - babá. Como recém-formado estava começando a entrar em um terreno que iria se repetir, e se repete, muito em minha vida. Como fazer um diagnóstico entre um doente mental que delira e alucina, de um “assim chamado” médium espiritual, que tem clarividência (?), claroaudiência (?), que prevê coisas (?) etc. Havia lido do Dr. Bezerra de Menezes, muito considerado no meio kardecista, um livro que tratava exatamente desta questão: o diagnóstico diferencial. No livro ele diz: se tiver lesão cerebral, é doença; caso contrário, é espiritual. Fiquei pensando como ele diagnosticava a lesão cerebral. Em sua época só existia o Raio X comum. Mesmo hoje com todos os recursos de neuroimagens de que a medicina dispõe, é um grande problema se
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 175
fazer uma correlação entre achados cerebrais e a mente, mesmo porque não se conhece qual é a natureza última desta relação.
)( Luana não era em absoluto uma esquizofrênica. Seu biotipo era o oposto do esperado. Ela era comunicativa, líder de sua comunidade espiritual. Por outro lado, sabia-se que não é apenas na esquizofrenia nuclear que surgem delírios e alucinações. Existem pacientes que estão cronicamente nestas circunstâncias, sem apresentar a deterioração vital de um esquizofrênico. E eu já havia atendido um sem número de casos de “médiuns”, que não eram menos normais do que eu, por suposto.
)( Em uma das feijoadas em casa de Chico, que era um lugar muito agradável, apareceu o Júlio. Comemos e bebemos, bebemos e comemos. Chico havia montado um bar completo, um piso abaixo da piscina, ao nível de uma quadra - aliás, Chico não usava nem uma nem outra - com mesinhas que a Brahma havia lhe presenteado, com quatro cadeiras cada - daquelas que dobram -. Havia um balcão com mármore, tinha chopeira, máquina registradora, máquina de café, aparador atrás para garrafas, enfim, era um bar completo. Aí que nós comíamos. Estávamos em uma das mesas, Chico, Francis Hime e eu - que cantarolava baixinho comigo uma canção de Monsueto, que eles ouviram e adotaram de imediato, e que terminou em grande coral: “Eu não sou água / prá me tratares assim / Só na hora da sede / é que procuras por mim…” Eram momentos de alegria para todos. Na mesinha ao lado estava Vinícius, Tarso de Castro, Emílio Myra y López (filho); em outra, Ruy Guerra com Janaína no colo. Sílvia e Lelê correndo de um lado para o outro sendo perseguidas por Bebel; Marieta estava batendo papo com amigos de teatro dentro da casa. Júlio Cezar, em outra mesa, com sua esposa e Miúcha, levantou-se e fez um convite solene de diplomata: “No próximo sábado quero oferecer um jantar a todos vocês, meus queridos amigos. Vamos comemorar os nascimentos de Luísa e de Juliana”.
)( Eram tempos felizes, apesar de tudo. Éramos todos jovens. A criatividade de Chico estava turbinada - nessa época eu acompanhava seus escritos, com Paulo Pontes, da Gota d’Água. Vinícius estava bem de saúde, as crianças crescendo sadias e felizes. Marieta foi mãe de cinco: sua três mais Bebel (filha de João Gilberto com Miúcha), e Janaína (filha de sua amicíssima recém-falecida Leila Diniz e Ruy Guerra). Sua casa finalmente estava paga depois de um show no Canecão, neste mesmo ano, de agosto a novembro, que aca-
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 176
bava naquela semana, com Maria Bethânia. Ruy Guerra estava filmando, Marieta estava à toda no Teatro. Eu, recém-saído de um segundo casamento, estava solto na vida.
)( Confirmamos a presença no jantar em casa de Júlio: Tarso de Castro, Vinícius com uma de suas esposas de então, Chico, Bardotti, Aquiles (MPB4), Francis, eu. Marieta tinha teatro naquele horário. Além de nós havia mais um grupo de umas oito a dez pessoas das Embaixadas, todas amigas de Vinícius. Chico começou com caipirinha de vodca, Tarso também. Acho que os demais, como eu, fomos de uísque 12 anos. Havia salgadinhos e outros quitutes. Fiquei sabendo que naquela noite quem tomava conta de tudo, nas lides daquele jantar era Luana. Apesar de ter sido contratada como babá de Juliana, ela insistia que um dia queria tomar conta de uma grande festa. Todos diziam que ela era uma excelente cozinheira. Chegou o dia. Havia umas três ajudantes, além de dois mordomos - afinal muitos eram da Embaixada, e precisava de alguma Pompa e Circunstância, cochichounos Vinícius. Havia uma mesa única colossal. Todos nós pudemos nos sentar. As comidas eram colocadas em mesas laterais aparadoras. Foi servido um vinho branco magnífico.
)( Neste momento, Júlio, apresentou solenemente, Luana, a chef da noite. Ela estava toda de branco, com aquelas roupas rodadas e um turbante branco do qual descia uma cauda até o chão. Enfim, pronta para entrar em cena na gira de seu terreiro. Confesso que foi um mau presságio para mim. Afinal ela devia estar paramentada de chefe da cozinha.
)( Ao todo éramos pouco mais de vinte convidados, mais Júlio e esposa, sentados nas pontas de cabeceira. Eu estava ao lado de Júlio, à minha direita, e de Chico, à minha esquerda. Em seguida, Sergio Bardotti - que passava uns dias no Brasil hospedado na casa de Chico - Vinícius, sua esposa, Tarso e por aí vai, não me lembro. Primeiro as entradas frias. Saladas, maioneses, camarão, lagosta, salpicão etc. Não saberia contar nem me lembrando. Chegou o momento mais esperado, para quem foi para comer de fato: o assado. Foi colocado, em uma bandeja enorme de prata com tampa no meio da mesa, que era bastante ampla. Um dos mordomos abriu a tampa: — O assado era Juliana.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 177
)( Lembro-me de dizer aos gritos aos meus amigos mais próximos: - Vamos pegar a Luana, só pode ter sido ela. Fomos: eu, Tarso, um gaúcho porreta, Aquiles e um diplomata. Lá estava Luana fumando um charuto Suerdick de padaria, de uns quinze centímetros. Com ar de satisfeita. Eu pulei por cima dela. Meus amigos vieram atrás. Ela não ofereceu resistência. Dizia que havia cumprido ordens diretas de Lúcifer. Estava em pleno surto psicótico, que agora, somente agora, se mostrava com clareza.
)( O condomínio ficou repleto de polícia, ambulâncias, médicos da família, e curiosos. A Imprensa, apesar de presente, atendeu a um pedido formal do Ministério das Relações Exteriores de manter discrição no caso, dado o choque que foi para os pais de Juliana.
)( Em pouco tempo, Júlio e esposa se mudaram definitivamente para a Europa. Pude ver ainda Luana internada no Juliano Moreira do Rio. Totalmente desagregada. Aí fechei meu diagnóstico de Parafrenia Tardia, com delírios e alucinações de todos os tipos. Soube que ela recusava alimentar-se e que faleceu pouco tempo depois.
)( Nota: Os nomes do casal e sua babá doente são outros. Os conhecidos, que fizeram grande sucesso nas décadas de 70 e 80, alguns até hoje, são eles mesmos. A história é verdadeira. Algo foi encadeado para dar ritmo ao relato.
*
Adalberto Tripicchio é filósofo e neuro-psiquiatra. E-mail: <tripicch@uol.com.br>.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 178
RESENHAS
A Caminho da Linguagem ROBERTO S. KAHLMEYER-MERTENS*
E
ncontra-se publicado o livro Unterwegs zur Sprache, sob o título de A Caminho da Linguagem, do filósofo alemão Martin Heidegger. Neste, encontramos alguns dos textos de maturidade do autor apresentados na forma de conferências ou redigidos como ensaios durante a década de 1950; reunidos tal como sua primeira publicação em 1959. Nestes escritos temos Heidegger ocupado em tratar a linguagem como questão do pensamento comprometido com a verdade. Contudo, este problema no momento aparece de maneira diversa daquela presenciada nos escritos da década de 1920, como em Ser e Tempo, um de seus principais livros (no qual Heidegger ainda operava com o método fenomenológico, tratando a linguagem como algo ainda sobreedificado à noção de verdade). Em A Caminho da Linguagem, encontramos um reposicionamento do autor diante de sua compreensão feita; apontando a linguagem como a essência originária da verdade e abertura de sentido ao homem. O tema da linguagem é tradicional à filosofia, estando presente já entre os gregos antigos, possuindo implicações com noções fundamentais ao pensamento ocidental, como a realidade, verdade, compreensão etc. Conceitos cujos desdobramentos repercutem em toda história, entretanto carentes de um pensamento que assuma para si a tarefa de dar visibilidade às implicações que estas noções possuem com a filosofia, em seu exercício contínuo de determinação da verdade das coisas que são, efetivamente. Heidegger estabelece acessos entre o pensamento, a linguagem e a realidade. Por isso, estes escritos de filosofia, como o próprio autor fez questão de ressaltar, deveriam ser pensados como “caminhos” possíveis para uma experiência pensante da linguagem, reveladora de sentido. A metáfora do caminho é elucidativa, pois faz com que pensemos a linguagem através de algo aberto por ela própria e que nos envia à ela mesma. Isto nos permite constatar que todo discurso possível ocorre a partir de uma experiência primeira de linguagem, experiência que o pensador trataria por ‘originária’. Entre estes textos-caminhos, observamos o autor tratar da linguagem poética, enfocando esta manifestação não como um recurso estilístico, mas a indicação subministrada do fenômeno de já estarmos sempre desde a linguagem, mesmo quando pensamos ou
dissertamos teoricamente sobre ela. O que faria que uma lida objetivada da linguagem, possível a partir da lingüistica, já fosse algo epigonal ao advento da mesma. Assim, o recurso feito pelo autor aos temas relativos à poesia não consiste em uma esquiva a essa lida objetiva, mas em modos de abordá-la a partir daquela que é a sua dimensão mais profunda, não a função de asserção ou a de comunicação, mas a de celebrar o acontecimento das coisas que verdadeiramente são. O livro traz seis textos, dentre os quais é preciso que se ressalte pelo menos três, devido sua importância: o primeiro, o ensaio A Linguagem na Poesia, publicado avulso pela primeira vez em 1953 sob o título de Georg Trakl: uma colocação sobre sua poesia. Neste texto, Heidegger comenta o autor austríaco investigando o ‘lugar’ próprio da linguagem na experiência poética do literato, conhecido pelos críticos como o poeta da immagine vaga e do silêncio. O segundo texto ressaltado é De uma conversa sobre a linguagem entre um japonês e um pensador, reprodução do diálogo de nosso autor com o Professor Tezuka da Universidade Real de Tóquio. Neste texto, há uma revisão do itinerário que o pensamento de Heidegger, acerca da linguagem, cursou desde a época que o autor era professor assistente de E. Husserl, até o novo campo temático inaugurado com a dita virada hermenêutica (evento a partir do qual o autor se distancia das investigações fenomenológicas sobre as estruturas do homem em sua condição existencial de ser-aí, para encaminhar-se à “questão básica” da verdade do ser em geral, enquanto sentido imanente a todas as coisas). Este texto poderia parecer pitoresco para aqueles que concebem Heidegger como um filósofo europeu restrito ao universo do pensamento ocidental; ignorando, em sua biografia, as afinidades com o Oriente, que chegaram a levá-lo a traduzir, com o auxílio de um sinólogo, trechos do Tao Te Ching de Lao Tsé e a comparar, na conferência O Princípio de Identidade, o conceito grego de linguagem (lógos) com o Tao dos chineses. O terceiro texto, A essência da linguagem é conjunto de três conferências proferidas entre os anos de 1958-59. Este trata da linguagem e de suas experiências, a partir do discurso poético de autores como Hölderlin e Stefan George. Uma prévia da importância deste texto pode ser dada a partir da passagem contida na página 121, quando o autor elucida aquilo que anteriormente chamamos de experiências da linguagem: “Fazer uma experiência com a linguagem significa, portanto: deixarmo-nos tocar propriamente pela reivindicação da linguagem, a ela nos entregando e com ela nos harmonizando. Se é verdade que o homem quer saiba ou não, encontra na linguagem a morada de sua própria presença, então uma experiência que façamos com a linguagem haverá de nos tocar na articulação mais íntima de nossa presença. Nós, nós que falamos a linguagem, podemos nos transformar com estas experiências, da noite para o dia ou como o tempo. Mas talvez fazer uma experiência com a linguagem seja algo grande demais para nós, homens de hoje, mesmo quando esta experiência só chega ao ponto de nos tornar, por uma primeira vez, atentos para a nossa relação com a linguagem e a partir daí permanecermos compenetrados nesta relação.” A citação também nos dá uma real idéia do nível da “discussão” sobre a linguagem no interior do livro. Os demais textos do livro, A linguagem (1950), A palavra (1957) e Caminho para a linguagem (1959), também são produto de palestras e contemplam o tema, utilizandose dos mesmos motes e autores abordados por Heidegger. Curiosamente, nos mais de oito anos do intervalo que separa o primeiro texto destes dois outros (mesmo considerando as diversas revisões, complementações e novas versões efetuadas com base em
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 181
apontamentos), observa-se que a temática de Heidegger é conduzida com o mesmo enfoque, o que testemunha em favor da unidade de seu pensamento. Esta publicação é um instrumento importante para quem deseja acercar-se da filosofia da linguagem e, mesmo, mais especificamente, sobre o pensamento de Heidegger (recomendado não só ao público da Filosofia, mas também das Letras). Possui uma boa apresentação gráfica, seguindo o padrão da coleção Pensamento Humano da Editora Vozes e tem uma tradução suficientemente boa para servir ao público de língua portuguesa.
Livro: A Caminho da Linguagem Autor: Martin Heidegger Editora: Vozes, Petrópolis, RJ
*
Roberto S. Kahlmeyer-Mertens é doutor em Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ UERJ, professor do Centro Universitário Plínio Leite/UNIPLI.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 182
Heidegger ROBERTO S. KAHLMEYER-MERTENS*
F
oi lançado, integrando a coleção Passo-a-passo da Jorge Zahar Editora, o pequeno livro intitulado Heidegger, de autoria de Zeliko Loparic (UNICAMP). A obra propõe uma introdução às idéias do filósofo alemão Martin Heidegger (18891976). Este trabalho não segue o modelo de uma introdução aos moldes dos manuais, apresentando idéias e fatos de maneira isolada; tendo como produto, conhecimentos gerais ou elementos de curiosa apreciação. Ao contrário, efetua uma introdução temática, ou seja, coloca o leitor no universo dos termos e questões fundamentais ao pensamento do filósofo; ‘convidando’ o leitor a interagir com estas questões. Embora Loparic utilize notas biográficas do autor alemão e explicações didáticas de suas idéias, isto é feito de maneira dosada; sem uma diluição demasiada dos conceitos, o que poderia acarretar a banalização das idéias do pensador. A vida de Heidegger é abordada no livro em contraponto a sua obra; mantendo-se fiel à conhecida biografia filosófica redigida por Rüdiger Safranski, recomendada por Loparic como “possivelmente a melhor biografia de Heidegger já escrita”. Seguindo a mesma premissa de Safranski, vemos, neste livro, a vida de Heidegger ser pensada como algo indissociado de sua trajetória filosófica. É deste modo que presenciamos a partir da pergunta “Quem é Heidegger?” (que inaugura o primeiro tópico do livro), uma contextualização histórica de sua obra; seu posicionamento em face do panorama filosófico de sua época; a recepção de seus escritos de juventude ainda ligados estreitamente à fenomenologia de Husserl. A caracterização das idéias do filósofo alemão é feita em três tópicos intitulados, respectivamente: “As moradas de Heidegger”, “Os escritos” e “Os caminhos do pensamento”. No primeiro, encontramos um comentário amplo sobre a lida que o autor tinha com o fazer filosófico, esta que, segundo Loparic, remonta o modo sereno de vida de alguém nascido na pequena província de Messkirch no interior da Floresta Negra e a maneira que esta serenidade determinaria seu pensamento. Do mesmo modo, são tratadas as modificações neste quadro diante da Segunda Grande Guerra, que arruinou aquela que seria a morada primeira do filósofo, a exigência de se construir novas moradas para o pensamento através da poesia de autores como Hölderlin e Hebel.
Também a técnica moderna, enquanto máxima expressão do pensamento racional, é tratada neste tópico, frente a um aceno de Heidegger ao pensamento de Nietzsche, que afirma: “O deserto cresce”. Quanto a isto, na página 28 do livro, Loparic esclarece o seguinte: “Desertificaçao não é uma questão de erosão, nem de guerras mundiais, mas, paradoxalmente, o banimento da necessidade, mais precisamente, do caráter questionável da vida humana. Esse banimento atinge, em particular, a recordação. (…) Desta forma, ele perde a si mesmo. Desertificação é o nome nietzscheano para a objetificação terminal”. As conhecidas relações de Heidegger com a Grécia e a surpreendente afinidade com o Oriente também são aludidas como edificadoras de moradas do pensamento. No segundo caso, é digna de consideração a influência que Heidegger tem, principalmente, junto aos pensadores japoneses (talvez explicada a partir de uma possível ressonância da filosofia que se ocupa do sentido do ser com as experiências do pensamento oriental; expressa, por exemplo, no interesse do filósofo pelo Tao e pela poesia chinesa de Bashô). É valioso neste tópico o comentário acerca da tentativa de pensar as idéias de Heidegger à luz da psicanálise, pelo suíço Medard Boss nos chamados Seminários de Zollikon.. Neste momento, Loparic aproveita para introduzir sua interpretação aproximativa entre Heidegger e Winnicott. Esta leitura original (mas não menos controversa) retrata aquela que já se tonou quaestio disputatae na cena heideggeriana brasileira, uma vez que Loparic afirma que é na primeira infância, ainda no acolhimento do colo da mãe, que o humano (em sua experiência existencial de ser-aí) “pode constituir a continuidade e a estabilidade do seu si-mesmo e do seu mundo”. Os desdobramentos destas afirmações vão tocar questões caras ao pensamento de Heidegger como a linguagem, a corporeidade, a finitude, além das relações com o outro. Nos outros dois tópicos, vemos o itinerário do pensamento de Heidegger a partir da menção de suas principais obras, redigidas na forma de tratados, preleções e conferências. Contudo, como era de vontade do autor, estes trabalhos são pensados como “caminhos, não obras”. Pois, deste modo, fica resguardada a possibilidade de pensarmos as questões filosóficas não a partir de marcos referenciais, mas de caminhos a serem seguidos, enquanto exercício de questionamento. Em seguida, em dois outros momentos: “Alguns ecos” e “O legado”, Loparic aponta as contribuições que Heidegger teria trazido ao pensamento contemporâneo, ao influenciar seus interlocutores e as falas que partem das questões por ele entabuladas. Nestes dois passos, presenciamos o inventário dos principais nomes ligados ao pensamento de Heidegger e responsáveis por sua difusão. São, então, registrados: os impactos do pensamento de Heidegger nas obras de Jaspers e Husserl (este último que, segundo a avaliação de nosso comentador, “rendeu-se à sua influência no momento em que introduzia, nos anos 1930, o conceito modificado de mundo da vida”); os desdobramentos da filosofia de Heidegger entre seus alunos (Fink, Gadamer, Jonas e Marcuse); a influência de Heidegger na França (Aubenque, Derrida, Foucault, Haar, Levinas, Merleau-Ponty e Sartre); os intelectuais que introduziram estas idéias no Japão (Bin, Koichi, Kuki, Nishitani e Yasuharu); a produção considerável de literatura sobre Heidegger pelos anglo-saxãos (Dreyfus, Kisiel, Olafson e Rorty) as aproximações sugestivas do italiano Gianni Vattimo do pensamento de Heidegger ao de Nietzsche e Gadamer; o interesse da psicanálise pela filosofia heideggeriana e as re-leituras de Freud a partir desta e, finalmente, a recepção das idéias de Heidegger no Brasil ao cargo de autores como Emmanuel Carneiro Leão, Benedito Nunes e Ernildo Stein.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 184
Nos referidos tópicos, embora se proponha um “brevíssimo panorama”, o livro incorre nos riscos sempre iminentes de quem se propõe a elencar. É o caso das omissões de alguns nomes que não poderiam ser esquecidos. Faltou citar, ao lado dos demais alunos judeus de Heidegger, Karl Löwith, que nunca escondeu suas boas relações com o mestre e que produziu diversos textos significativos sobre a articulação entre teologia e ontologia. Entre os pensadores de língua francesa: Jacques Taminaux e Alphonse de Wealhens, este último, responsável pela edição francesa de Ser e Tempo; entre os anglo-saxãos, William Richardson, autor de Heidegger: Through Phenomenology to Thought, um dos mais completos tratados sobre Heidegger (prefaciado pelo próprio Heidegger) e no Brasil, Gerd Bornheim foi o autor que em meados da década de 1970 já tinha publicado seu: Dialética – Teoria - Práxis como um exercício de entendimento das idéias de Heidegger. Bornheim durante toda sua vida filosófica buscou pensar as implicações estéticas da obra deste filósofo. O livro é elucidativo. Traz clareza, não só ao público leigo, mas também aos estudiosos do autor, quanto ao projeto do pensamento de Heidegger. Ressalta a importância do autor no século XX; demonstrando que embora seu pensamento tenha passado por diversos momentos, este se manteve fiel à questão que considerava a primordial: a questão do ser e seu sentido. O livro traz, ainda, seguindo o padrão da coleção Passo-a-passo (proposta editorial que busca abordar diversos campos do saber tratando autores e obras comentados por especialistas em linguagem acessível), um conjunto de fragmentos seletos de diversos textos de Heidegger, muitos ainda contidos em obras não traduzidas para o português; material que é capaz de promover um primeiro contato com a obra do autor. Uma cronologia da vida e obra de Heidegger e uma pequena bibliografia com leituras recomendadas podem ser encontradas no final desta edição; entre os títulos indicados, chamamos atenção para outro livro de Zeljko Loparic, intitulado Ética e Finitude; que foi relançado em 2004 pela Editora Escuta, em uma mais que merecida segunda edição.
Livro: Heidegger Autor: Zeljko Loparic Editora: Zahar, Rio de Janeiro
*
Roberto S. Kahlmeyer-Mertens é doutor em Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ UERJ, Professor do Centro Universitário Plínio Leite/UNIPLI.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 185
Le corps MÁRCIA PATRIZIO DOS SANTOS*
C
om um título assim tão impreciso e abrangente, Chantal Jaquet nos instiga à imaginar do que sobre o corpo ela poderia vir a falar, de tanto que há para ser dito sobre este que, durante séculos foi mesmo considerado por muitos um empecilho ao exercício intelectual. É justamente explicando séculos de silêncio sobre o corpo e comentando alguns dos muitos pré-conceitos que daí surgiram que Chantal começa seu livro Le corps. Partindo de princípios espinosista e valeriano, Chantal mostra como e porque a célebre tese socrática do “conheça-te a ti mesmo”, como princípio de toda sabedoria e conhecimento, tem como ponto central, e não periférico, o conhecimento do próprio corpo. Para isto não se deve, como se pensa vulgarmente, submeter o conhecimento filosófico ao conhecimento biológico, fisiológico, sociológico ou ao da medicina, mas sim, fazer do corpo um objeto filosófico, “O problema é compreender em que o corpo é um objeto filosófico, e de legitimar uma investigação sobre ele”.1 Segundo Chantal, é em Sócrates mesmo que esta legitimação do corpo como objeto filosófico por excelência pode ser encontrada e ela se propõe a explicar o por quê neste seu livro. Se interrogando sobre a natureza deste corpo, que nos revela não sermos aquilo que somos, Chantal mostra como esta força enganosa em aparência abriga verdades profundas. A exemplo de Espinosa, ela segue se interrogando sobre as potencialidades do corpo. O livro é dividido em duas partes. Na primeira, ela explora as diversas facetas da corporeidade, passando pelas noções de corpo ao corpo humano, numa ótica clássica, fundada sobre as doutrinas filosóficas a este respeito. Na segunda, ela analisa algumas das potencialidades do corpo tais como a técnica, a artística e a ética, dedicando um capítulo separado para análise do corpo sexuado. No primeiro capítulo Chantal Jaquet evidencia a unidade do conceito, disseminado sobre a multiplicidade de suas formas, objetivando definir e delimitar a 1
p. 14.
essência do corpo. O foco no entanto, não está apenas sobre os corpos materiais, mas igualmente sobre os imateriais, como o corpo espiritual e o corpo político que manifestam a potência metafórica desta noção, sua eficiência e sua capacidade de fornecer os modelos de inteligibilidade do real. Para isto ela analisa a perspectiva estoiciana; a problemática redução cartesiana do corpo à extensão; a necessidade do corpo espiritual segundo Jean Scot Érigège; e a idéia de corpo político de Hobbes e Rousseau. O segundo capítulo é consagrado ao exame do corpo vivo e das dificuldades de se alcançar o âmago de sua especificidade. Chantal analisa a concepção aristoteliciana de vivo sob o prisma do paradigma animista; a teoria mecanicista cartesiana e a distinção kantiana entre máquina e ser organizado. Chantal nos remete a um questionamento sobre a causalidade do corpo vivo, através das concepções de Barthez, fundador do vitalismo; de Bordeu e Bichat; e as análises da antinomia mecanismo/finalidade de Kant e Claude Bernard. Ela mostra a necessidade de se reintroduzir uma certa forma de finalidade a fim de se compreender a natureza do corpo vivo, admitindo que Bergson havia razão em dizer que a consciência é coextensiva à vida. No terceiro capítulo, Chantal trata mais especificamente da natureza do corpo humano e de seu relacionamento problemático com o espírito (ou mente). Inicialmente analisando a perspectiva dualista e a interação entre corpo e espírito (ou mente), Chantal critica a concepção cartesiana de união entre alma e corpo e mostra os limites da solução leibiniziana da harmonia pré-estabelecida. Analisando algumas teorias monistas, Chantal critica o monismo materialista de La Mettri e aponta o modelo espinosista como a solução para problema corpo-espírito, comentando algumas das implicações de sua tese. Passando pela análise de diversas formas corporais, das mais simples às mais complexas, ela nos revela suas meditações mais pessoais sobre algumas das potencialidades do corpo humano. No quarto capítulo ela aborda as potencialidades práticas do corpo, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista artístico e ético. Na impossibilidade de se falar de todas, Chantal opta por uma análise da significação técnica do corpo em geral, mencionando apenas algumas práticas menos corriqueiras, como o Body Art, ou sobre as que se encontram na intercessão entre o esporte e a arte. Ela mostra como a relatividade dos valores está arraigada no corpo e que, se ele pode fundar um consenso em matéria de moral, em virtude de suas propriedades comuns compartilhadas por todos os homens, ele permite explicar tanto a gênese da moral comum como a da moral individual e suas variações no tempo. Ela o posiciona assim, na origem das diferenças e das discórdias sobre as maneiras de pensar. Deste ponto de vista, Chantal mostra porque é tão vão exigir de um homem que mude seus valores quanto exigi-lo que ele mude o corpo. No quinto e último capítulo, ela examina a potência sexual do corpo, concentrando-se sobre o problema das diferenças de sexo, como o que pode constituir um modo de ser para o outro e para si mesmo, predeterminando certas atitudes. Concluindo com Espinosa, contra Descartes, de que o corpo não é o outro da alma (ou espírito/mente), mas que constitui com esta um outro ângulo da mesma realidade, Chantal mostra como é vão pensar uma interação entre eles postulando uma causalidade recíproca. Ela volta a Sócrates para mostrar a importância do “conhece-te a
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 187
ti mesmo” corporal, e como só através dele podemos nos preservar de vãos desejos e conhecer o caminho do prazer, visto ser o corpo um guia e um modelo de vida verdadeira.
Livro: Le corps Autor: Chantal Jaquet Editora: PUF, Paris, 2001
*
Márcia Patrizio dos Santos é mestre em filosofia pela Universidade Paris X e doutoranda em filosofia na OPJV-Amiens.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 188
Marvadas
Dulcinéia e Sebastião Nicomedes – Ca(n)tando beleza das ruas
MAURO LUCIANO DE ARAÚJO* JOSETTE MONZANI**
N
uma teoria estética da beleza, do belo, a tendência é rejeitar qualquer tipo de modificação do objeto artístico próximo daquela bricolage do pensamento abstrato, citado por Lévi-Strauss. Mas dessa bricolage, chamada primitiva, não se pode mais fugir, nem mesmo escondê-la dos olhos mais nobres da sociedade dita civilizada. O que dizer, então, na modernidade, do uso de um material completamente rejeitado por todos os cidadãos – jogado às ruas, para não mais fazer parte da vida privada das casas burguesas? O que dizer do uso do lixo como objeto artístico? Convenhamos que hoje, o que qualquer espectador no mundo mais assiste é aos lixos na televisão. À colagem, à modificação de materiais palpáveis de maneira criativa - ainda que apareça indócil para olhos eruditos clássicos, é ela o método mais fugaz, ao tempo que convincente de uma agilidade de pensamento (aquele QI procurado tanto por grandes empresas, quanto por paixões de verão – a rapidez do pensar que insere o ser humano nas commodities corriqueiras). Temos que ressaltar aqui que hoje, Lévi-Strauss, com sua “agilidade do agir”, na pesquisa de campo, deixou um legado um tanto quanto etnocêntrico ao clamar pela objetividade científica na observação de povos chamados “primitivos”. Sendo primitivo o cerne, o núcleo humano, ele convive, e conviverá conosco até que deixemos de ser “humanos”. Afinal de contas, os ditos primitivos não tinham voz naquela etnologia – eram sempre mediados pelo olhar da ciência, da objetiva límpida. Chamam, a propósito, aqueles que vivem do lixo, de inumanos. Chamam, também, de inumanos, insensíveis aos que vivem do, e no lixo. Essa rejeição de catadores, recicladores acontece porque eles vivem do que todos rejeitam. No universo do “rejeitar”, ninguém deveria entrar. Todos deveriam viver do que se aceita por todos. Essa moral anda ultrapassada, e, ela sim, inumana. Nem tudo são flores, e nem todos são cidadãos, no mundo moderno e no universo da má distribuição de renda e cultura como os do Brasil – esse é o tema da etnologia, mesmo que na imparcialidade científica, na tentativa de inserção na cidadania do altruísmo contemporâneo. Um passo à frente de Lévi-Strauss, mas que deve muito a sua iniciativa, conturbadora na sua época. Será que haveria, na criação inconsciente ou ilógica de pessoas que vivem na favela, de gente que vive na marginalidade, nas superstições, nas sortes, destinos, trocas de
favores e embriaguês dos catadores de lixo, uma poesia? Diria Baudelaire que sim. E diria Benjamin que há mais que beleza – há uma expressão do revolucionário. Na América Latina, o marginal chega a ser hegemônico, não minoria. Não basta para a civilização ocidental rejeitar coisas. Rejeitam-se comportamentos da maioria. É o embate que observou a pedagogia do oprimido de Paulo Freire; é o embate que a arte também tenta resolver. A artista plástica Lúcia Rosa responde por uma dessas incursões estéticas da marginalidade, e do lixo como algo a ser, no mínimo, contemplado. Ela trabalhava com catadores de papel, quando se deparou com um projeto chamado Eloísa Cartonera, da Argentina, na 27ª Bienal de São Paulo. Foi aí que apareceu a possibilidade de criação de um núcleo parecido no Brasil. O Eloísa era um coletivo social que produzia livros de catadores. O nome dado ao projeto similar aqui no Brasil foi o de Dulcinéia Catadora. Sim, a eterna Dulcinéia de Dom Quixote, musa inspiradora de alucinações barrocas. Começou a funcionar no país em 2007, apresentando-se em saraus com poetas da periferia, com a publicação de Sarau da Cooperifa. O grupo se reunia às quartas feiras em um Bar de São Paulo. Lúcia afirma que o Dulcinéia: “é um projeto de escultura social, isto é, a sociedade percebida como uma escultura que pode ser modelada para melhor. Os livros publicados são literatura de autores da América Latina”. Vê-se um livro, com capa de papelão pintada à mão com guache pelos filhos dos catadores, e conteúdos preciosos de nomes conhecidos, lançados, como O Anjo Esquerdo da Poesia, de Haroldo de Campos, e Delírios Líricos, de Glauco Mattoso. O diálogo entre o que se entende por arte e o que não se entende por arte fica visível ao se ter um dos livros em mãos. “Autores novos são selecionados pela qualidade literária de suas obras, privilegiando-se conteúdos de caráter social, político, que de algum modo dêem voz às minorias. A irreverência, o questionamento de valores sociais, o tratamento de temas ainda considerados tabus em pleno século XXI são outros aspectos presentes na maioria das obras publicadas pelo projeto”, confirma Lúcia. Logo viria a publicação do livro Cátia, Simone e outras Marvadas – poemas de Sebastião Nicomedes, ex-morador de rua, com forte voz entre os movimentos sociais. “Ele é um homem de 40 anos que pintava faixas e placas e depois de ter sofrido um acidente não conseguiu mais se acertar financeiramente e acabou em situação de rua durante três anos. Hoje vive em pensão, faz bicos, não tem emprego fixo. Escreveu uma peça, Diário dum Carroceiro, já encenada em São Paulo”. Aproveitamos para publicar uma de suas poesias do livro lançado artesanalmente. O Albergado Recuso-me a pedir esmolas mas me chamam de mendigo olham pra mim com indiferença, medo, ódio, pena. Acham que sou vagabundo, foragido ou doente. Pensam, ao me verem jogado dormindo em qualquer calçada nas portas das lojas em bancos de praça, dizem tudo, todo mal a meu respeito. Não imaginam o trabalhador que sou, já fui muito esforçado, ninguém sabe o quanto sofro sendo um desempregado desqualificado aprendiz sem estudos, sem teto, sem nada tento esquecer o passado bebendo, enchendo a cara. Não sei mais do presente, o
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 190
cobertor é meu escudo, esconde-me o rosto de todos, protege-me em dias frios nas madrugadas de inverno. Sigo por aí pernoitando de albergue em albergue, a batalha é temporária, em surgindo uma vaga eu pego a rotina, sei que é a mesma sempre, não muda nada, acordar , tomar café antes das 7 sair perambular pela cidade ocioso o dia inteiro. Busco um lugar para almoçar uma casa de convivência, se prefiro tem na rua sopão e pão francês ao cair da tarde. Porém já se pode regressar uma das muitas regras antes o banho depois o jantar inda tem pra quem quiser cinema e televisão. Às 10 toque de recolher vigora a lei do silêncio. O tempo passa logo o prezo vence outra vez, de novo sou desligado, objetos roupas calçados vendo a preço de conhaque, tudo na feira do rolo, se vão todos os documentos perdidos com a carteira, eu de novo ao relento, indigente sem futuro aos olhos da sociedade que me negou trabalho por puro preconceito contra endereço de albergue. O livro juntou poesias que Sebastião escrevia durante o período em que vivia nas ruas. São poesias cheias do lírico, também românticas, mas que contam como um diário a vida de um desempregado sem teto bastante politizado. No poema Cátia, primeiro do livro, ele já nos apresenta conflitos imaginários entre seus amores marcantes, e a chamada ‘Marvada’ – conhecida pelos brasileiros. Destrói os corações de quem se aproxima dela faz sofrer decepções quanto mais se tenta deixá-la mais aumentam as frustrações. (…) Coitado de quem gostar dela que a marvada não tem compaixão se eu bebo a culpa é dela Da Cátia, meu grande amor A poesia de Sebastião não só mistura pela embriaguês a cachaça com as mulheres – mistura os prazeres e dores de um rejeitado social e passional. Também o delírio alcoólico com sobriedade: Tomba homens na sarjeta deixa mulheres na lona se ela fosse mais cara o mundo seria melhor
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 191
mas com o preço irrisório o Brasil está em ruína.1 Esse é outro caráter da não distinção entre a realidade e o que se imagina, algo que é visto como complexo pela arte, mas completamente comum à vida cotidiana das ruas. A disjunção entre a realidade e o criado. Onde procurar beleza? Ao Luar Na noite de céu estrelado contemplo a lua brilhante vestida de prata ou dourada magnífica princesa das luzes alumiando com sua energia os corações dos humildes ao contrário da polícia que chega batendo a lanterna na pupila dos olhos da gente nos assusta nos humilha na versão que todos pagam por causa duns malfeitores batedores de carteira ladrões de roca CDs menores que cheiram cola nóias que fumam pedra maconheiros há em toda parte nas faculdades nas escolas fumantes queimam na rua até mesmo no mundo das artes a erva maldita exala na hora do esculacho o tapa é na nossa cara pés inchados pés de cana mexem com moças bonitas xingam as enfezadas que os malas não se enxergam mijando andam cagados porqueiras do submundo por causa de tais maloqueiros agüentamos de tanta gente desaforo o dia inteiro mas a polícia se vai ao se tratar de inocentes e a lua vem por esmola tirar o trauma da mente aí penso no Deus grandioso que talvez me esqueceu vejo então uma estrela cadente vindo em minha direção faço pedido instantâneo dormir essa noite tranqüilo acordar com sorte em paz. O poema corrente, que alia acontecimentos e qualidades do que se vê, do que se presenciou nas ruas, se inicia com “Na noite”, sem sono e sem dormir, finaliza-se com o “acordar com sorte em paz”. Uma busca da paz nem que seja com um pedido supersticioso, um ponto de magia em meio ao pesadelo real. Sebastião ainda não tem emprego – não é marginalizado por intenção própria. É flâneur por imposição de uma estrutura social. Mas não se trata de uma flanaire antiburguesa, ou contestadora. Seus poemas são expressões sinceras de uma vida que chama a atenção, uma visão de mundo, uma perspectiva não conhecida, um ponto de vista rejeitado. Uma, portanto, tentativa de inserção. Levemos em conta o processo de editoração dos livros publicados pelo coletivo Dulcinéia Catadora. Em entrevista, Lúcia nos explicou que “Não teria cabimento subverter em todos os níveis e manter uma editoração tradicional. Pessoalmente, ainda acho que está tradicional demais. Precisamos ousar mais na editoração”. E na simplicidade se mostra uma motivação completamente estranha aos padrões de beleza límpidos. Também 1
Poema Cátia, p.8.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 192
lançam poemas de nomes como Manoel de Barros: “eles não se vêem participantes, foram convidados a colaborar inicialmente com o Eloísa. Dos autores citados, temos muito apoio de Glauco Mattoso. Depois de trabalharmos juntos na Bienal, combinamos que os textos de autores brasileiros seriam publicados no Brasil também. Glauco Mattoso nos deu outro livro, com 26 sonetos inéditos. Mandamos alguns livros para Manoel de Barros com as capas feitas por nós, e temos a notícia de que ficou muito emocionado. Ainda estamos tentando falar com Jorge Mautner. Um dia conseguiremos… E continuaremos fazendo o livro de Haroldo de Campos, uma ‘herança preciosa’”. Aqui no Brasil já é comum se ver intervenções urbanas. O Dulcinéia fez algumas e continuará atuando dessa forma. “O Eloísa também tem essa preocupação, tanto é que participou da 27a Bienal de São Paulo. E creio ser importante destacar que o próprio fazer dos livros constitui um processo de troca e interação denominado por Nicolas Bourriaud como Arte Relacional. Os livros são apenas o resultado desse fazer coletivo. Quanto aos intercâmbios, existe essa intenção; no ano passado, realizamos um trabalho conjunto com o Eloísa na Mostra Sesc de Arte (Circulações). Demos oficinas enquanto construíamos uma instalação, durante 20 dias. Fizemos um sarau também. Nesse convívio aproveitamos para trocar alguns títulos. Estive com Douglas Diegues, do Yi-yi Jambo em novembro do ano passado e confeccionamos dois livros dele. Com o Sarita, ainda não tivemos contato”, diz Lúcia. Os próximos lançamentos: “Haverá livros de pessoas de alguma forma marginalizadas e excluídas. Temos um livro de MaickNuclear, outro de Marcelo Ariel - ambos com uma condição de vida bastante precária - , e o primeiro livro nosso foi o Sarau, da Cooperifa (cooperativa de poetas da periferia). Ainda este ano pretendemos lançar um livro com escritos de pessoas com problemas mentais”. Os livros podem ser achados em cinco pontos de vendas na capital São Paulo, e em um situado em Santos. Os pontos na cidade de São Paulo são alternativos: Mercearia São Pedro, Galeria Vermelho, Sebo do Bac, o Espaço Plínio Marcos na feira da Benedito Calixto, que acontece aos sábados, e na própria oficina. Os livros pedidos por e-mail são enviados para outros Estados. Dulcinéia Catadora é um projeto de escultura social, isto é, a sociedade percebida como uma escultura que pode ser modelada para melhor. É, também, um coletivo que conta com a participação da artista plástica Lúcia Rosa, de catadores e de filhos de catadores de papelão, como Andréia, Marlon e Peterson, e de Carlos P. Rosa, Rodrigo Ciriaco, Flávio Amoreira e Douglas Diegues como colaboradores na seleção de textos e divulgação. Seu catálogo tem mais de 25 títulos, muitos deles de escritores bastante conhecidos, outros de autores novos, mas com obras de comprovado valor literário. Os autores dão autorização por escrito para a publicação de suas obras. Em contrapartida, recebem 5 livros de sua autoria. A oficina é um espaço aberto, um ponto de encontro: Rua Padre João Gonçalves, 100 – Vila Madalena – São Paulo – SP. E-mail: <dulcineia.catadora@gmail.com>. Contato: Lúcia Rosa.
* Mauro Luciano de Araújo é mestrando em Imagem e Som pela UFSCar. ** Josette Monzani é professora de cinema do Bacharelado e do Mestrado em Imagem e Som da UFSCar.
REVISTA OLHAR t ANO 11 t NO 20 t JAN-JUL 2009 193
PUBLICAÇÃO INSTRUÇÕES AOS AUTORES OLHAR é uma publicação do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Tem por objetivo sistematizar, no formato revista, a difusão de conhecimentos, pesquisas, debates e idéias nas áreas das Ciências Humanas e das Artes, gerando assim um canal de intercâmbio acadêmico e cultural. O texto submetido à OLHAR deve ser inédito, sendo vedada sua apresentação simultânea em outra publicação. Após seu envio, o material será analisado por membros do Conselho Consultivo do periódico e sua aceitação dependerá do julgamento realizado pelos pareceristas. Podem ser enviados em fluxo contínuo artigos científicos, capítulos e resumos de dissertações e teses, entrevistas, resenhas literárias e cinematográficas, além de produções artísticas tais como fotos, ilustrações, charges, poemas, contos etc. Os textos encaminhados ao Conselho Editorial da revista OLHAR para serem apreciados deverão estar de acordo com as atuais normas bibliográficas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e terem sido submetidos a uma rigorosa revisão textual, sob pena de não serem avaliados. Casos extraordinários serão resolvidos pelo Conselho Executivo do periódico.
ENVIO DE ORIGINAIS Os artigos deverão vir acompanhados de resumo sucinto e 3 palavras-chave, além de abstract e keywords. Os trabalhos devem ser encaminhados à Secretaria do Conselho Editorial da Revista OLHAR, em 2 (duas) vias impressas, acompanhadas de CD, pelo correio, ou, por meio eletrônico, para: REVISTA OLHAR A/C Conselho Editorial Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Rodovia Washigton Luís, km 235 CEP: 13565-905 São Carlos SP Tel.: (16) 3351-8495 e 3351-8351 Fax: (16) 3351-8353 E-mail: jmonzani@ufscar.br
RESPONSABILIDADE Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das referências bibliográficas, são de responsabilidade do(s) autor(es).
Endereço eletrônico: http://www.ufscar.br/~revistaolhar